BIANCA
CARLA DANTAS DE ARAÚJO
MODOS DE VIDA
E CONFORTO AMBIENTAL
Monografia apresentada a disciplina SAP 5846 Habitação, metrópoles e modos e vida,
ministrada pelo Prof. Dr. Marcelo Tramontano, do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da ESC/USP.
São Carlos/SP
Janeiro, 2006
1.
INTRODUÇÃO
No século XIX, a interpretação da
ação do ambiente sobre o homem ganha outros contornos: a consciência do
ambiente como uma totalidade ampla e complexa ganha força com o desenvolvimento
da medicina de inspiração científica, pelo esquadrinhamento do médico, sob o
signo da salubridade.
Até o final do século XIX, e até a terceira década do século
seguinte, a ventilação e a insolação – nem sempre em uma perspectiva conjunta –
estão fundamentalmente relacionados com a salubridade (SEGAWA, 2001). Nenhum
livro do século XIX sobre planejamento residencial estaria completo se não
tivesse pelo menos um capítulo dedicado ao tópico da ventilação e “aos
problemas do ar ruim” (RYBCZYNSKI, 1996).
Parece ter sido uma preocupação, a princípio, em manter o
nevoeiro e a fumaça da industrialização fora de casa. Depois, aparece como uma
obsessão por ar puro. A ventilação envolvia mais do que se livrar de cheiros
desagradáveis. Tipicamente, o século XIX havia abordado o problema do ar de
maneira científica: em um ambiente com muita gente, à medida que as pessoas
respiram, há a elevação do nível de dióxido de carbono, o que afetava o
conforto dos habitantes. A temperatura, a umidade relativa, a circulação de ar,
a ionização, a poeira e outros odores são fatores igualmente importantes. Se um
ambiente estiver muito quente ou muito frio, muito úmido, ou muito seco, ou
muito parado, e se estiver poeira ou cheiros, o desconforto ocorrerá muito
antes dos níveis insalubres de dióxido de carbono serem atingidos.
A
sociedade ocidental tinha uma atitude de distanciamento quanto à luz natural,
não havendo uma compreensão de sua importância para a saúde física ou mental. A
pele das pessoas não era “bronzeada; as mulheres utilizavam cosméticos e
sombrinhas para se proteger do sol; as janelas eram buracos nas paredes;
camadas de cortinas filtravam a luz do dia; havia pouca presença de luz natural
no ambiente interno”.
A
insolação vai ganhando importância; como terapêutica vai ganhando corpo no
discurso médico. Os engenheiros e arquitetos compartilham a prática salubrista
e colaboravam na vulgarização da chamada “questão de higiene pública e privada
moderna” derivada dos poderes bactericidas do sol como norteador dos códigos
sanitários de obra, impondo orientações para edifícios, aberturas de janelas e
tempos mínimos de insolação, caminhando para questões mais amplas como
orientação e dimensionamento de ruas e quarteirões, afastamentos mínimos,
altura dos prédios.
Percebe-se,
de uma forma geral, a grande preocupação e evolução dos ideais de controle e
melhor aproveitamento dos elementos norteadores do conforto principalmente
doméstico, quando tanto o Brasil como o Mundo se voltam para se evidenciar a
especificidade do enfrentamento humano com as condições climáticas adversas.
O Conforto ambiental envolve características próprias do clima
das regiões analisadas, bem como elementos específicos de comportamento dos
respectivos usuários que habitam nestas regiões climáticas. É necessário
incluir nos processos integrados de análise e avaliação dos conjuntos
habitacionais considerações metodológicas para esta área, integrando questões
ligadas à unidade habitacional e o setor urbano onde o conjunto habitacional
está implantado.
Tendo como
parâmetro as exigências dos usuários, é imprescindível um profundo e
completo estudo de indicadores e variáveis das condições de conforto ambiental
no tocante à iluminação, acústica e térmica
(MARTUCCI, 2005).
Entretanto, o conceito de habitabilidade, é amplo e, segundo Blachere (1978), expressa o conjunto de necessidades do
homem como ser vivo, inteligente e social. Desta forma, engloba as
necessidades fisiológicas, psicológicas e sociológicas no tocante ao edifício e em
particular a habitação.
O estudo das
condições de habitabilidade abrange as questões de segurança do usuário, de
higiene, de estanqueidade, de durabilidade e, principalmente, de conforto
ambiental (MARTUCCI, 2005), de forma a identificar os modos de vida e as
formas de habitar.
2.
OBJETIVOS
O objetivo precípuo proposto na
presente pesquisa é identificar como a questão do conforto ambiental pode
modificar os modos de vida da população com novas formas de morar.
A verificação de exemplos atuais
dos novos modos de vida norteados pela concepção do conforto ambiental,
procurando relacionar o uso do espaço doméstico e a configuração da edificação,
encontrados em exemplares de projetos protocolados em escritório de arquitetura
e conforto ambiental na cidade de Natal/RN; e a identificação dos aspectos do
conforto mais caracterizadores do processo, são os objetivos específicos da
investigação proposta.
3.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento da pesquisa foi
proposta a análise de projetos
protocolados em um escritório de arquitetura e consultoria em conforto
ambiental na cidade de Natal/RN, buscando verificar se foram identificadas
modificações de modos de vida norteadas pelo conforto ambiental.
Das habitações atuais que
possuem modificações de configurações espaciais e funcionais em detrimento do
conforto ambiental, procurou-se verificar como este processo tem influenciado
os modos de vida atuais dos usuários, através dos estudos das plantas das habitações,
assim como conversas informais com os proprietários, procurando verificar a
relação do uso do espaço
doméstico e a configuração da edificação.
Para identificação da amostra
analisada foram identificados nos projetos do escritório citado, nos últimos
dois anos, aqueles que:
- Eram
referentes a habitações (casas ou apartamentos);
- Faziam parte
do universo dos projetos de consultoria de conforto ambiental (térmico,
acústico e luminoso);
- Tinha-se
acesso aos proprietários e a edificação.
Foram identificados no escritório dez
projetos de consultoria em conforto ambiental em habitações, no período
analisado, com as características descritas acima e que foram desenvolvidos e
aplicados. Deste universo foram escolhidos dois exemplares para análise e
discussão dos modos de vida atuais.
Nas
plantas das habitações analisadas foram identificadas as variáveis relacionadas
à:
- Planta
original;
- Planta da
reforma executada;
- Disposição e
uso dado aos cômodos;
Em relação aos proprietários
foram verificadas as relações destes com a habitação através de questionamentos
relacionados à:
- Quantas
pessoas habitam o espaço;
- Como cada
usuário utiliza os cômodos;
- O motivo da
reforma.
4.
RELAÇÕES DE CONFORTO AMBIENTAL
4.1
Arquitetura bioclimática
Na arquitetura bioclimática um dos
condicionantes da edificação é o clima. A adequação ao tipo de clima a que esta
é submetida se justifica na busca pelo conforto ambiental dos usuários.
Relaciona iluminação, ventilação, conforto higro-térmico, aberturas, além do
conforto acústico.
A importância da luz para a vida
humana é o fator determinante para se relacionar mais intimamente a Arquitetura
e a Iluminação. É no passado que encontramos a relação entre forma e clima e,
portanto, do tratamento da luz como elemento criador do espaço (SOLANO, 2001,
p.28).
Na arquitetura clássica tem-se para os climas tropicais quente e
seco, a luz como algo precioso e também perigoso. Devido às altas temperaturas
e excesso de claridade, percebem-se nas edificações dessa época pequenas e bem
localizadas aberturas que controlavam uma luz filtrada, servindo de elementos
de controle da iluminação. Nos climas tropicais quente e úmido essas aberturas
passam a ser mais generosas e mais presentes, funcionando como elemento de
controle da ventilação e do conforto térmico dos espaços. Já nos climas
temperados, quanto mais para o norte maior o número de aberturas, enquanto que
nos climas frios tinha-se a necessidade de ganho de calor. As janelas, como se
pode perceber são os elementos determinantes na caracterização da forma de um
edifício, e mais ainda da estreita relação existente entre arquitetura e clima.
“Até certo
ponto pode-se considerar a vida civilizada como uma luta contra o clima, nas
latitudes altas, não só contra o frio excessivo no inverno, mas também contra o
calor demasiado do verão, e nas latitudes baixas contra o último” (SEGAWA,
2001, apud., SCHREINER, 1878, p.87).
No Brasil, o clima foi e é também
um condicionante dos diversos tipos de habitações que tivemos aqui. Exemplo
claro disto é a arquitetura do norte-nordeste do Brasil que num clima quente e
úmido tropical, adapta a casa, essencialmente urbana, ao clima, eliminando as
paredes internas até o teto, adotando duas águas de palha ou de telha de barro,
casas estas essencialmente abertas, voltadas para o quintal, com os ambientes
principais arejados.
No século XIX, a interpretação da
ação do ambiente sobre o homem ganha outros contornos: o determinismo climático
não mais constituía uma perspectiva incondicional, mas enxergava-se um viés
“possibilista”, no qual se vislumbrava uma interação menos absoluta e submissa
entre o ambiente e os humanos. A consciência do ambiente como uma totalidade
ampla e complexa ganha força com o desenvolvimento da medicina de inspiração
científica surgida com a Revolução Francesa, pelo esquadrinhamento do médico,
sob o signo da salubridade.
Até o final do século XIX, e até a terceira década do século
seguinte, a ventilação e a insolação – nem sempre numa perspectiva conjunta –
estarão fundamentalmente relacionados com a salubridade (SEGAWA, 2001).
Nenhum livro do século XIX sobre planejamento residencial
estaria completo se não tivesse pelo menos um capítulo dedicado ao tópico da
ventilação e “aos problemas do ar ruim” (RYBCZYNSKI, 1996).
Parece ter sido uma preocupação, à princípio, em manter o
nevoeiro e a fumaça da industrialização fora de casa. Depois, aparece como uma
obsessão por ar puro. A ventilação envolvia mais do que se livrar de cheiros
desagradáveis. Tipicamente, o século XIX havia abordado o problema do ar de
maneira científica: em um ambiente com muita gente, à medida que as pessoas
respiram, há a elevação do nível de dióxido de carbono, o que afetava o
conforto dos habitantes. Sabe-se hoje em dia, que esta teoria estava errada,
apesar do seu princípio não. A temperatura, a umidade relativa, a circulação de
ar, a ionização, a poeira e outros odores são fatores igualmente importantes.
Se um ambiente estiver muito quente ou muito frio, muito úmido, ou muito seco,
ou muito parado, e se estiver poeira ou cheiros, o desconforto ocorrerá muito
antes dos níveis insalubres de dióxido de carbono serem atingidos.
Houve uma outra teoria científica que contribuiu para deixar as
pessoas alarmadas diante do “ar viciado”. A urbanização e a superpopulação do
século XIX provocaram muitas epidemias. Isto coincidiu com o progresso da
ciência e da pesquisa médica rudimentar, que tentaram encontrar explicações.
Acreditava-se que diversas doenças fossem provocadas por substâncias e
impurezas do ar. Assim a teoria miasmática tornava o ar fresco um caso não só
de desconforto, mas de vida e morte, e como os defensores da ventilação
sustentavam seus a conscientização pública aumentou consideravelmente.
O engenheiro-arquiteto alemão, Luiz Schreiner, formado na Real
Academia de Belas-Artes de Berlim e ativo no Rio de Janeiro, em sua obra
editada no Brasil em 1878, voltada às questões de ventilação e iluminação,
referenciava a salubridade:
“Os médicos e os sábios, de
há muito, procuraram conhecer as causas das epidemias. Uns achavam-nas nos
miasmas provenientes, quem sabe de onde, outros falam de cloacas, esgotos, etc,
etc. Nós dizemos: ‘para que procurar tão longe?’ Principiemos de mais perto,
pelo nosso dormitório, examinemos o estado de nossa casa, as condições
higiênicas de nossa habitação. No verão, sobretudo sentimos falta de ar nas
casas e, para aliviarmo-nos, abrimos as janelas e as portas, crendo estabelecer
uma ventilação completa, porém o que conseguimos procedendo desse modo? Expomos
nosso corpo a uma correnteza de ar e abrimos as portas todas as enfermidades!
Em regra geral os dormitórios se encontravam em alcovas, que recebem a luz e o
ar indiretamente de outros quartos; que nestas alcovas o ar sempre esteja
viciado é natural, portanto ai vamos encontrar os verdadeiros focos de infecção
para alimentar qualquer epidemia.” (SEGAWA, 2001, apud., SCHREINER, 1878, p.4)
Percebe-se neste momento que o ar era vetor
de insalubridade. Os códigos sanitários no século XIX eram claros em ralação à
regar da “cubação de ar”, onde os três elementos de ventilação revelavam,
segundo citação de Segawa (2001) apud Schreiner (1878):
“Cubação elevada, para
armazenar maior volume de ar; como conseqüência;
1 – Pé-direito alto, por
exigir muito terreno uma superfície grande bastante para um mesmo cubo com
pouca altura; e como corolário;
2 – Área qualquer, a
suficiente apenas para, por diferenças de temperatura e densidade, renovar o ar
‘viciado’.”
Em seguida, já nos primeiros momentos do
século XX, orientados cientificamente, segundo citação de Segawa (2001) apud
Schreiner (1878), os códigos foram modificados, seguindo a mudança de
comportamento e ideários da vida urbana:
“1 – Cubação qualquer –
desde que o ar possa penetrar em movimento e “circular” pelo interior da casa
entre a frente e fundo;
(...)
3 – Pé-direito qualquer –
determinado de preferência pela iluminação, admitindo-se que se lê
perfeitamente no fundo de um cômodo distante da janela o dobro da altura (com
condição, claro está, que a rua ou a área correspondente sejam claras);
4 – Área ampla proporcionada à
altura das paredes que contornem, a fim de que o ar não fique “estagnado” mas a
percorra sem cessar de um topo a outro.”
Desta forma, em fins do século XIX e início
do século XX, percebe-se a importância primordial da ventilação, e iluminação,
por conseguinte, para evitar as doenças e assegurar-se as condições
fisiológicas da respiração e da refrigeração do corpo. Estas condicionantes
revelam as modificações e direcionamentos dos espaços internos de forma adequar
as melhores condições de saúde e conforto.
A iluminação natural, ou melhor a insolação,
segundo citação de Segawa (2001) apud Schreiner (1878), aliada ao ar são a base
para o bem estar. O sol, por sua vez se torna protagonista do salubrismo,
quando em 1904, na revisão do código sanitário de São Paulo, Victor da Silva
Freire, defendia que:
“(...) tendo em conta a
climatologia geral do Estado, com seu elevadíssimo grau de umidade do ar (...)
a orientação dos prédios será de tal que assegure uma insolação de três a
quatro horas por dia, no mínimo.” (SEGAWA, 2001, apud, FREIRE, 1904)
A
insolação a partir daí vai ganhando importância, uma vez que no século XIX, a
sociedade ocidental tinha uma atitude de distanciamento quanto à luz natural,
não havendo uma compreensão de sua importância para a saúde física ou mental. A
pele das pessoas não era “bronzeada; as mulheres utilizavam cosméticos e
sombrinhas para se proteger do sol; as janelas eram buracos nas paredes;
camadas de cortinas filtravam a luz do dia; havia pouca presença de luz natural
no ambiente interno”. (SZABO, 2001)
Essa
importância reflete-se entre as conclusões do III Congresso Internacional de
Saneamento e Salubridade da Habitação em Dresden, 1911:
“A importância da ação direta dos raios do sol é fundamental na
construção das cidades. O espectro solar revelou-se nos raios ultravioletas
como sendo microbicidas por excelência. Todos os micróbios sem exceção são
aniquilados pelos raios de sol. Ora, é incontestável que o sol tem sido
esquecido nos nossos planos de cidades; é esse um ponto fundamental, que
necessita reforma profunda nos nossos hábitos.” (SEGAWA, 2001, apud., FREIRE,
1916)
A
insolação como profilaxia, como terapêutica, vai ganhando corpo no discurso
médico. Os engenheiros e arquitetos compartilham a prática salubrista e
colaboravam na vulgarização da chamada “questão de higiene pública e privada
moderna” derivada dos poderes bactericidas do sol como norteador dos códigos
sanitários de obra, impondo orientações para edifícios, aberturas de janelas e
tempos mínimos de insolação, caminhando para questões mais amplas como
orientação e dimensionamento de ruas e quarteirões, afastamentos mínimos,
altura dos prédios.
O
sol excessivo no interior das habitações foi uma preocupação que surgiu depois
com a introdução dos estudos do engenheiro paulista Heitor de Souza Pinheiro.
Esse novo ponto de vista surgiu aliado aos estudos do também engenheiro carioca
Paulo Sá, pioneiro nas questões de conforto térmico no Brasil, a respeito
declarava que:
“ (...) Ora a fixação de um
mínimo correspondente a admitir que em nosso país a ação é tanto mais benéfica
quanto mais prolongada. Não o será, com certeza, pelo efeito térmico: já que no
Brasil (na parte tropical do país) há calor em excesso e o objetivo será sempre
diminuí-lo quanto se possa. (...) Quanto à ação luminosa já mostramos em outro
trabalho que os iluminamentos habituais são aqui antes excessivos do que
deficientes: e não há, em regra, qualquer perigo de que flate iluminação solar
(a não ser em casos excepcionais, como por exemplo em prédios muito altos com
as passagens absurdamente estritas que entre eles se permitem).” (SEGAWA, 2001,
apud., SÁ , 1942, P. 9-10)
Percebe-se, de uma forma geral, a grande preocupação e evolução
dos ideais de controle e melhor aproveitamento dos elementos norteadores do
conforto principalmente doméstico, quando tanto o Brasil como o Mundo se voltam
para se evidenciar a especificidade do enfrentamento humano com as condições
climáticas adversas como matéria cientificamente sistematizada em resposta à
problematização posta pelo colonialismo (no Brasil) e pelo salubrismo.
As questões acima descritas são controladas e orientadas através
da janela, que se apresenta como um elemento imprescindível de ser
analisado.
Um ponto digno de atenção é o que se refere à relação dos vãos
com parede. Nas casas mais antigas, presumivelmente nas dos fins do século XVI
e durante todo o século XVII, os cheios teriam predominado; a medida, porém que
a vida se tornava mais fácil e mais policiada, o número de janelas ia
aumentando; já no século XVIII cheios e vazios se equilibravam, no começo do
século XIX, predominavam francamente os vãos. De 1850 em diante as ombreiras
quase se tocavam, até que a fachada, depois de 1900 se apresenta praticamente
toda aberta, tendo os vãos, muitas vezes, ombreira com. Nesse processo de
desenvolvimento da janela a medida em que o número de janelas aumentava, se
tornava símbolo de “status” (VIANNA, 2001).
A partir da segunda metade do século XIX, com a importação de
técnicas mais avançadas de construção, a iluminação sofreu mudanças muito
grandes tanto em relação a iluminação natural como também em relação à natural,
pela possibilidade de aberturas de maiores vãos – com a utilização de vigas
metálicas – possibilitando-se assim um espaçamento maior dos vãos e também a
utilização em larga escala de novos materiais.
A
inserção da configuração da janela como elemento determinante das
características climáticas do edifício, com sua significante contribuição para
o controle do conforto térmico e de ventilação do espaço, foi apoiada pela
idéia, em meados do século XIX, de servir também de elemento de ligação do meio
externo com o interior da habitação, mantendo o contato visual durante o dia e
a noite. Essa função da janela passa a ser muito importante, tendo como
conseqüência a criação de jardins laterais. Percebe-se, a partir daí, a
libertação da Arquitetura em relação aos limites do lote, uniformidade dos
esquemas dos edifícios, que fora o traço marcante da fase colonial.
Outras
visões das funções das janelas são estabelecidas por Alexandre de Albuquerque,
em fins do século XIX e início do século XX, onde estabelece:
“Dividiremos o presente
estudo em duas partes: na primeira, examinaremos a janela como fonte de calor,
permitindo o assoalhamento interno dos aposentos, e na segunda será considerada
como fonte de luz” (SEGAWA, 2001, apud., ALBUQUERQUE, 1917, p.11)
Mais tarde, a outra visão de
Aluízio Coutinho, já nas primeiras décadas do século XX, denotam a abertura com
outro sentido:
“Uma janela, porém, não é
uma simples solução de continuidade. Consiste também nos dispositivos
controladores como as vidraças, persianas, etc., que regulam a maior ou menor
iluminação, ou ventilação ministrada. Estes elementos da janela devem merecer
um estudo detalhado até o estabelecimento de modelos definitivos, cuja produção
possa ser empreendida em série.” (SEGAWA, 2001, apud., COUTINHO, 1930, p.58)
Evidencia-se
que para Albuquerque, a janela é um fundamento higienista, no qual a insolação
tem dupla função e deve responder ao preceito salubrista; para Coutinho, o vão
é responsável por múltiplas funções contemplando o conforto ambiental, que necessita
de um projeto racional passível de serialização. (SEGAWA, 2001)
Os
elementos da janela citados por Coutinho possuem uma importância significativa
no controle do conforto ambiental dos edifícios. As primeiras venezianas
surgiram nos dormitórios. Eram compostas de régua largas e substituíram as
vidraças como vedação externa. Em alguns casos deixavam aberta, na parte
superior, uma bandeira de vidro; na maioria dos casos, porém, cobriam o vão
inteiramente, preparando dessa forma o desaparecimento das bandeiras. (VIANNA,
2001)
4.2
Conforto Ambiental e Habitação
De acordo com Matucci e Basso (2005), “a casa é a casca protetora, é o invólucro que divide, tanto espaços
internos como espaços externos. É o ente físico”. Os processos construtivos são
utilizados, com suas respectivas técnicas e tecnologias, para a construção da
casa. É aqui que aparecem as inovações tecnológicas e organizacionais do ponto
de vista dos projetos e produção do produto casa.
Quanto à moradia, possui uma ligação mais forte com os elementos que fazem
a casa funcionar, ou seja, a
moradia leva em consideração os “hábitos
de uso da casa”. “Uma casa por si só não se caracteriza como moradia.
Ela necessita, para tal, se identificar com o “modo de vida” dos usuários nos seus aspectos mais amplos. Uma
constatação disto se registra quando analisamos o uso de uma mesma casa, ao
longo do tempo, por famílias ou pessoas diferentes” (MATUCCI, BASSO, 2005). Os
mesmos elementos, ou seja, as casas, se transformam em moradias diferentes, com
características diferentes, cujos hábitos de uso dos usuários são a tônica da mudança.
Com relação à habitação,
Matucci e Basso (2005) reportam aos elementos que caracterizam tanto a casa quanto a moradia. Entretanto, não mais de uma forma introspectiva, isolada em
um lote e/ou gleba, mas sim com um sentido mais amplo.
“Temos que considerá-la e analisá-la,
trabalhando através do conceito de “habitat”,
integrando o interno com o externo, ou seja, pautando-nos em elementos que se
relacionam com a vida das pessoas e suas respectivas relações sociais,
políticas, econômicas, históricas, ideológicas, etc.. Devemos, portanto,
entender, do ponto de vista conceitual, a habitação como sendo a casa
e a moradia integradas ao
espaço urbano com todos os elementos que este espaço urbano possa oferecer.” (MATUCCI, BASSSO, p.5, 2005)
A habitação está
ligada diretamente à estrutura urbana
através da infraestrutura instalada e da rede de serviços urbanos.
Portanto, a habitação depende
das características de localização em
relação à estrutura urbana na qual esta inserida, ou seja, quanto mais bem
equipado estiver o setor urbano, no qual estiver localizada a casa, melhor serão as condições de uso
da moradia, qualificando,
portanto o produto habitação.
Segundo Correia (1999), a moradia,
no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, assumiu diferentes sentidos
que contribuíram para o desenho de formas e modos de morar atuais. Um destes
sentidos é a casa como espaço sanitário, sendo a base para a difusão de
mecanismos disciplinares no âmbito doméstico.
A preocupação com a casa
insalubre do pobre trouxe esse novo sentido doméstico, somado à função de
abrigo, procurando aplicar o conceito de espaço confortável, privado, seguindo
normas de higiene e regulação. A principal modificação da casa, no entanto se
deu em seu interior (CORREIA, 1999, p. 3).
Em busca de uma salubridade e
privacidade, criaram-se áreas internas, recuos laterais e jardins (vistos com
valor higiênico – face ao efeito purificador do ar), permitindo a abertura de
janelas laterais, afastando a casa da rua e do vizinho, considerando a
habitação isolada no lote como ideal. Modificações que por sua vez, “(...)
segundo uma racionalidade nova, modifica seu projeto e seu uso, separando e
classificando função, ordenando, clareando, iluminando e arejando ambientes”
(CORREIA, 1999, p. 3).
O vidro plano transparente para
as janelas alterou o comportamento em relação à iluminação natural, além dos
preceitos higienistas buscando eliminar a umidade dos ambientes e arejá-los.
Desta forma, abriram-se os quartos com janelas que permitissem a renovação do
ar e a penetração da iluminação natural, usando nas mesmas venezianas, vidros,
como já mencionado, os gradis e as persianas. O uso de forros perfurados de
saídas de ar no telhado, através de lanternas, chaminés e clarabóias também
foram incorporados.
Os equipamentos de iluminação artificial
tiveram rápido avanço, desde os modernos lampiões de mecha circular às lâmpadas
incandescentes. Era possível fazer à noite a chamada tertúlia, quando todos se
sentavam ao redor da mesa para comer e depois jogar, conversar ou ler (LEMOS,
1996). Assim, o programa de necessidades também se adaptou à novidade. Pessoas
alheias à unidade familiar – que antes não passavam da sala de visitas –
começaram a participar das programações familiares concentradas na sala de
jantar, as chamadas varandas.
Se por um lado houve melhoria na qualidade acústica residencial,
com a divisão mais funcional dos cômodos e no descolamento dos limites do
lotes, nesse momento, também, as construções ficaram mais leves e com mais
aberturas, tornando-se mais permeáveis ao ruído.
A história da arquitetura apresenta um panorama de variadas
inovações tecnológicas nas construções de diversos povos no mundo. No entanto,
em certo ponto da história, o avanço da tecnologia começou a significar uma
constante regressão na eficiência do isolamento acústico das edificações
(DUARTE, 2005).
É de se destacar que a arquitetura contemporânea convive com
rápidas e significativas mudanças, em diversas áreas, se comparada com outros
momentos na história. Observa-se que houve significativa melhoria na maioria
das condicionantes relacionados ao conforto, bem como quanto ao desempenho
energético. Entretanto, segundo Duarte (2005), não se percebe o mesmo ao focar-se
o conforto acústico oferecido pelas edificações. À medida que as construções
foram ficando mais permeáveis ao som, simultaneamente o nível de ruído
ambiental foi crescendo de forma exponencial, deteriorando a qualidade de vida
das populações (Figura 1).

Figura 1 – Esquema que ilustra o paralelo entre os momentos históricos e
a qualidade acústica.
Fonte: DUARTE (2005).
As conseqüências do ruído para a saúde humana são diversas e vão
além da perda da audição propriamente dita, podem conduzir o sujeito a
nervosismo, fadiga mental, frustração e prejuízo na produtividade.
5.
CONFORTO AMBIENTAL E MODOS DE VIDA
5.1
Conforto Ambiental: Conceitos
As
modificações na habitação em detrimento do conforto ambiental representam o
atendimento das necessidades para uma adequada condição de iluminação, de
trocas térmicas e de ambiente acústico.
O Conforto luminoso, de uma forma geral, expressa a exigência do
usuário com relação a situação em que o mesmo pode desenvolver suas atividades
sem despender de um esforço visual excessivo e livre de obscurecimento. Para o
desempenho de qualquer tarefa há necessidade de que o campo onde será realizada
a mesma e seu entorno imediato recebam uma certa quantidade de luz. Esta
quantidade de luz pode ser fornecida por uma fonte natural ou por uma fonte
artificial (MATUCCI, BASSO, 2005).
A verificação das condições térmicas das habitações avalia o
atendimento às exigências dos usuários no tocante a situação em que o usuário
está em equilíbrio térmico com o ambiente – conforto térmico. Este equilíbrio
pode ser caracterizado como a situação onde o usuário troca calor com o meio
ambiente naturalmente sem haver um estresse orgânico. Os comportamentos
térmicos do edifício, o clima do local e as atividades desenvolvidas pelos
usuários são variáveis que obrigatoriamente devem ser levadas em conta nesta
análise (MATUCCI, BASSO, 2005).
O conforto acústico no espaço construído pode ser definido como
a condição em que o usuário não tenha perda da inteligibilidade da palavra e
garantia de um repouso dentro de condições ideais. Outro aspecto que pode ser
considerado na conceituação de conforto acústico é a questão da segurança e da
integridade do sistema auditivo. A segurança é caracterizada pela capacidade do
usuário de um espaço em poder identificar os sinais sonoros de alerta ou
perigo. A integridade do sistema auditivo caracteriza as condições de exposição
ao ruído que não cause uma perda da audição (MATUCCI, BASSO, 2005).
5.2
Modos de vida: exemplos
A partir dos conceitos
explanados, são analisados exemplares de projetos arquitetônicos na área de
consultoria em conforto ambiental de um escritório de arquitetura a fim de
identificar quais são as modificações promovidas nos modos de vida atuais em
detrimento de uma qualidade de vida, aqui entendida como exigências de
conforto.
A partir de estudo no acervo dos
projetos do escritório, foram selecionadas duas habitações que serão descritas
e analisadas a seguir:
a) Habitação 01
Esta moradia – apartamento - é habitada
por um casal de classe média “média”[1],
recém casado, que utiliza a casa como local de descanso, trabalho e lazer
(receber amigos). A rotina é caracterizada por uma definição de atividades
condicionadas aos horários do marido que trabalha fora. A esposa (que possui
nível superior como o marido, ela é advogada e ele publicitário) estuda para
concursos em casa e coordena as atividades da diarista dos trabalhos domésticos
do dia a dia.
O programa original do
apartamento é constituído de: sala de estar, jantar, varanda, cozinha, área de
serviço, banheiro de serviço, dependência de empregada, lavabo, duas
semi-suítes com um banheiro servindo às mesmas, e suíte máster com closet.
Uma reforma realizada antes de o
casal ir morar no apartamento, o qual é imóvel próprio destes, eliminou a
dependência de empregada substituindo-a por um escritório para o marido. A
varanda fora incorporada à sala de estar. No banheiro da suíte máster foi
introduzida uma banheira para uso fisioterapêutico da esposa que possui problemas
na coluna (Figura 2).
Em relação aos usos dos espaços,
o primeiro quarto semi-suíte passou a ser utilizado como escritório para a
esposa; a segunda semi-suíte como quarto de descanso para a mesma – com uma
cama de casal para consultas de fisioterapia; a varanda fora incorporada à sala
de estar para criar um espaço mais amplo quando o casal recebe amigos.
Essa nova configuração espacial
definida pelos usuários da habitação, foi adequada buscando estabelecer uma
qualidade de vida relacionada ao conforto acústico. Como a esposa estuda para
concursos e possui problemas de saúde, necessita de um ambiente calmo,
silencioso, tranqüilo e relaxante. Procura evitar ruído a qualquer custo. Desta
forma foi utilizado seu escritório separado do esposo, pois ela necessita de
bastante concentração, assim como um quarto isolado de descanso e atividades
específicas.
Algumas modificações técnicas
foram impressas sobremaneira que garantem às exigências de conforto acústico. A
parede divisória com o apartamento vizinho foi revestida com material isolante
para garantir a minimização do ruído proveniente do entorno imediato. A parede
divisória da sala com o escritório da esposa (onde se localiza a televisão da
sala) foi construída com material isolante em seu interior; assim como a parede
divisória do quarto de descanso da esposa e a suíte máster, uma vez que a
televisão da suíte máster é utilizada nesta parede.
As janelas do escritório da
esposa e da suíte máster foram duplicadas com vidros e esquadrias especiais a
fim de isolar o ruído externo (proveniente da área de lazer do condomínio). O
teto destes dois ambientes foram rebaixados com forro acústico para ajudar na
absorção sonora, de forma a promover um ambiente, além de sem ruído, com o som
se propagando de maneira equilibrada. A porta de entrada do apartamento, a
porta do escritório da esposa e da suíte máster foram projetadas com material
isolante, inclusive com mecanismos para evitar brechas, por onde o ruído possa
vazar (Figura 3).
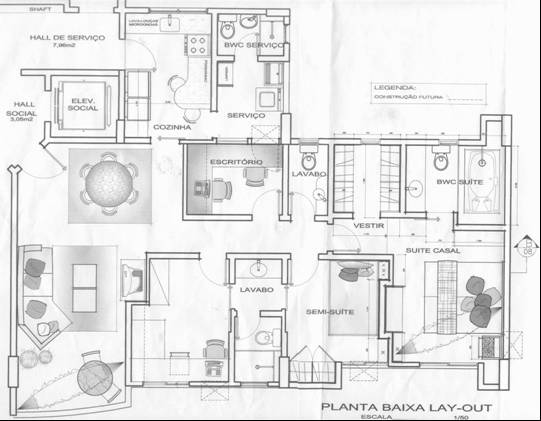
Figura 2 – Croqui do projeto reformado do
apartamento, com os novos usos do espaço.
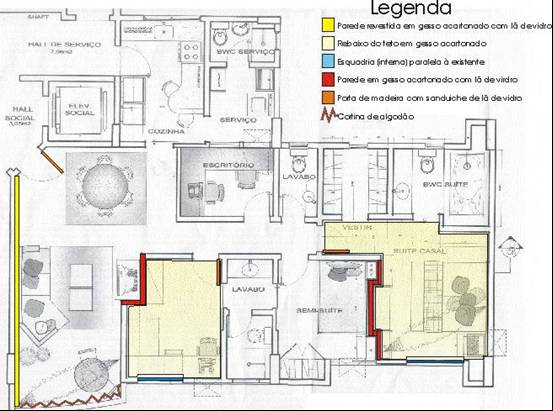
Figura 3 – Croqui do projeto de tratamento acústico
dos ambientes do apartamento.
b) Habitação 02
Nesta
habitação o usuário é um jovem de classe alta que mora sozinho. Utiliza a
moradia para descanso e lazer (receber amigos). A rotina é caracterizada pela
não regularidade de atividades, pois como o proprietário do apartamento é
prefeito de um município, costuma viajar e não possui horários definidos para
desempenhar as atividades domésticas. Geralmente faz pelo menos uma refeição em
casa, as demais são em restaurantes ou na casa da mãe. Possui uma diarista que
costuma deixar tudo preparado (refeições) caso o proprietário apareça. Nas
noites costuma organizar festas e receber amigos.
O
programa original do apartamento é constituído de: sala de estar, jantar,
cozinha com despensa, área de serviço, dependência de empregada, banheiro de
empregada, lavabo, estar íntimo, duas suítes, suíte máster com closet e
varanda.
Uma reforma realizada antes de o
proprietário ir morar no apartamento, o qual é imóvel próprio deste, eliminou a
despesa e o lavabo, assim como a primeira suíte (somente o quarto, pois o
banheiro desta passou a funcionar como lavabo), a qual passou a ser a sala de
jantar. O estar íntimo foi substituído pelo closet da suíte máster, e o closet
da mesma que existia na planta original, foi utilizado para aumentar a área do
banheiro. A sala de jantar original deu lugar ao novo ambiente do apartamento -
o home theater (Figura 4).
A priorização do espaço amplo da
sala que integra a sala de estar, o home
theater, e a sala de jantar, foi criada em detrimento da necessidade de um
local para receber os amigos e que não interferisse no funcionamento do
restante da habitação. Desta forma, foi estudado um projeto que adequasse o uso
do espaço e o conforto ambiental, contando com isolamento do ruído proveniente
do som do home theater. Isolamento
tanto para os vizinhos dos apartamentos laterais, de cima e inferior, quanto
para os próprios cômodos (preocupação principal quando a mãe vai se hospedar no
apartamento).
Foi construída uma câmara de
isolamento constituída por uma porta de entrada completamente isolada, paredes
revestidas com material isolante e de acabamento, piso flutuante com material
isolante, teto com forro acústico e material isolante, janela dupla com
esquadria especial, caixas acústicas de isolamento nas luminárias. As portas da
cozinha, do hall dos quartos e do lavabo, assim como a janela do lavabo tiveram
atenção especial de sistemas de isolamento sonoro (Figura 5). O sistema
projetado atende a níveis de ruído bastante alto; configuração que o
proprietário aprecia ao utilizar o espaço.
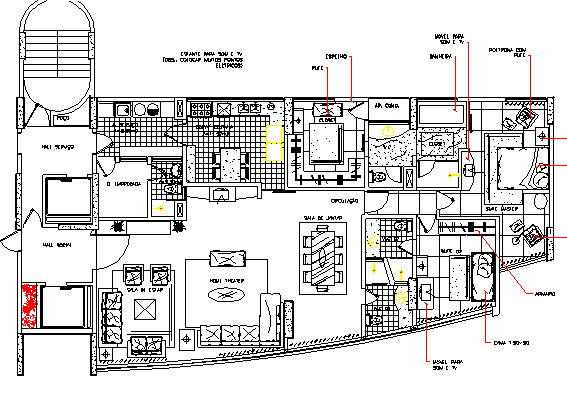 Figura 4 – Croqui do projeto reformado do apartamento, com os novos usos
do espaço.
Figura 4 – Croqui do projeto reformado do apartamento, com os novos usos
do espaço.
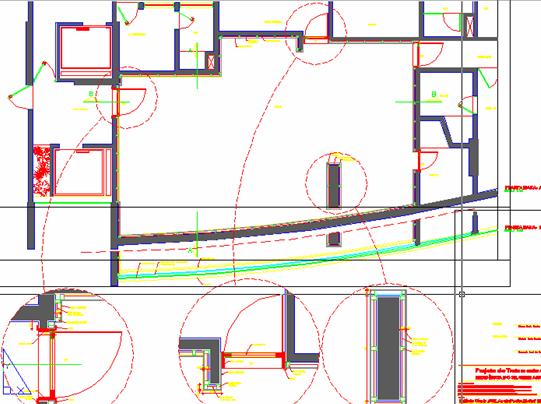
Figura 5 – Croqui do projeto de tratamento acústico
do apartamento.
6.
CONCLUSÕES
Os modos de vida analisados são
caracterizados como novas formas de morar quando se identifica novos usos aos
ambientes na habitação, como escritório separado para o marido e a esposa,
ambiente próprio para descanso e relaxamento, eliminação de quarto para
priorizar ambiente amplo para receber amigos, introdução de home theater, além da eliminação da
dependência de empregada.
O uso predominante para estudo é
um determinante da adequação da habitação para o conforto acústico, como pode
ser observado na habitação 1, quando grande parte dos ambientes são compostos
com elementos que priorizam o isolamento de ruídos indesejados.
Na habitação 2 a prioridade de
compor o ambiente baseado no conforto acústico, que segue a mesma concepção da
habitação 1, porém com mais detalhes e técnicas, devido ao uso do ambiente com
produção de ruído demasiada. O cuidado com o planejamento desde a escolha dos
materiais, ao sistema de isolamento, quanto à escolha do ambiente na própria
edificação.
A forma como a habitação responde
às questões de conforto acústico e como os modos de morar são influenciados por
esta problemática foram os fatores observados no presente estudo.
7.
BIBLIOGRAFIA
BEGUIN, François. As Maquinarias inglesas do
Conforto. Espaços e Debates. São
Paulo, N. 34: 39-54, 1991.
BLACHERE, G. Saber Construir:
habitabilidad, durabilid, economia de los edifícios. Barcelona: Técnicos
Asociados, 1978.
BRESCIANI, Maria Stella M. Metrópolis: as
faces do monstro urbano (as cidades do século XIX). Revista Brasileira de História. São Paulo, N. 8 e 9:35-68, 1985.
CORREIA, Telma de Barros. A casa: do abrigo à
máquina de morar. Estudos e Debates. Rio
de Janeiro, N. 38, 1999.
DUARTE,
Elisabeth Albuquerque Cavalcanti. Estudo do Isolamento Acústico das Paredes
de Vedação da Moradia Brasileira ao Longo da História. Dissertação (Mestrado) – Universidade
Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, SC. 2005.
EDUARDO, Anna Raquel Baracho. Do Higienismo ao Saneamento: As
modificações do Espaço Físico de Natal 1850-1935. Natal, 2000. Monografia (Graduação em
Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.
EDUARDO,
Anna Raquel Baracho at al. Conforto
no Ambiente Construído: origens e princípios (o caso de Natal – RN). In:
ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 2001, São Pedro. Anais eletrônicos... São Pedro: ENCAC,
2001.
LEMOS, Carlos. História da Casa Brasileira. São Paulo, Conexto, 1996.
MARTUCCI R.,
BASSO, A. Uma visão integrada da análise e avaliação de conjuntos
habitacionais: aspectos metodológicos da pós-ocupação e do desempenho tecnológico.
Disponível em: www.habitare.org.br/pdf/publicacoes/arquivos/88.pdf.
Acesso em: 20 dez. 2005.
PERROT, Michelle. Maneiras de morar. In: História da vida privada, IV. São Paulo,
Companhia das Letras, 1991. P. 307-323.
RYBCZYNSKI,
Wiltold. Casa: pequena história de uma idéia. Rio de Janeiro, Record, 1996.
SEGAWA, Hugo. Clave de Sol. In: ENCONTRO
NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 2001, São Pedro. Anais eletrônicos... São Pedro: ENCAC,
2001.
TRAMONTANO, M. (1998) Paris-São Paulo-Tokyo: novos
modos de vida, novos espaços de morar. Tese de Doutorado. São
Paulo: FAUUSP, p. 40-41.
TRAMONTANO,
M. Vozes
distantes: organização e sociabilidade em comunidades informatizadas.
In: SILVEIRA,
S. A., CASSINO, J. Software livre e inclusão digital. São Paulo:
Conrad, 2003. p. 113-133.