Escola de
Engenharia de São Carlos . Departamento de Arquitetura . EESC / USP
Monografia
apresentada à disciplina:
SAP 5846 – Habitação, Metrópoles e Modos de Vida
Docente
responsável: Profº. Drº. Marcelo C. Tramontano
Janeiro – 2006
Aluno Especial:
Marcus Cley S. Rosa Nº USP: 5531735
Tema: “A habitação modernista paulistana:
projetos e realizações”
Sub-Tema: A primeira modernização de Artigas.
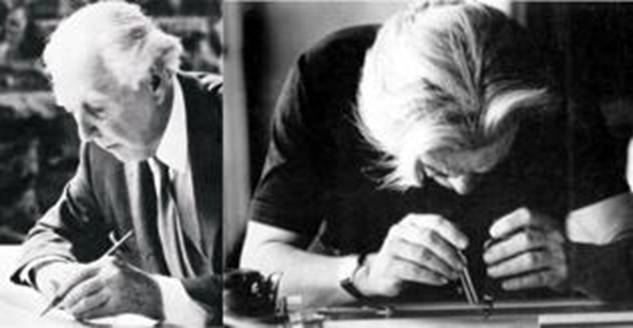
“O pensamento nasce da ação e, num espírito sadio,
volta para a ação”
Paul Langevin
Sumário
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introdução................................................................................................................... 1
Incursão
ao universo de
Wright.................................................................................. 3
A
casinha.................................................................................................................... 7
Conclusão................................................................................................................... 10
Bibliografia.................................................................................................................. 11
Introdução
O paranaense João Batista
Vilanova Artigas graduou-se Engenheiro-Arquiteto pela Escola Politécnica de São
Paulo em 1937, neste período a capital paulista já era o centro econômico do
país e seu processo de industrialização se intensificava de uma forma
vertiginosa conjuntamente com o seu território urbano e populacional. O Brasil vivia sobre o regime ditatorial do
“Estado Novo” de Getúlio Vargas e o processo “desenvolvimentista” implantado
por sua gestão. Poucos anos mais tarde, o mesmo governo
alinha-se aos E.U.A no combate ao “nazifacismo” europeu, a repercussão de tal ação resultou no
aceleramento na transição da influência européia para norte-americana sobre o
nosso país.
Os
filmes Hollywoodianos, a propaganda, os produtos industrializados, as revistas
sobre os mais diversos temas foram preponderantes à difusão do “american way of
life” e modificaram em vários aspectos os modos de vida e morar da classe média
brasileira e principalmente a paulistana.
Através de publicações especializadas, Vilanova Artigas entra em contato
com o universo arquitetônico norte americano, onde algumas vertentes
revelavam a renovação do espaço
doméstico residencial daquele país, traduzidas por experiências formais,
construtivas e funcionais em detrimento
às soluções parisienses do séc. 19
utilizadas nas residências burguesas paulistanas.
Richard
Neutra, Charles Eames entre outros arquitetos, despertaram em Artigas o ímpeto
de renovação do espaço doméstico paulista, mas é a figura de Frank Lloyd Wright
quem irá influenciá-lo com maior intensidade no início de sua carreira.
 Esta monografia têm como objetivo, estudar os
desdobramentos desta influência wrightiana no projeto da primeira residência
construída por Artigas dentro do tema sugerido pela disciplina: “A habitação moderna paulistana: Projetos e
realizações”. Com o sub-título: “A primeira modernização de Artigas”
Esta monografia têm como objetivo, estudar os
desdobramentos desta influência wrightiana no projeto da primeira residência
construída por Artigas dentro do tema sugerido pela disciplina: “A habitação moderna paulistana: Projetos e
realizações”. Com o sub-título: “A primeira modernização de Artigas”
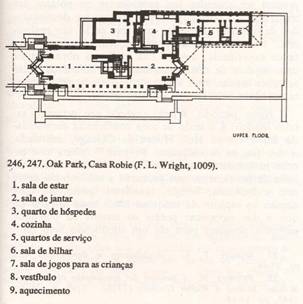
Casa
Robie em Chicago, 1909
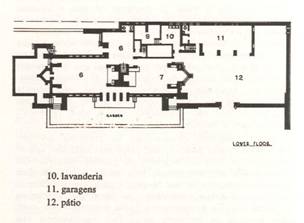
Incursão ao universo de Wright
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 1942, cinco
anos após se graduar, Artigas projeta para ele e sua esposa uma residência
compacta, reveladora de proposições construtivas-espaciais oriundas do vocabulário arquitetônico
wrightiano[1]
muito mais contundentes do que o mesmo já havia ensaiado em casas construídas
anteriormente com o sócio Duílio Marone.
“Nessa
coisa de Belas Artes, de eu ter ido fazer desenho livre com os artistas, a
arquitetura começou a me aparecer com um significado diferente. E eu comecei a ler revistas americanas. E a partir do conhecimento, da leitura dessas
revistas sobre arte é que fui ajudar o pessoal a fazer o desenho a mão livre,
com caneta tinteiro. Mas talvez fosse
esse o caminho que me levou a ver a obrado Wright e acabar estudando e
conhecendo a sua razão radical, nessa época”.[2]
Esta referência assumida a
Wright, fundamenta-se na capacidade do mesmo em aperfeiçoar o espaço doméstico
em benefício do conforto, através da pesquisa técnica, experimentos funcionais
e expressão artísticas. E vai um pouco
além, vai de encontro à possibilidade de extensão do papel do arquiteto na
definição projetual; na própria caracterização de uma premissa para o arquiteto
moderno.
[...]
Wright foi um humanista que soube exprimir os ideais democráticos de seu mestre
Sullivan[3]
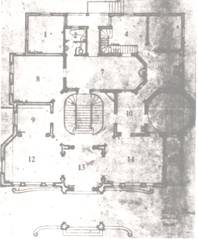 As
residências da classe média e alta paulistana nos primeiros 40 anos do séc. XX
se apresentavam com linguagens eclética ou neocolonial. Os espaços internos eram influenciados pela
habitação burguesa parisiense do séc. XIX
e sua divisão tripartida para o programa, distintamente: uso social,
íntimo e serviços com a especialização funcional dos cômodos e as circulações
segregadas. O vestíbulo, localizado geralmente
na entrada frontal, funcionava como mediador do acesso às três áreas. No caso da implantação, estas construções
apresentavam-se livres dos limites do lote urbano, influência direta dos
recentes bairros-jardins de São Paulo.
As
residências da classe média e alta paulistana nos primeiros 40 anos do séc. XX
se apresentavam com linguagens eclética ou neocolonial. Os espaços internos eram influenciados pela
habitação burguesa parisiense do séc. XIX
e sua divisão tripartida para o programa, distintamente: uso social,
íntimo e serviços com a especialização funcional dos cômodos e as circulações
segregadas. O vestíbulo, localizado geralmente
na entrada frontal, funcionava como mediador do acesso às três áreas. No caso da implantação, estas construções
apresentavam-se livres dos limites do lote urbano, influência direta dos
recentes bairros-jardins de São Paulo.
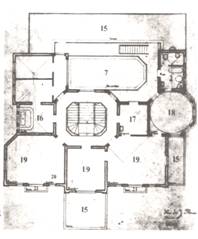
É neste contexto que Vilanova
Artigas passa a rediscutir o espaço doméstico, valores e padrões estabelecidos,
baseando sua ação na eficiência da moderna casa norte-americana, sendo a “casinha”,
como ele mesmo denominava sua primeira residência, o resultado concreto desse
anseio.
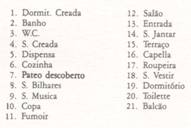 “A
casinha é de 1942.. Foi um rompimento
meio grande. A partir dela, foi a
primeira vez que fiz e tive coragem de fazer porque era pra mim, me libertei
inteiramente das formas que vinham vindo”.[4]
“A
casinha é de 1942.. Foi um rompimento
meio grande. A partir dela, foi a
primeira vez que fiz e tive coragem de fazer porque era pra mim, me libertei
inteiramente das formas que vinham vindo”.[4]
 Em uma cidade como São Paulo, onde a
inexistência de uma paisagem natural exuberante ou espaços públicos necessários
à equalização da presença predominantemente privada, a operação feita por
Artigas em rotacionar “sua casinha” 45° em relação aos limites do lote, revelam
intenções mais abrangentes.
Em uma cidade como São Paulo, onde a
inexistência de uma paisagem natural exuberante ou espaços públicos necessários
à equalização da presença predominantemente privada, a operação feita por
Artigas em rotacionar “sua casinha” 45° em relação aos limites do lote, revelam
intenções mais abrangentes.
Fig.
2 Palacete paulistano. Plantas e fachada [Fonte: Lemos. 1989])
[...] Para mim, elas (as casas) deveriam ser pensadas enquanto
um objeto com quatro fachadas, mais ou menos iguais, ajustando-se a paisagem,
como uma unidade. E cada uma dessas
casas, com suas características próprias, formaria um conjunto de unidades,
resultando um bairro ou cidade mais equilibrada, onde cada um dos elementos
falaria sua própria linguagem.[5]
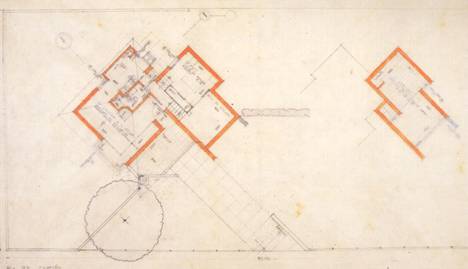
Fig.
3 Plantas-Casinha [Fonte: F.V.A.]
Fig.
4 Foto externa
 Ao levarmos em conta este depoimento,
podemos deduzir duas relevâncias: que o
simples ato do “giro,” têm como primeira relevância a cidade e sua paisagem,
condicionando o interior da residência às aberturas, estas às respectivas
fachadas que, ao final, se relacionam com o entorno imediato[6]. A segunda seria o lote, que poderia ser
elevado à condição de sítio (reforçada pela localização em esquina do mesmo)
por implementar a construção vistas perspectivadas para quem a circunda,
anulando-se distinções e ensinamentos de valorização fachadista da Escola
Politécnica.
Ao levarmos em conta este depoimento,
podemos deduzir duas relevâncias: que o
simples ato do “giro,” têm como primeira relevância a cidade e sua paisagem,
condicionando o interior da residência às aberturas, estas às respectivas
fachadas que, ao final, se relacionam com o entorno imediato[6]. A segunda seria o lote, que poderia ser
elevado à condição de sítio (reforçada pela localização em esquina do mesmo)
por implementar a construção vistas perspectivadas para quem a circunda,
anulando-se distinções e ensinamentos de valorização fachadista da Escola
Politécnica.
[...]
marcou uma nova fase em todo tratamento volumétrico e formal daquilo que
poderia se chamar fachada, porque a fachada desapareceu[7].
Esta proposição do arquiteto é
analisada da seguinte maneira por Miguel Buzzar.
“Este desacordo entre lote e a implantação a 45° da casa, era a
afirmação da atividade do arquiteto enquanto construtor do espaço urbano, de
forma inovadora e não reproduzindo o que estava dado pelo formato do lote”.[8]
É importante salientar que Frank
Lloyd Wright utilizava o mesmo procedimento de não hierarquização das fachadas
nas “Prairie Houses” no início do século XX.
Situadas geralmente em bairros suburbanos residenciais de Chicago, estas
casas despejavam seus horizontais telhados e generosos beirais sobre a
paisagem, numa tentativa de cooptá-la , fazendo-se presente em seus interiores.
Os
interiores (salvo é claro, nas áreas onde era necessário haver isolamento)
consistiam em espaços entrelaçados separados não com portas, mas com ângulos de
visão cuidadosamente elaborados. Quando
a pessoa se movia através desses espaços interiores, estes se desdobravam em
vistas dramáticas e sempre diferentes[9].
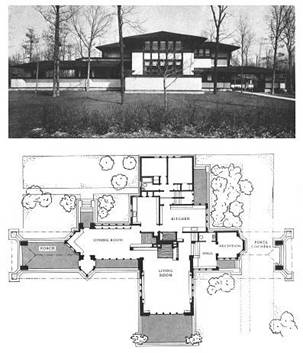
Fig.
5 Casa Willits – Illinois. 1902
A casinha
 Abrigado sobre telhado de quatro águas com
inclinações variadas, o programa da “casinha” é polarizado por núcleo central
hidráulico, formado pela bancada de serviços da cozinha, banheiro e
lareira. Mais do que minimizar custos,
este é o “mote” pinçado do léxico wrightiano mais importante, é a partir deste
núcleo que os espaços se organizam seguindo o mesmo raciocínio na elaboração
das fachadas. Não há hierarquia entre
espaços, nem tão pouco portas, o percurso entre os espaços desenvolve-se de maneira
continuada e valoriza-se quando o arquiteto usa procedimento topológico para
empilhar o dormitório sobre o estúdio semi-escavado, criando meio-níveis e
pés-direitos variados à residência térrea, nos moldes das “Prairie Houses”.
Abrigado sobre telhado de quatro águas com
inclinações variadas, o programa da “casinha” é polarizado por núcleo central
hidráulico, formado pela bancada de serviços da cozinha, banheiro e
lareira. Mais do que minimizar custos,
este é o “mote” pinçado do léxico wrightiano mais importante, é a partir deste
núcleo que os espaços se organizam seguindo o mesmo raciocínio na elaboração
das fachadas. Não há hierarquia entre
espaços, nem tão pouco portas, o percurso entre os espaços desenvolve-se de maneira
continuada e valoriza-se quando o arquiteto usa procedimento topológico para
empilhar o dormitório sobre o estúdio semi-escavado, criando meio-níveis e
pés-direitos variados à residência térrea, nos moldes das “Prairie Houses”.


Fig.
7 Fotos-Casinha [Fonte: F.V.A.]

Fig.
6 Cortes-Casinha [Fonte: F.V.A.] Fig.
8 Casa Isabel Roberts - 1908 Fig.
9 Foto-Casinha [Fonte: F.V.A.]


 Na
busca da modernização do espaço doméstico, a área de serviços agregada a
compacta cozinha, responde aquilo que estava sendo proposto pela indústria e as
relações de trabalho da época[10].
Na
busca da modernização do espaço doméstico, a área de serviços agregada a
compacta cozinha, responde aquilo que estava sendo proposto pela indústria e as
relações de trabalho da época[10].
A definição de dependências pequenas,
eficientes e funcionais refletia as mudanças que estavam ocorrendo no universo
do trabalho doméstico. Estimulada pela
propaganda, que passou a vincular um estilo de vida americanizado, a classe
média trouxe para o interior de suas moradias os recém-chegados
eletrodomésticos de marcas norte-americanas.[11]
Fig.
10 Material de probaganda, década 40
 Contíguo
a cozinha, as salas de jantar e estar nos dão pistas de como este setor
coletivo será importante para Artigas em suas futuras fundamentações
teórico-construtivas sobre os ideais do espaço comunitário. Por serem generosas em suas dimensões (comparando-se
com os demais ambientes), estes espaços sugerem uma ocupação de uso livre ou
mesmo sobreposto. No entanto, é
importante saber o que norteou o arquiteto neste momento do projeto.
Contíguo
a cozinha, as salas de jantar e estar nos dão pistas de como este setor
coletivo será importante para Artigas em suas futuras fundamentações
teórico-construtivas sobre os ideais do espaço comunitário. Por serem generosas em suas dimensões (comparando-se
com os demais ambientes), estes espaços sugerem uma ocupação de uso livre ou
mesmo sobreposto. No entanto, é
importante saber o que norteou o arquiteto neste momento do projeto.
[...]a casa norte-americana de Wright perdeu
paredes, ligou-se com a paisagem, com o exterior . Confundiu contornos de compartimentos e
passou a definir-se pela dinâmica da vida, pela dinâmica da atividade humana a
que se destinava[12]
“ Transferi
algumas vivências minhas, de menino paranaense, do sul do Brasil, que têm sala
e não sabe para quê. A convivência da
família brasileira era na cozinha.
Enquanto, na casa tradicional paulista, a sala de jantar se dirigiu na
direção do “living-room”, pelo processo de transformar duas salas em uma, eu
fui para a tradição brasileira de integrar a cozinha à sala. Segui caminho diverso. Sei que perdi a parada. Mas a minha casa está lá”[13].
A
operação projetiva incomum à época, viabilizou e reforçou a equivalência entre
planimetria e volumetria, em um processo que revelaria um outro universo para
Artigas. Utilizando-se da expressividade
dos materiais na forma bruta, assim como Wright, a aparente singeleza da
“casinha” incute um poderoso arsenal de
desdobramentos futuros à trajetória profissional de Artigas.
Conclusão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No início dos anos 40, Vilanova Artigas, então com menos de 30 anos de idade, já possuía em seu currículo um total de 40 casas projetadas e construídas em São Paulo, uma das cidades que mais crescia no mundo. A perspectiva de redemocratização brasileira com o final da era Vargas e também o desfecho da 2ª grande guerra, convergiam a possibilidades de grandes novidades. Já com razoável experiência profissional, Artigas situa-se numa posição privilegiada para subverter aquilo que já era caduco. Modernizar o espaço doméstico seguindo os passos do velho mestre Frank Lloyd Wright – mesmo sendo uma trajetória menor que uma década – serve para o arquiteto descobrir não só uma linguagem arquitetônica pessoal, ou contradições futuras, como disse o próprio Vilanova: “Com Wright, entrei no mundo moderno”.
Bibliografia
Livros
ACAYABA,
M. M. Branco e Preto: uma história de
design brasileiro nos anos 50. São Paulo:
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.
ARTIGAS, João
Batista Vilanova. A função social do arquiteto.
São Paulo, Fundação Vilanova Artigas / Nobel, 1989.
ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da Arquitetura. 2ª ed. São Paulo, Pini/Fundação Vilanova
Artigas, 1986.
ARTIGAS,
João Batista Vilanova. Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi / Fundação
Vilanova Artigas, 1997.
BLAKE,
Peter. Os grandes arquitetos, vol.3. Frank Lloyd Wright e o domínio do
espaço. Rio de Janeiro: Distribuidora
Record, 1966.
BRUAND,
Yves. Arquitetura contemporânea no
Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981
KOPP, A. Quando o moderno não era um estilo e sim
uma causa. São Paulo: Nobel/Edusp, 1990.
LEMOS,
Carlos A.C. História da casa brasileira.
São Paulo: Contexto, 1989.
LEMOS, Carlos
A.C. Alvenaria Burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo
econômico liderado pelo café. São
Paulo: Nobel, 1989.
MINDLIN, H. Modern
architecture in
SEGAWA, H.
Arquiteturas no Brasil 1900-1990.
São Paulo: Edusp, 1999.
SEGAWA, H.
Prelúdio à metrópole. São Paulo:
Atelier, 2000.
TOLEDO, B.
L. São Paulo: Três Cidades em um Século.
São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1981.
TRAMONTANO,
M. Espaços Domésticos Flexíveis: notas
sobre a produção da primeira geração de arquitetos modernistas brasileiros.
São Paulo: FAUUSP, 1993. Mímeo.
TRAMONTANO,
M. Paris-São Paulo-Tokyo: novos modos de
vida, novos espaços de morar. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1998.
TRAMONTANO,
M. SQCB: Apartamentos e vida privada na
cidade de São Paulo. Texto de Livre-Docência. São Carlos: EESC-USP, 2004.
XAVIER,
Alberto. [Org.] Arquitetura moderna
brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini, 1987.
Artigos em
Revistas
ARTIGAS,
Rosa Camargo et al. [1986] “O debate
interrompido”. Arquitetura e Urbanismo,
São Paulo, abril.
Dissertações
BUZZAR, Miguel A. João Batista Vilanova Artigas: Elementos para
a compreensão
de um caminho da arquitetura brasileira
[1938-1967]. São Paulo, 1996. Dissertação [Mestrado] – Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
CASTRAL, Paulo César. Territórios: A construção do espaço nas
residências projetadas por Paulo Mendes da Rocha [décadas de 60 e 70]. São Carlos, 1998. Dissertação
[Mestrado]-Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo.
TENÓRIO, Alexandre de Souza. Casas de Vilanova Artigas. São Carlos, 2003. Dissertação
[Mestrado]-Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo.