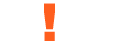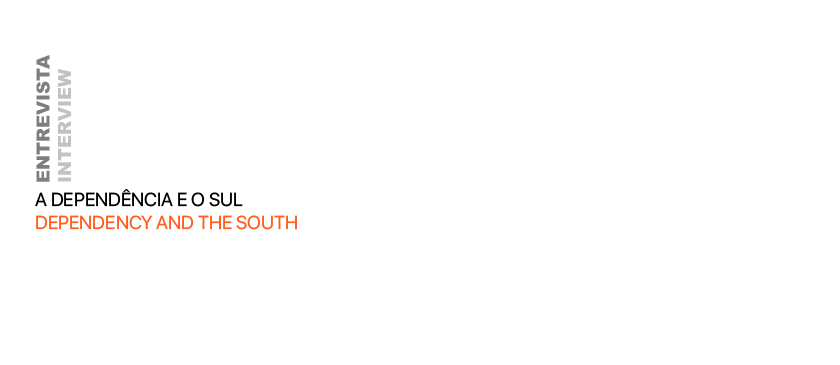
A dependência e o Sul
Diógenes Moura Breda é graduado em Ciências Econômicas, Mestre em Estudos Latino-americanos e Doutor em Desenvolvimento Econômico. Desenvolve pesquisas sobre Teoria marxista da Dependência, Teoria do Valor, teorias do comércio internacional, cadeias globais de valor e Economia política da ciência e da tecnologia. diobreda@gmail.com http://lattes.cnpq.br/0565142103663323
Marcelo Tramontano é Arquiteto, Mestre, Doutor e Livre-docente em Arquitetura e Urbanismo, com Pós-doutorado em Arquitetura e Mídias Digitais. É Professor Associado do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição. Coordena o Nomads.usp e é Editor-chefe da revista V!RUS. tramont@sc.usp.br http://lattes.cnpq.br/1999154589439118
Como citar esse texto: BREDA, D. M.; TRAMONTANO, M. A dependência e o Sul. V!RUS n. 23, 2021. [online]. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus23/?sec=2&item=1&lang=pt>. Acesso em: 20 Jun. 2025.
ENTREVISTA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021
Marcelo Tramontano: Muito obrigado, Diógenes, por aceitar nosso convite. A primeira questão que gostaríamos de abordar com você é a noção de Sul Global, que advém de uma sucessão de nomenclaturas, como Terceiro Mundo, Países em Desenvolvimento, e que, obviamente, também se inscreve na relação centro/periferia. Parece-me importante nos perguntarmos quem formula essas categorizações e a quem elas interessam. Particularmente, a categoria Sul Global, reúne países com histórias, culturas e perfis sócio-político-econômicos totalmente distintos, e inclui a China. Esta é outra questão sobre a qual também gostaríamos de ouvir você: a relação entre a China e o Sul Global e sua atuação como partícipe desse bloco. É interessante pensar em como o país se insere em uma nova ordem mundial que se desenha atualmente, como uma nova polaridade para além dos Estados Unidos e da União Europeia, em especial com seu projeto das Novas Rotas da Seda. O que é, afinal, o Sul Global, diante desse presente e de novos possíveis futuros?
Diógenes Moura Breda: Surpreendeu-me um pouco a chegada do termo Sul Global à literatura acadêmica, dentro de um campo de esquerda de pesquisas sobre a América Latina, tanto marxistas, quanto pós-coloniais e decoloniais. Talvez tardiamente, mas eu li esse termo, pela primeira vez, no livro "Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis", do marxista estadunidense John Smith. Esse livro está circulando bastante mas ainda não tem tradução para o português. Ele ajuda a entender o imperialismo, as transferências de valor, e as formas de exploração da força de trabalho entre Sul e Norte.
Até então, os termos mais usados para se referir a esses países, no meu campo de pesquisa, são a categorização entre países dependentes e imperialistas, mas também a polarização centro-periferia, ou centro, semi-periferia e periferias. Esses termos também são utilizados por autores da teoria do Sistema Mundo, como Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein, que também não utilizam Sul Global. Fiquei então tentando entender a efetividade de um conceito novo como esse, de um Sul Global versus um Norte Global, o que ele de fato mobiliza ou em que ele avança em relação aos outros conceitos que já vinham sendo utilizados. Eu ainda não tenho todas as respostas. Mas, como a ideia de Sul Global surge com os estudos pós-coloniais nos Estados Unidos, acho que o primeiro cuidado que devemos ter sobre essas categorizações que nos incluem – a periferia latino-americana – é examinar como elas se constroem e quem as constrói.
Obviamente, o conceito de Sul Global não se refere às noções geográficas de Sul e Norte, mas do lugar ocupado pelos vários países na divisão internacional do trabalho. Esse conceito me parece ter a virtude de mostrar a diferença entre um centro desenvolvido – o Norte Global –, composto principalmente por Estados Unidos e Europa Ocidental, e também, digamos assim, por suas anexações desenvolvidas, como a Austrália, Canadá, Japão, etc., e um Sul Global, formado por um conjunto muito heterogêneo de países. Temos nele os países africanos, muitos ainda em uma etapa neocolonial muito explícita, onde o próprio desenvolvimento de um Estado nacional sequer chegou a se efetivar, e por isso ainda abrigam disputas de grupos políticos por hegemonia interna. Temos também países que ocupam um lugar intermediário, como é o caso de Brasil, Argentina, México, que percorreram um caminho de regressão, do ponto de vista da sua inserção na divisão internacional do trabalho. E temos, ainda, países que poderíamos chamar de potências ascendentes, caso principalmente da China, que, por um lado, disputa hegemonia em muitos aspectos com os Estados Unidos, mas também mantém relações com os demais países desse Sul Global – do ponto de vista dos investimentos, da busca de fontes de matéria-prima, da busca de recursos estratégicos – que lembram estratégias dos países do chamado Norte Global.
Eu me pergunto sobre a validade de se estabelecer um conceito como esse. Mas enfim, o conceito já está estabelecido, inclusive dentre os próprios marxistas, e de alguma forma se consolidou. Eu ainda prefiro a ideia de países dependentes aliada à ideia de centro imperialista, semiperiferias e periferias dependentes. Porque existe uma hierarquia na divisão internacional do trabalho: dentro do modo de produção capitalista, no capitalismo mundializado, os países cumprem papéis diferentes na reprodução do capital. Essa não é uma ideia nova. Mas se quisermos pensar numa genealogia da ideia de América Latina como periferia em relação ao centro, deveríamos voltar, pelo menos, ao próprio processo de independência da América Latina, com Bolívar, Artigas e José Martí. Trata-se de um processo cheio de contradições, obviamente, com a ideia da criação de uma Pátria Grande, do ponto de vista de Artigas, e de uma Nuestra América, do ponto de vista de Martí. "Nuestra" América em relação à outra América, à América do Norte.
Dentre os pensadores desse processo de dependência, Martí e os haitianos Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines talvez já tivessem vislumbrado a posição econômica subordinada de uma periferia – nesse caso, a América Latina –, assim como a impossibilidade de se analisar essa região usando conhecimentos produzidos nos centros imperialistas. Encontramos essa compreensão tanto em Simón Bolívar, como em seu tutor, Simón Rodrigues, com a ideia de "ou inventamos ou erramos", e também em José Martí, que viveu nos Estados Unidos e que escreveu, em suas últimas cartas, algo como "vivi nas entranhas do monstro e sei o que lá é produzido, sei como se produz esse conhecimento.". Ou em Toussaint Louverture e Dessalines, sobre a revolução haitiana, quando afirmam que o mote "liberdade, igualdade e fraternidade, construído em uma Europa ilustrada, não nos serve aqui.". Além disso, como disseram Aimé Césaire e Frantz Fanon, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade encobre uma escravidão justificada, inclusive por muitos próceres da Revolução Francesa. Esta compreensão de centro e periferia já vem de antes, tem uma certa genealogia e vai ganhando corpo teórico ao longo do tempo.
A autora argentina Alcira Argumedo, que faleceu recentemente, estudou esse processo. Ela escreveu o livro "Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular". Alcira foi uma socióloga, grande pesquisadora da Universidade de Buenos Aires, e trabalhou com frequência com o cineasta argentino Pino Solanas, que também faleceu há pouco tempo. Ela tem um argumento interessante, segundo o qual o pensamento europeu se legitima no fato de ele supostamente advir dos centros mais ilustrados de pesquisa, de produção do conhecimento e de filosofia moderna ocidental. Já na América Latina, o conhecimento a respeito de nós mesmos foi forjado nas lutas, mas é rejeitado por não ser suficientemente teórico, considerado apenas como um pensamento político, não articulado do ponto de vista acadêmico. Porém, para Argumedo, é a partir dessa matriz política e emancipatória da América Latina, legível em vários documentos como cartas, manifestos, etc., que seria possível encontrar uma genealogia do pensamento latino-americano. É óbvio que esse conhecimento vai posteriormente ganhar corpo nas universidades, mas há aí uma matriz. Após essa matriz, digamos, independentista, ocorre um processo – igualmente contraditório – de modernização dos Estados nacionais, no qual um pequeno extrato de uma burguesia nascente de alguns países, como Brasil, México e Argentina, tem interesse em afirmar projetos nacionais. Esse processo de construção de Estados-nação tem lugar no pós-crise de 1929, diante de um campo internacional aberto, dada a crise mundial.
É esta a ideia de centro e periferia proposta pela CEPAL, um órgão da ONU, criado em 1948. É interessante porque era o momento em que a ONU estava impulsionando uma teoria do desenvolvimento econômico por etapas, à la Rostow, na qual o subdesenvolvimento era uma etapa anterior à do desenvolvimento, considerado, por sua vez, como algo que poderia ser alcançado. A CEPAL vai, no entanto, se contrapor a essa ideia, sustentando que o subdesenvolvimento faz parte do mesmo processo, que ele é a outra face do desenvolvimento. É óbvio que ela faz isso em termos de uma teoria ainda dentro dos esquemas tradicionais de um establishment keynesiano heterodoxo. Mas, mesmo sem pular para um pensamento anti-sistêmico, ela consegue perceber que o subdesenvolvimento e suas estruturas internas são a contra-cara do desenvolvimento interno dos países centrais. Isto é importante, e a noção de Sul Global não dá conta disso. Naquele momento, o desenvolvimento, era pensado de maneira muito limitada, com base no aumento do PIB per capita, na industrialização, aumento do consumo de bens duráveis, entre outros. A CEPAL fazia parte disso, mas, mesmo assim, conseguiu ver que existia uma estrutura envolvendo centro e periferia que não era simplesmente uma questão de gradação, mas da necessidade do sistema de construir periferias e reatualizá-las a todo momento.
Vou pular aqui vários outros elementos para chegar mais rapidamente à teoria da Dependência, construída no âmbito da América Latina, com os exílios, e que, no caso do Brasil, teve uma grande tradição. Ficava cada vez mais nítido que as estruturas internas dos países eram incapazes de promover o progresso com o qual a CEPAL sonhava – desenvolvimento econômico como em um capitalismo desenvolvido –, justamente porque os mecanismos de acumulação das classes sociais e de reprodução do capital estavam construídos segundo os interesses dos países imperialistas, porém com gerentes internos. A ideia de estamento gerencial que Darcy Ribeiro expõe no seu fantástico livro "Dilema da América Latina" mostra que o que estava em jogo aqui é a própria estrutura do capitalismo. A dependência seria não apenas a contra-cara do sistema capitalista, em geral, mas também a contra-cara da etapa imperialista do sistema capitalista. Aliás, poderíamos aqui dar um passo atrás e pensar no que acontecia então fora da América Latina: eu vejo as teorias do imperialismo como uma face da teoria sobre o Sul Global, antes de ela se chamar assim.
A teoria da Dependência vai recolhendo pouco a pouco toda uma tradição crítica latino-americana, que, mais recentemente, tem sido retomada. Assim, já sabemos que existiam aqui estudos sobre o racismo antes dos estadunidenses exportarem seus estudos sobre raça e gênero. Eric Williams, que foi Primeiro Ministro de Trinidad e Tobago, escreveu, na década de 1940, o livro "Capitalismo e escravidão1", no qual ele já mostrava como a escravidão, e, portanto, o racismo moderno, é produto da expansão capitalista europeia, ibérica e, posteriormente, da Grã-Bretanha. Já se havia então formulado a ideia de um racismo estrutural, um racismo presente na estrutura do sistema capitalista, funcionalizado para criar divisão dentro da classe trabalhadora e aumentar a exploração dessa classe, o que era fundamental para se consolidar o Norte Global. Poderíamos continuar aqui explorando essa genealogia, mas, para concluir, me parece interessante mencionar as atualizações da teoria do Imperialismo, que tem começado a empregar o conceito de Sul Global. As teorias do Imperialismo foram importantes em si mesmas porque mostraram as contradições do sistema capitalista em seu centro, ou seja, a ampliação da monopolização, a centralização e concentração do capital, a necessidade de busca de matérias-primas estratégicas para cada padrão tecnológico, a necessidade de jogar o excedente de capital para lugares que propiciem maiores lucros.
É de Marx a ideia de movimentos que o capital precisa fazer para superar suas contradições ou para alargar temporalmente as suas contradições, e está nos livros II e III de "O Capital". E as teorias do Imperialismo, seja com Lênin, com Rosa Luxemburgo ou Nikolai Bukharin, vão mostrando que essa periferia do mundo, esse Sul Global, é um lugar de deságue das contradições do capitalismo central, o qual vai construindo essa periferia à nossa imagem e semelhança, mas de acordo com as suas necessidades. A ideia de acumulação por despossessão, por espoliação, é tratada por Harvey, e a necessidade de sempre se ocupar territórios não capitalistas é tratada por Rosa Luxemburgo de uma forma matizada. Harvey pensa que, atualmente, a acumulação por despossessão é o elemento fundamental da expansão imperialista, e que a ideia de imperialismo tem perdido um pouco sua função. Em Lênin está a ideia de exportações de capitais, ou seja, de que é necessário exportar capitais para regiões com maior taxa de lucro e, portanto, construir uma articulação entre capital estrangeiro e força de trabalho. De fato, essa ideia do capital financeiro nascente e sua exportação para a periferia do sistema está na matriz leninista do Imperialismo, e nos dá pistas para explicar tanto a crise da dívida na América Latina dos anos 1980, por exemplo, como o papel da dívida pública e a estrangeirização cada vez maior da dívida pública do Brasil, os problemas da dívida externa na Argentina, a questão da fuga de dólares e do calote eminente, entre outras questões.
Enfim, tentei aqui explicar brevemente alguns conceitos e categorias que estão por trás da ideia de Sul Global. Talvez eles sejam um pouco mais potentes e dotem de mais concretude a ideia de uma divisão entre Norte e Sul do que a ideia de Sul Global. Mas acho positivo que essa noção surja e seja discutida, principalmente depois que a academia e também a política compraram a ideia de globalização, de um mundo já sem centros e periferias, onde cada um teria a possibilidade de se desenvolver de acordo com as suas potencialidades naturais, entre aspas.
Marcelo Tramontano: No conjunto de ideias e conceitos que você tão bem explanou, eu sugiro que procuremos situar a China, por sua crescente importância na cena internacional e sua vinculação, em princípio, ao Sul Global. Talvez não seja simples acomodá-la em uma categorização que classifica o mundo em imperialismo, semi-periferia e periferia. Há o debate sobre se a China é ou não um país imperialista, pois ela não costuma visar a presença militar em outros países, como fazem países imperialistas, mas, por outro lado, adota certas estratégias comerciais e extrativistas, como no projeto das Novas Rotas da Seda. Como você vê essa questão?
Diógenes Moura Breda: Bem, eu não sou especialista em China, mas, neste caso de periferias que assumem outra posição no sistema global, que ascendem ao status de país capaz de disputar a hegemonia, o primeiro aspecto importante a se pensar é que, na história moderna, esta ascensão sempre foi resultado de revoluções. São pouquíssimos os países que, dentro do capitalismo, saíram da condição periférica. Isso é muito importante, porque, quando se pensa na China, temos que considerar a Revolução Chinesa, de 1949. Poderíamos também pensar na Revolução Russa, que chegou a dividir o mundo durante todo o século XX. Há o caso de Cuba, na América Latina, um país totalmente bloqueado e minúsculo, se comparado com outros países do Caribe, e que constitui uma resistência milagrosa, pois sustenta altos índices na educação e baixos níveis de mortalidade infantil. Cuba só conseguiu isso a partir de uma revolução. E em Economia, ao se estudar exemplos mundiais das transformações das indústrias e as cadeias de valor, com frequência surge o caso da Coreia do Sul como um lugar de possibilidade de se desenvolver, dentro do capitalismo. A Coreia do Sul se industrializou após a guerra da Coreia – portanto, pós anos 1950 –, financiada pelos Estados Unidos, cujo interesse era construir um pólo de resistência no Extremo Oriente. Ela ocupa um lugar estratégico na península coreana, principalmente em relação à China. O montante de fundos estadunidenses enviados à Coreia do Sul para desenvolver o país foi, então, gigantesco. Trata-se aí de um processo que não resultou de uma revolução, mas que também não foi um processo de “desenvolvimento endógeno”, em que as forças produtivas internas tenham ido avançando autonomamente. Pelo contrário, o auxílio dos Estados Unidos foi fundamental.
O que eu quero mostrar é que não se pode pensar a ascensão hegemônica da China, ou sua categorização como imperialista, sem reconhecer o fato da Revolução Chinesa. A construção da China contemporânea, que disputa as tecnologias de ponta, como a Inteligência Artificial, a computação em nuvem, a computação de grandes quantidades de dados, das redes de comunicação mais modernas, como o 5G e 6G, a China que está na vanguarda das pesquisas sobre computação quântica e super condutores não é um produto da abertura econômica do final da década de 1970. Uma interpretação corrente, que tenta justificar o caráter eminentemente capitalista da China atual, é que o país só se desenvolveu a partir do final da década de 1970, quando abriu sua economia ao investimento estrangeiro nas zonas econômicas especiais, conseguindo, assim, apropriar-se das tecnologias das empresas que investiram ali. Quase como se uma Zona Franca de Manaus ou as maquiladoras do México pudessem, por exemplo, produzir a mesma coisa. Mas não, os resultados são substancialmente diferentes.
Desde 1949, já havia, nos planos econômicos quinquenais de Mao Tsé Tung, um planejamento da construção de capacidades produtivas e tecnológicas da indústria pesada chinesa, da siderúrgica, da metal mecânica, que possibilitam a existência, hoje, de um setor de alta tecnologia no país. Não se cria um setor de alta tecnologia a partir do nada. A complexidade industrial só pode ser construída em etapas, e a China iniciou essa construção lá nos primeiros anos que se seguiram à Revolução Chinesa. Esse processo avança até a grande virada, que coincide com a abertura econômica dos anos 1970 e a criação das zonas econômicas especiais, dando um passo adiante em direção a uma matriz industrial que já existia. Então esse é o primeiro ponto: a China não criou o seu potencial tecnológico a partir das empresas estrangeiras que se instalaram lá. Dois: antes de qualificar a China ou de entender o lugar da China, é importante considerar que, na Revolução, a China destruiu uma classe dominante dependente, colonial, subdesenvolvida, colocou o Estado no centro do processo de planejamento e acumulação de capital, e construiu sua própria classe dominante: uma burguesia totalmente dependente do Estado e subordinada a ele. No recente caso da quebra da gigante Evergrande, o Estado chinês decidiu não salvar a empresa. É, talvez, um caso paradigmático porque, na crise de 2008, o governo dos Estados Unidos salvou a General Motors, os bancos e as construtoras envolvidos. No entanto, todos os chamamentos do governo chinês com os donos de grandes empresas do país, como Alibaba, Huawei, e outras, são eminentemente distintos de um capitalismo de mercado.
O Estado chinês controla e determina o investimento direto estrangeiro e o investimento direto chinês. O projeto das Novas Rotas da Seda, a busca por minerais estratégicos na América Latina, a compra e instalação de painéis solares e energia eólica na América Latina, por exemplo, só são possíveis se forem autorizados e estiverem de acordo com os planos do Estado chinês para a construção do país. É, então, importante perceber que não estamos diante de um país capitalista como estamos acostumados a compreender, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, e muito menos como os países dependentes. Houve uma revolução, e essa revolução permite fazer aquilo que os países dependentes, que não tiveram uma revolução, não conseguem estruturalmente fazer.
Sobre a polêmica sobre se a China é ou não imperialista, eu não afirmaria categoricamente que sim, ainda que traços de políticas econômicas imperialistas apareçam na China. Ela não invade militarmente nenhum país, ainda que existam disputas territoriais históricas com Taiwan, Hong Kong, e outras, mas o padrão de exportação de capital e disputa por matérias-primas e força de trabalho é um traço da política chinesa. E é natural que seja assim, pois a China faz parte da economia mundial. Ela está na Organização Mundial do Comércio, opera dentro de uma economia de mercado, sendo, portanto, inevitável que tenha que jogar segundo as regras do jogo do mercado. E de acordo com as regras do jogo de uma economia capitalista mundializada, só se constrói hegemonia econômica, que é a base para a hegemonia política, a partir de alguns pressupostos.
Primeiro, o domínio das tecnologias capazes de organizar o sistema econômico como um todo. A disputa da China no âmbito do 5G e do 6G, da computação em nuvem e da robótica contemporânea, por exemplo, tem um paralelo na disputa estadunidense na década de 1970, com o Japão e a Alemanha, pelo domínio dos setores tecnológicos de ponta. Digamos que estamos, atualmente, em uma fase superior dessa disputa. Por que é importante dominar os setores de ponta? Não é só para mostrar que o país é potente, ou que é capaz de enviar alguém à Lua. É que, dentro da tradição marxista, os setores de ponta – aqueles setores que podem ser monopolizados e que, hoje em dia, estão totalmente vinculados com a Ciência e Tecnologia – permitem a obtenção de lucros extraordinários. É a hegemonia dos setores de ponta que permite estabelecer preços acima da média, determinar quais são as outras tecnologias dominantes às quais todo o sistema tem que se subordinar e, portanto, obrigar os demais a adquiri-las do país que as detêm.
Um exemplo atual é que ninguém, nem nenhum setor econômico, vive sem computadores. Das entregas às plantas industriais, a computação, o cálculo numérico e a informática estão presentes. Toda planta industrial tem que ter computadores, assim como todo entregador de iFood tem que ter um computador no celular. Essa tecnologia é o "equivalente geral tecnológico", que é como a pesquisadora mexicana Ana Esther Ceceña denomina as tecnologias que organizam o sistema econômico como um todo. Nesse sentido, a atual disputa pelo 5G e o 6G, pela Inteligência Artificial e pela computação em nuvem nada mais é do que a disputa para dominar a tecnologia que vai organizar todo o sistema econômico, a nível mundial. Assim, por jogar esse jogo mundial e disputar essa hegemonia, a China tem, necessariamente, que disputar os setores de ponta.
Segundo: o domínio dos insumos básicos e estratégicos para a produção e reprodução ampliada, que é outro aspecto fundamental da hegemonia. A China tem investido na mineração, na extração de petróleo, disputando inclusive o pré-sal brasileiro. Ela vem investindo pesadamente na América Latina, buscando parcerias com a Bolívia e a Argentina para a produção do lítio. E o que é o lítio? É o elemento chave das baterias, e, portanto, da disputa pela transição energética. Quem dominar as fontes de lítio e o seu processamento terá uma grande vantagem. A China disputa esse domínio investindo, e esse investimento inevitavelmente transfere uma parte das riquezas – uma parte de mais-valia – para a China, em detrimento dos países periféricos. Esse traço é também inevitável. A China não intervém militarmente nos países, mas também não constrói revoluções neles. Mesmo com Bolsonaro no poder, ela continua investindo no Brasil e vai continuar investindo, independentemente do partido que ganhe as eleições presidenciais em 2022. No campo econômico, a China tem, portanto, traços de política imperialista.
Finalmente, acho que este tema demandaria um aprofundamento em pesquisa. Teríamos que ver, nos países que possuem um projeto nacional autônomo de soberania, se eles conseguem negociar com a China em termos que não sejam próprios dos padrões imperialistas. Essa é a questão e, para ela, não tenho resposta. Teríamos que pesquisar, por exemplo, como são os acordos com a Bolívia em relação ao lítio, e em que medida esses acordos diferem das formas tradicionais de investimento estrangeiro na área da mineração. No projeto das Rotas da Seda, é necessária uma pesquisa como essa, porque a China vai, por exemplo, prover infraestrutura a alguns países africanos. Essa infraestrutura visa escoar que tipo de produção? Seria para transportar produtos produzidos a partir da reconstrução desses países, ou para exportação de soja e petróleo, que são, em grande medida, as produções de interesse da China?
Então não creio que exista o exercício de um imperialismo clássico chinês, mas eu diria que existem traços de políticas imperialistas, principalmente no plano econômico. Elias Jabbour acaba de lançar um livro2 sobre a China, em que ele a classifica como socialista e como um exemplo de uma nova formação econômica social, digamos, um socialismo de mercado. Eu acho que o socialismo pressupõe um caminho rumo ao fim das relações de produção baseadas na mercadoria, e todos os seus elementos de fetichização e alienação. Pelo que eu vejo, não é o que está acontecendo na China até agora, embora possa vir a ser um caminho. Li na semana passada que uma das preocupações atuais do governo chinês é o alto nível de consumo ocidentalizado das classes médias do país. Seus padrões de consumo são basicamente aqueles espelhados ou oriundos de um american way of life – o celular, o automóvel, roupas novas, computadores, apartamento, etc. Tudo isso parece um pouco distante de uma construção socialista do ponto de vista, por exemplo, do pensamento do Che Guevara, de um ser humano novo.
Marcelo Tramontano: Queria encaminhar a conversa na direção de um olhar sobre as relações Norte-Sul, mais precisamente sobre os modos como o Norte lida com o Sul, em dois aspectos. Na produção das tecnologias de ponta, que você mencionou, o lugar do Sul parece continuar sendo o de fornecedor de matérias-primas, como o lítio boliviano e argentino, por exemplo. Essa relação, que renova a prática do extrativismo entre países centrais e periféricos, tem talvez sua face mais contemporânea em uma dimensão tecnopolítica, que é a sangria de dados pessoais dos cidadãos do Sul, que vão alimentar os imensos bancos de inteligência artificial do Norte. Esse uso não autorizado de dados pessoais – em geral, até desconhecido ou apenas suspeitado – contrasta com outro aspecto das políticas do Norte em relação aos cidadãos do Sul, que consiste em "deixá-los morrer", seja na tensão dos movimentos migratórios para entrada na União Europeia e Estados Unidos, seja na repartição desigual de vacinas contra a COVID-19, em países africanos, asiáticos e alguns países latino-americanos. Trata-se de duas questões distintas, mas que repousam sobre uma mesma compreensão, ainda colonial, do lugar do Sul no mosaico de interesses dos países centrais.
Diógenes Moura Breda: Durante os quatro anos em que vivi no México, quando fiz meu mestrado, eu acompanhei o debate sobre a necropolítica, sobre esse "deixar morrer". Tratava-se da reatualização daquilo que Aimé Cesáire denunciava no discurso sobre o colonialismo, que era a consideração dos latino-americanos, dos periféricos, dos negros, como seres humanos de categoria inferior e, portanto, passíveis de morte. Na América Latina, essa noção está em constante reatualização, sempre se modernizando, porque as ideias de modernidade e barbárie caminham juntas. A história da modernidade ocidental se constrói calcada na barbárie na periferia, e está em constante reatualização. No caso do México, esse cenário era muito trágico porque ficava muito nítido que, quanto mais o país se abria aos investimentos estrangeiros, sobretudo estadunidenses, após o Tratado de Livre Comércio de 1994, e quanto mais o discurso da modernidade era apresentado, mais aumentavam os índices de feminicídio, mais crescia o desastre dessa tragédia intencional da migração centro-americana, e também, obviamente, todo o setor do narcotráfico.
É comum ouvirmos que se trata de "uma desagregação do tecido social". Mas seria talvez preciso pensar que essa deterioração do tecido social é a única consequência possível da ampliação dos interesses imperialistas nos países periféricos, e da abertura desses países para os interesses imperialistas dos países centrais. Não há outro padrão de comportamento possível. No Brasil, por exemplo, uma certa modernidade vem sendo apresentada nos motes "o agro é tech", "o agro é pop". Essa ideia do moderno coincide com o momento em que a fronteira agrícola se estende pela Amazônia, com o momento em que a ofensiva sobre os povos indígenas é, talvez, mais intensa do que nunca, tanto do ponto de vista discursivo, quanto do real. É, então, importante sempre analisarmos essa conexão entre modernidade e barbárie, entre modernidade e inferiorização daquilo que os povos centrais consideram como subalterno e descartável. Seja nas indústrias maquiladoras, na fronteira mexicana, sejam bolivianos em algum quarto escuro, na cidade de São Paulo, trata-se da mesma ideia racista de que "o indígena quer ser como nós", ou seja, humanos. Esta atitude desconhece a humanidade que há nessas culturas, incluindo as potencialidades de uma "modernidade alternativa", como formuladas pelo filósofo equatoriano Bolívar Echeverría.
Parece-me que essa ideia da necropolítica, ou a ideia de que somos descartáveis – nós, povos do Sul, em geral e, em especial, negros, mulheres negras, indígenas e povos originários –, está na raiz da nossa fundação como América Latina. Sem usar o termo de forma moral, o processo civilizatório que Darcy Ribeiro menciona, e que deu origem a essa região do mundo, é um processo extremamente violento. A ideia de deixar morrer os povos indígenas e negros atravessa a nossa história, e só foi rompida ou amenizada naqueles períodos em que projetos alternativos formularam tentativas de se sair desse lugar periférico dependente. Esses projetos – e aqui estamos falando de Cuba e Haiti – estabelecem um limite, ao afirmar que não é mais admissível deixar morrer. Mas fora esses projetos, que são atacados, há um processo constante de morte, de desumanização, que sempre reaparece de formas novas, reatualizando-se à medida em que o capitalismo se moderniza.
Não se trata de retrocessos, como se ouve com frequência. Esta é uma questão interessante, que eu gostaria de ressaltar: o que estamos vivendo hoje, no Brasil e em vários países da América Latina, não é um retrocesso. Para mim, é a adequação a uma função nova atribuída à América Latina. E que função nova é essa? É a reprodução, em termos modernos, daquele antigo papel de exportadora de produtos primários e produtos agrominerais. Sabemos que, do ponto de vista econômico, nenhum país se desenvolveu exportando minério de ferro e soja. E é fundamental perceber que, desde o final da década de 1980, aquele sonho de uma América Latina industrializada, justa, com distribuição de renda, acaba. A chegada do neoliberalismo, nos anos 1990, impõe novamente ao continente a função de exportadora. Esse processo se estende pelos anos 2000, mesmo dentro dos governos chamados “progressistas", e, hoje, assistimos à sua consolidação.
Resta muito pouco, aqui, de alguma capacidade industrial autônoma, ou alguma estrutura científica e tecnológica capaz de atualizar a região como a China se atualiza. A dramaticidade da situação latino-americana é muito mais aguda do que a chinesa, porque implica uma mudança muito mais radical. Pequenas reformas já não serão capazes de devolver, ao Brasil e à América Latina, seu passado supostamente industrializado e industrializador. Serão necessários processos mais radicais, o que, até o momento, não se configura, exceto em poucos países, como o Chile. Poderíamos discutir até onde irá esse processo, mas essas rupturas, que sempre voltam a aparecer, também são uma exigência para qualquer projeto emancipador do nosso continente. Elas ganharam algum ímpeto na tentativa de construção da ALBA3, da CELAG4, do Banco do Sul5, todas iniciativas de setores de países avançados que tentaram rupturas, como Venezuela e Bolívia. Os países ditos progressistas, ou que menos radicalizaram esse processo, como Brasil e Argentina, tentaram jogar dentro das regras vigentes, dentro da velha estrutura industrial, buscando o desenvolvimento. A ideia de desenvolvimento que surgiu no Brasil e na Argentina, nos anos Lula e Dilma, foi a de instrumentos de financiamento, como o BNDES, a expansão de capitais brasileiros para o exterior, o fortalecimento do Mercosul – que, atualmente, é uma plataforma de exportação das multinacionais, principalmente da indústria automotiva. Essa foi a tônica desses governos progressistas, incapazes de entender que precisamos de um outro padrão de integração.
Esse outro padrão de integração tem que ser construído a partir de um projeto continental de grande envergadura, que possa construir a modernidade alternativa, formulada por Bolívar Echeverría. Mas o que é uma modernidade alternativa? Segundo Echeverría, é a ideia de que é possível criar e usar técnicas e produzir conhecimento para acabar com a escassez, permitindo que todo mundo se alimente, vá para a escola, etc. Essa ideia é uma palavra de ordem da modernidade ocidental porque significa o domínio da ilustração, da ciência e da racionalidade técnica como fim da escassez. Essa ideia não consegue se concretizar devido à sua relação íntima com o capitalismo, que é incapaz de dar à modernidade, a esse sonho moderno, algo que não seja o cinismo. Dentro do capitalismo, o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade vira um cinismo. Para Bolívar Echeverría, o socialismo – essa construção alternativa, essa ruptura – poderia construir uma modernidade alternativa. Não significaria simplesmente voltar ao tempo das civilizações incaicas, tupinambás, mexicas, maias, mas construir conhecimentos aliados ao conhecimento moderno, capazes de superar a escassez.
Quando falamos de modernidade, de relações Sul-Sul, de projetos alternativos e do atravessamento desses projetos com uma ciência moderna ocidental, com um conjunto de técnicas que desconsideram a humanidade dos povos indígenas, dos povos de matriz africana, e, portanto, desconsideram suas técnicas, seus modos de fazer, seus modos de vida, como, então, construir projetos que incorporem esses modos de vida e modos de fazer, essas técnicas e visões de mundo, à necessidade atual de produzir alimentos, transformar as estruturas urbanas do país, às demandas de mobilidade urbana, à construção de casas para todos, saneamento básico, etc.? Na América Latina, significa construir outro padrão de integração, de ruptura, ao mesmo tempo em que construímos aqui uma modernidade alternativa. Que não é a modernidade do "Agro é tech, o Agro é pop", mas uma modernidade que incorpore, ao modo de fazer moderno, esses saberes, conhecimentos e técnicas ancestrais.
Os estudos decoloniais e pós-coloniais ressaltam a função do conhecimento ocidental, eurocêntrico, e com razão. Porém, no livro "Técnica e civilização", Lewis Mumford abre uma brecha nessa prática ao mostrar que todas as técnicas modernas, que produziram a Revolução Industrial, eram derivadas de técnicas chinesas e árabes. Nossa numeração, que é arábica, e os conhecimentos de termodinâmica, por exemplo, não são propriamente europeus. Em algum momento da história, a Europa conseguiu sintetizar esses conhecimentos, por diversas razões, mas, do ponto de vista técnico, a matriz da modernidade tem algo que Mumford chama de sincretismo técnico. Ou seja, tem algo que não é só capitalismo, mas um substrato da ideia de se conseguir estabelecer um metabolismo entre o ser humano e a natureza, conhecendo, portanto, as leis e as regularidades da natureza, a qual não é essencialmente capitalista. O capitalismo chama isso de domínio: vamos dominar a natureza e construir técnicas visando a valorização do valor, a acumulação de capital. Mas Mumford diz que, dentro dessa modernidade, há um substrato que pode ser apropriado por outras civilizações, por outras sociedades, inclusive não capitalistas. Bolívar Echeverría recupera isso e formula a ideia de modernidade alternativa. Assim, se, independentemente de a China ser imperialista ou não, a América Latina quiser ser capaz de negociar com ela a construção de padrões diferentes, é necessário construir uma articulação, uma integração latino-americana que não seja apenas comercial, financeira ou para complementação das nossas produções, mas uma integração de projetos.
Marcelo Tramontano: Há algo que você disse que me entristece, particularmente – e creio que entristecerá a toda pesquisadora e pesquisador da periferia do mundo – que é essa sina de sermos constantemente recolocados no papel de fornecedores de commodities para os países industrializados, forçados a abrir mão do direito de definir os caminhos da nossa própria produção técnico-científica. Desse ponto de vista, você argumentou que o desmonte institucional e produtivo que vivemos hoje, no Brasil e em todo o Sul, não seria um retrocesso, mas uma readequação ao nosso eterno papel de exportador de matérias primas. Dessa mesma ótica, eu gostaria que você comentasse sobre o lugar da pesquisa acadêmica, científica e tecnológica, e sua divulgação, na atual divisão mundial do trabalho.
Diógenes Moura Breda: Este é um tema pelo qual tenho grande interesse. Acho importante recuperar algumas pessoas pouco conhecidas no campo da Ciência e Tecnologia, como o argentino Oscar Varsavsky, um químico e matemático de origem polonesa que trabalhou com Darcy Ribeiro, e o próprio Darcy Ribeiro, no livro "A universidade necessária". O livro de Varsavsky, "Ciência, política e cientificismo" é importante porque na divisão internacional do trabalho existe também uma divisão internacional do trabalho científico e da produção de conhecimento.
Ora, se o que estamos chamando de tecnologia de ponta é o que permite o domínio, os lucros extraordinários, as transferências de valor, as trocas desiguais, e sendo a ciência hoje uma força produtiva importantíssima – os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e as universidades são de onde saem essas novas tecnologias –, é natural que o Norte queira monopolizar esse conhecimento. Da mesma forma que é natural que os países centrais construam um sistema científico mundializado capaz de provê-los dos conhecimentos que eles julgam necessários, de modo que a produção de conhecimento de ponta permaneça nesses países. As empresas multinacionais, por exemplo, não instalam laboratórios super refinados em países periféricos. Porém, um fenômeno importante é que a estrutura científica mundial, organizada nas revistas dos países centrais, é um sorvedouro de conhecimento produzido na periferia, sobretudo naqueles países que possuem sistemas universitários mais ou menos robustos, como é o caso do Brasil, apesar da precarização que vem sofrendo.
Em alguns setores muito específicos, existem laboratórios de excelência – caso do acelerador de partículas Sirius, da UNICAMP –, mesmo sem ter um projeto científico de soberania. Estes centros de excelência acabam por funcionar como apêndices dos centros de pesquisa dos países centrais. Como assim, apêndices? Nas Ciências Humanas, esse processo é bastante visível, pois existe uma estrutura de produção acadêmica centralizada nos países centrais. Na ausência de um projeto científico nacional, o professor de um país periférico que quer avançar na carreira, não se insurge contra a estrutura acadêmica, mas joga o jogo dessa estrutura. Ele vai, então, fazer o possível para aprender uma língua estrangeira – alemão, francês, inglês –, vai procurar se vincular com centros de pesquisa de países europeus e norteamericanos, vai enviar bolsistas para universidades de lá, receberá convites para palestras, e, de alguma maneira, internalizar bibliografias e as visões de lá em seus temas de pesquisa.
Isso é muito ruim por diversos motivos. Em geral, essa dinâmica produz pesquisadores muito competentes, mas que só sabem pensar temas e problemas estabelecidos lá fora. Não conseguem pensar seus próprios problemas, olhar para a América Latina, Brasil, Campinas, São Paulo, São Carlos, etc. E nos casos em que o pesquisador consegue olhar para o problema local, há uma espécie de deformação intelectual que faz com que ele enxergue esse problema com os olhos de lá, porque ele vai utilizar as bibliografias dos países daqueles centros de pesquisa que têm dinheiro para financiamento, que pagam bolsas de estudo, detêm as revistas A1, etc. Essa foi uma crítica tecida no embate entre pós-coloniais e decoloniais. Ela se baseia no argumento de que os pós-coloniais se utilizam de autores franceses, como Foucault, para discutir a ideia de periferia, por exemplo. É uma crítica pertinente, feita aos estudos pós-coloniais pelo sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel. A questão não é apenas a escolha da temática de estudo, mas com que olhos ela será enxergada.
Nas ciências humanas, essa questão é importantíssima, e só será possível revertê-la se ocorrer, em alguma medida, uma ruptura com essa linha que está plasmada no Lattes, e que corresponde à estrutura produzida nos países centrais. Nas ciências exatas ou naturais, a questão é ainda mais dramática, porque exportamos de graça conhecimento produzido em diversos centros públicos de pesquisa, como o Sirius, fruto de pesquisas financiadas com fundos públicos sobre biodiversidades da Amazônia, sobre novos materiais, no âmbito da indústria farmacêutica, etc.. A necessidade de internacionalização e de obter boas avaliações em rankings estimula esses pesquisadores a publicar em inglês. O resultado é que, dada a incapacidade de países, como o Brasil, de transformar esses conhecimentos em tecnologias, em produtos – não apenas no sentido privado, capitalista, porque também poderiam tornar-se produtos públicos, como instituições e empresas públicas –, as empresas e o Estado dos países centrais se apropriam desses conhecimentos e os transformam em produtos exportáveis para nós.
Talvez a indústria farmacêutica seja o exemplo ideal desse processo. Toda a biodiversidade amazônica é há muito tempo utilizada para produzir anti-depressivos, analgésicos, anti-inflamatórios, etc, que compramos e pagamos em preço de patentes. Isso é interessantíssimo porque, na área médica e nas ciências biológicas, o Brasil é um dos grandes publicadores acadêmicos da periferia do sistema e, apesar disso, importamos cerca de 95% de todos os insumos farmacológicos que utilizamos. A ideia se plasma no setor da saúde, e agora, na pandemia, ficou muito mais nítida com a questão das vacinas. Nós temos a Fundação Fiocruz e o Instituto Butantã, mas não produzimos nossa própria vacina. Empacotamos as vacinas estrangeiras da AstraZeneca e da Sinovac, e tivemos que pagar para usar essas vacinas em um momento de escassez mundial, em 2020.
Percebe-se, então, que, na hora de transformar esses conhecimentos científicos em produtos para solucionar os grandes problemas da população, a universidade, que é um apêndice dos centros de pesquisa dos países centrais, é incapaz de atuar rapidamente e de maneira eficaz. É claro que isso não quer dizer que não haja pesquisadores locais que nadam contra a corrente, que se vinculam de forma orgânica à produção de conhecimento para a transformação social. É óbvio que existem, e eu diria que não são poucos. A questão é que a universidade como instituição funciona de modo contrário a isso. Então, esses pesquisadores que querem produzir conhecimento para a soberania, fazer a transformação social, resolver problemas fundamentais da sociedade brasileira e latino-americana, têm que recusar a universidade. Eles pagam um preço por isso, pois, como existem poucos institutos de pesquisa fora da universidade, eles se encontram em um beco sem saída. É muito difícil sair disso. Tem que ter muita coragem e vínculo coletivo, coisa que a academia foi destruindo nesse processo de hiper individualização, que também é funcional a essa produção de conhecimento alienado, colonizado e exportado para outros centros de pesquisa.
Marcelo Tramontano: Excelente, Diógenes. Inclusive, sem querer alongar essa questão, mas nós percebermos com clareza uma parte do processo que você descreve e critica, a partir de um dos sub-sistemas do sistema maior que você mencionou. Ele é composto pelas grandes editoras internacionais, que criaram tanto os rankings de avaliação das universidades, quanto os rankings dos periódicos acadêmicos que essas mesmas editoras indexam. E, obviamente, um dos principais critérios para classificar as universidades é a quantidade de publicações nos periódicos indexados por eles. Trata-se, no fim, de uma enorme perversidade.
Diógenes Moura Breda: Sim, é uma perversidade tão generalizada, que inclusive nos atinge, aos setores de esquerda, porque volta e meia surge uma moda, um impulso. A ideia de Sul Global, por exemplo, ou os estudos sobre a questão racial, que dão destaque aos autores dos Estados Unidos e que apenas muito recentemente foram resgatar Clóvis Moura, Lélia Gonzales, Abdias Nascimento, e outros que padeceram de ostracismo no Brasil. É tão perverso isso que, na ausência de uma estrutura editorial autônoma, que vá republicando, atualizando, fazendo edições críticas de uma tradição intelectual existente, como, por exemplo, a questão racial no Brasil, acabamos importando os modelos de fora. Claro que não vou dizer que a Angela Davis não serve, porque seria um absurdo. Mas a questão é que o vetor determinante muitas vezes acaba sendo o de fora para dentro, e não há a recuperação dos nossos próprios pensadores, intelectuais orgânicos, que estavam e estão aqui produzindo conhecimento. Nós também, nos estudos sobre transferência de valor, intercâmbio desigual, teoria da dependência, quando nos damos conta, percebemos que estamos lendo apenas dois ou três autores em inglês. Então é meio brutal. De fato, é necessário um esforço de ruptura contra essa hegemonia da produção de conhecimento.
Marcelo Tramontano: Diógenes, uma última pergunta: diante de tudo isso de que falamos aqui, o futuro lhe parece promissor?
Diógenes Moura Breda: Bem, eu acabei de ter uma filha, faz um mês e uma semana, chamada Leonora. Então eu acho que tenho a obrigação de acreditar que o futuro será promissor. Temos que construir esse futuro. Creio que essa é uma questão de utopia, de caminho, e de não se dar por vencido. Porque olhando para o que está posto hoje, eu sento e choro. Não vejo por que devo concluir a pós-graduação, não sei por que ter filhos... Tudo conspira contra aquilo que é vida, tudo conspira contra a criação, contra construir uma nação, um país, um povo, uma América Latina socialista, integrada, soberana e justa. Tudo conspira contra.
Agora, o que nós fazemos com isso? Em primeiro lugar, é preciso entender que a história não está feita. O futuro não está dado, não existe uma teleologia da história, nem algo que aponte para uma necessária hecatombe, um fim da humanidade: não existe futuro dado. Mas, se há uma coisa à qual o ser humano está condenado, é a construir sua própria história. Estamos condenados a construir a nossa forma de vida, porque não está programado no nosso material genético como vamos produzir, trocar, amar e estabelecer coletivos. Somos um código aberto, e esse código aberto estabelece a condenação de ter que pensar o nosso futuro. Então, eu digo que com o pessimismo da razão e o otimismo da ação, eu sou obrigado a considerar o futuro como promissor e a trabalhar para isso acontecer.
1 WILLIAMS, E. Capitalismo e escravidão. 1944. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
2 JABBOUR, E., GABRIELE, A. China: o socialismo do século XXI. São Paulo: Boitempo, 2021.
3 Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliança_Bolivariana_para_os_Povos_da_Nossa_América.
4 Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Ver: http://ww.celag.org.
Dependency and the South
Diógenes Moura Breda holds a Bachelor degree in Economic Science, a Master's degree in Latin-American Studies, and a Ph.D. in Economic Development. He conducts research on marxist Dependency Theory, Theory of Value, international trade theories, global value chain, and the political economy of science and technology. diobreda@gmail.com http://lattes.cnpq.br/0565142103663323
Marcelo Tramontano is an Architect, holds a Master's, Doctor's, and Livre-docente degrees in Architecture and Urbanism, with a Post-doctorate in Architecture and Digital Media. He is an Associate Professor at the Institute of Architecture and Urbanism of the University of Sao Paulo, Brazil, and the Postgraduate Program in Architecture and Urbanism of the same institution. He directs Nomads.usp and is the Editor-in-Chief of V!RUS journal. tramont@sc.usp.br http://lattes.cnpq.br/1999154589439118
How to quote this text: Breda, D. M.; Tramontano, M., 2021. Dependence and the South. V!RUS, 23, December. [online] Available at: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus23/?sec=2&item=1&lang=en>. [Accessed: 20 June 2025].
INTERVIEW HELD ON DECEMBER 09, 2021
Marcelo Tramontano: Thank you very much, Diógenes, for accepting our invitation. The first issue we would like to address with you is the very notion of Global South, which comes from a succession of categories, such as Third World, Developing Countries, and which is also inscribed in the core-periphery relationship. It seems crucial to ask ourselves who formulates these categorizations and to whom they are of interest. In particular, the Global South category brings together countries with totally different histories, cultures, and socio-political-economic profiles and includes China. There is there another question. We also would like to hear from you about the relationship between China and the Global South and its role as a member of this bloc. It is interesting to think about how this country fits into a new world order which is currently taking shape, as a new polarity beyond the United States and the European Union, especially with the New Silk Roads project. What, after all, is the Global South, given this present and new possible futures?
Diógenes Moura Breda: The arrival of the term Global South in academic literature surprised me a little, within a left field of research on Latin America, both Marxist and postcolonial and decolonial. Perhaps belatedly, but I first read that term in the book Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism's Final Crisis, by American Marxist John Smith. This book is circulating a lot, but it still does not have a Portuguese version. It helps to understand imperialism, value transfers, and forms of exploitation of the labor force between the South and North.
Until then, in my field of research, the most used terms to refer to these countries are the categorization between dependent and imperialist countries and the core-periphery polarization, or core, semi-periphery, and peripheries. These are terms also used by authors of the World System theory, such as Giovanni Arrighi and Immanuel Wallerstein, who also do not use the Global South. So I was trying to understand the effectiveness of a new concept like this, of a Global South versus a Global North, and what it mobilizes or what it advances concerning other concepts already being used. I still don't have all the answers. But, as the idea of the Global South emerges with postcolonial studies in the United States, I think that the first precaution we should take about these categorizations that include us – the Latin American periphery – is to examine how they are built and who builds them.
Obviously, the concept of the Global South does not refer to the geographical notions of the South and North, but the place occupied by the various countries in the international division of labor. This concept seems to have the virtue of showing the difference between a developed center – the Global North –, composed mainly of the United States and Western Europe, and also, let's say, by their developed annexations, such as Australia, Canada, Japan, etc., and a Global South, formed by a very heterogeneous set of countries. We have African countries in it, many of them still in a very explicit neocolonial stage, where the development of a nation-state has not even come to fruition, and this is why they still harbor disputes between political groups for internal hegemony. We also have countries that occupy an intermediate position, such as Brazil, Argentina, and Mexico. They have followed a path of regression, from the point of view of their insertion in the international division of labor. And we have countries that we could call rising powers, especially China, which, on the one hand, disputes hegemony in many aspects with the United States, but also maintains relations with the other countries of the Global South – from the point of view investments, the search for raw material sources, the search for strategic resources – which resemble the strategies of the countries of the so-called Global North.
I wonder about the validity of establishing such a concept. But anyway, the concept is already established, even among the Marxists themselves, and somehow it has been consolidated. I still prefer the idea of dependent countries combined with the idea of an imperialist core, semi-periphery, and dependent peripheries. Because there is a hierarchy in the international division of labor: within the capitalist mode of production, in globalized capitalism, countries play different roles in the reproduction of capital. This is not a new idea. But, if we want to think of a genealogy of the idea of Latin America as a periphery related to the core, we should at least return to the process of independence in Latin America, with Bolívar, Artigas, and José Martí. This process is, of course, full of contradictions, with the idea of creating a Pátria Grande – from the point of view of Artigas – and a Nuestra América – from the point of view of Martí. "Nuestra" ["Our"] America refering to the other America, to North America.
Among the theorists of this process of dependence, Martí and the Haitians Toussaint Louverture and Jean-Jacques Dessalines may have glimpsed the subordinate economic position of a periphery – in this case, Latin America – as well as the impossibility of analyzing this region using knowledge produced in the imperialist centers. We find this understanding in Simón Bolívar as well as in his tutor, Simón Rodrigues, with the idea of "we either invent or we make mistakes". We can also find it in José Martí, who lived in the United States and who wrote, in his last letters, something like "I lived in the bowels of the monster, and I know what they produce there, I know how this knowledge is produced.". Or in Toussaint Louverture and Dessalines, writing on the Haitian revolution, when they state that the motto "liberty, equality, fraternity, built in an enlightened Europe, does not serve us here.". Furthermore, as Aimé Césaire and Frantz Fanon said, the idea of liberty, equality, and fraternity covers slavery justified even by many of the leaders of the French Revolution. This understanding of core and periphery comes from earlier, has a given genealogy, and gains a theoretical body over time.
Argentine author Alcira Argumedo, who died recently, studied this process. She wrote the book Los silencios y las voces en América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular. Alcira was a Sociologist, a prominent researcher at the University of Buenos Aires. She often worked with Argentinian filmmaker Pino Solanas, who recently has also passed away. She has an interesting argument, according to which European thought is legitimated by the fact that it supposedly comes from the most enlightened centers of research, knowledge production, and modern Western philosophy. In Latin America, knowledge about ourselves was forged in struggles but is rejected for not being theoretical enough, considered only political thought, not articulated to the academic point of view. However, for Argumedo, it is from this political and emancipatory matrix of Latin America, readable in various documents such as letters, manifestos, etc., that it would be possible to find a genealogy of Latin American thought. This knowledge will later take shape in universities, but there is a matrix here. After this matrix, let's say, independentist, there is an equally contradictory process of modernization of national states in which a small extract of a nascent bourgeoisie in some countries, such as Brazil, Mexico, and Argentina, is interested in affirming national projects. This process of building nation-states takes place in the post-1929 crisis, vis-a-vis an open international field.
This is the idea of core and periphery proposed by ECLAC, a UN body created in 1948. It is interesting because, at that time, the UN was promoting a theory of economic development in stages, à la Rostow, in which underdevelopment was a stage before development, considered, in turn, as something that could be achieved. ECLAC, however, opposed this idea, arguing that underdevelopment is part of the same process, that it is the other face of development. They do this in terms of a theory still within the traditional frameworks of a heterodox Keynesian establishment. But, even without jumping to anti-systemic thinking, ECLAC manages to perceive that underdevelopment and its internal structures are the counter-face of the internal development of the central countries. This is an essential aspect that the notion of the Global South does not cover. At that time, development was thought of in a very limited way, based on the increase in GDP per capita, industrialization, increased consumption of durable goods, and so on. ECLAC was part of this, but even so, it could see that there was a structure involving the core and the periphery which was not a simple matter of gradation, but of the need for the system to build peripheries and update them at all times.
I will skip now several other elements here to quickly arrive at the Dependence theory, constructed within the scope of Latin America by the exiles and which, in the case of Brazil, had a great tradition. It became increasingly clear that the countries' internal structures were incapable of promoting the progress that ECLAC dreamed of – economic development as in developed capitalism – precisely because the mechanisms of social class accumulation and capital reproduction were constructed according to the interests of imperialist countries, with internal managers. The idea of a managerial estate that Darcy Ribeiro exposes in his fantastic book Latin America's Dilemma shows that what was at stake here is the very structure of capitalism. Dependence would be not only the back face of the capitalist system in general but also of the imperialist stage of the system. By the way, we could here take a step back and think about what was happening then outside Latin America: I see the theories of imperialism as a facet of the theory about the Global South before it was called that.
The Dependence Theory is gradually gathering an entire Latin American critical tradition, which, more recently, has been revived. Thus, we already know there were studies on racism here before Americans exported their studies on race and gender. Eric Williams, who was Prime Minister of Trinidad and Tobago, wrote in the 1940s the book Capitalism and Slavery, in which he already showed how slavery, and therefore modern racism, is a product of European capitalist expansion, Iberian expansion, and later from Great Britain. The idea of structural racism had already been formulated then, racism present in the structure of the capitalist system, functionalized to create division within the working class and increase the exploitation of this class, which was essential to consolidate the Global North. We could further explore this genealogy, but in conclusion, it seems interesting to mention updates to the theory of Imperialism, which has begun to employ the concept of the Global South. The theories of Imperialism were important in themselves because they showed the contradictions of the capitalist system at its core, that is, the expansion of monopolization, the capital centralization and concentration, the need to search for strategic raw materials for each technological standard, and the need to dump surplus capital to places that yield greater profits.
The idea that the capital needs to make movements to overcome its contradictions or temporarily extend them, belongs to Marx and can be found in Books II and III of Capital. The theories of Imperialism, whether with Lenin, Rosa Luxemburg, or Nikolai Bukharin, show that this periphery of the world – this Global South – is an outlet for the contradictions of central capitalism. Central countries build this periphery in our image and similarity, but according to their needs. The idea of accumulation by dispossession and plunder is approached by Harvey, and the need to always occupy non-capitalist territories is treated by Rosa Luxemburg, in a nuanced way. Harvey thinks that accumulation by dispossession is currently the fundamental element of imperialist expansion and that the idea of Imperialism has lost some of its function. In Lenin's work, we find the idea of capital exports, meaning it is necessary to export capital to regions with a higher rate of profit and, therefore, build a link between foreign capital and the labor force. Indeed, this idea of nascent financial capital and its export to the periphery of the system is in the Leninist matrix of Imperialism and gives us clues to explain both the debt crisis in Latin America in the 1980s, for example, and the role of debt public debt and the increasing foreignization of Brazil's public debt, the problems of the external debt in Argentina, the issue of the flight of dollars and the imminent default.
Anyway, I tried to briefly explain some concepts and categories that lay behind the idea of the Global South. Perhaps they are a little more powerful and give the idea of a division between North and South more concrete than the concept of the Global South. But I think it is positive that this notion emerges and be discussed, especially after both academia and politics bought the idea of globalization, of a world without cores and peripheries, where everyone would have the possibility of developing according to their "natural potentials", in quotes.
Marcelo Tramontano: In the ideas and concepts you have explained so well, I suggest that we try to situate China, because of its growing importance on the international stage and its affiliation, in principle, with the Global South. Perhaps it is not simple to accommodate this country in Imperialism, semi-periphery, and periphery categorization. There is a debate about whether or not China is an imperialist country, as it does not usually aim for a military presence in other countries, as imperialist countries do, but, on the other hand, adopts particular commercial and extractive strategies, as in the Belt and Road Initiative. How do you see this question?
Diógenes Moura Breda: Well, I am not an expert on China, but in the case of peripheries that change their position in the global system, ascending to the status of a country capable of disputing hegemony, the first important aspect to think about is that in modern history, this ascension has always been a result of revolutions. There are very few countries within capitalism that emerged from the peripheral condition. This is very important because when you think of China, you have to consider the Chinese Revolution of 1949. We could also think of the Russian Revolution, which came to divide the world throughout the 20th century. There is the case of Cuba, in Latin America, a blocked and tiny country compared to other Caribbean countries, that shows a miraculous resistance since it sustains high levels of education and low levels of infant mortality. Cuba only achieved this through a revolution. And in Economics, when studying world examples of transformations in industries and value chains, the case of South Korea frequently emerges as a place of possibility to develop within capitalism. South Korea industrialized after the Korean War – therefore, after the 1950s – financed by the United States, whose interest was to build a pole of resistance in the Far East. It occupies a strategic place on the Korean peninsula, particularly concerning China. The amount of US funds sent to South Korea to develop the country was then gigantic. This process did not result from a revolution, but which was not a process of “endogenous development”, in which the internal productive forces have been advancing autonomously. On the contrary, US support was critical.
What I want to point out is that one cannot think of China's hegemonic rise, or its categorization as imperialist, without recognizing the fact of the Chinese Revolution. The building of contemporary China, which disputes cutting-edge technologies such as Artificial Intelligence, cloud computing, computing large amounts of data, the most modern communication networks such as 5G and 6G... China at the forefront of research on quantum computing and superconductors is not a product of the economic opening of the late 1970s. A current interpretation, which tries to justify the eminently capitalist character of today's China, is that the country only developed from the late 1970s onwards, when it opened its economy to foreign investment in the special economic zones, thus managing to appropriate the technologies of the companies that invested there. Almost as if the Manaos Free Trade Zone or the maquiladoras in Mexico could, for example, produce the same thing. But no, the results are substantially different.
Since 1949, Mao Tse Tung's five-year economic plans had already included planning for the construction of productive and technological capacities in the Chinese heavy industry, the steel industry, and metal mechanics, which now enable the existence of a high-tech sector in the country. You don't create a high-tech sector from scratch. Industrial complexity can only be built in stages, and China began this construction in the first few years after the Chinese Revolution. This process advances to the great turning point, which coincides with the economic opening of the 1970s and the creation of special economic zones, taking a step forward towards an industrial matrix that already existed. So that's the first point: China didn't create its technological potential from the foreign companies that settled there. Two: before qualifying China or understanding China's place, we have to consider that in the revolution China destroyed a dependent, colonial, underdeveloped ruling class, placed the state at the center of the process of planning and capital accumulation, and built its ruling class: a bourgeoisie dependent on the state and subordinate to it. In the recent case of the collapse of the giant Evergrande, the Chinese state decided not to save the company. It is perhaps a paradigmatic case because, in the 2008 crisis, the United States government saved General Motors, the banks, and the construction companies involved. However, all calls of the Chinese government to the owners of large companies in the country, such as Alibaba, Huawei, and others, are eminently distinct from market capitalism.
The Chinese state controls and determines foreign direct investment and Chinese direct investment. The Belt and Road Initiative project, the search for strategic minerals in Latin America, the purchase and installation of solar panels and wind energy in Latin America, for example, are only possible if they get permission and follow the plans of the Chinese state for the construction of the country. It is, then, crucial to realize that we are not facing a capitalist country as we are used to understanding it, like the United States and Western Europe, and much less like dependent countries. There was a revolution, and this revolution makes it possible to do what dependent countries, which have not had a revolution, are structurally unable to do.
On the controversy over whether or not China is imperialist, I would not categorically assert that it is, even though traces of imperialist economic policies do appear in China. It does not militarily invade any country, even though there are historical territorial disputes with Taiwan, Hong Kong, and others, but the pattern of capital exports and disputes over raw materials and the labor force is a feature of Chinese policy. This is natural because China is part of the world economy. It is a member of the World Trade Organization, operates within a market economy, and it is therefore inevitable that it has to play by the rules of the market game. And according to the rules of a globalized capitalist economy, economic hegemony, which is the basis for political hegemony, is only built from some assumptions.
First: the domain of technologies capable of organizing the economic system as a whole. China's dispute over 5G and 6G, cloud computing, and contemporary robotics has a parallel in the US dispute in the 1970s with Japan and Germany for the dominance of cutting-edge technology sectors, for instance. Let's say, we are currently at a higher stage of this dispute. Why does it matter to dominate the leading industries? It is not only to show that the country is powerful, or that it is able to send someone to the Moon. It is because, within the Marxist tradition, the cutting edge sectors – i. e. those sectors that can be monopolized and are essentially linked nowadays with Science and Technology – allow to obtain extraordinary profits. The hegemony of high-end sectors makes it possible to set prices above the average, determine other dominant technologies to which the entire system has to subordinate itself, and, therefore, force others to acquire them from this country that owns them.
A current example is that no one, nor any economic sector, lives without computers. From delivery services to industrial plants, computing, numerical calculation, and information technology are present. Every industrial plant must have computers, just as every iFood delivery person must have a computer on their cell phone. This technology is the "general technological equivalent", which Mexican researcher Ana Esther Ceceña calls the technologies that organize the economic system as a whole. That is why the current dispute for 5G and 6G for Artificial Intelligence and cloud computing is nothing more than the dispute to dominate the technology that will organize the entire economic system worldwide. Thus, by playing this world game and fighting for this hegemony, China necessarily has to compete in the leading sectors.
Second: the mastery of basic and strategic inputs for expanded production and reproduction is another aspect of hegemony. China has been investing in mining and oil extraction, including disputing the Brazilian pre-salt oil reserve. It invests heavily in Latin America, seeking partnerships with Bolivia and Argentina for lithium production. And what is lithium? It is the main element of batteries and, therefore, crucial in the fight for the energy transition. Whoever masters lithium sources and their processing will have a big advantage. China disputes this domain by investing, and this investment inevitably transfers a part of the wealth – a part of surplus value – to China itself, to the detriment of peripheral countries. This trait is also inevitable. China does not intervene militarily in countries, but neither does it encourage revolutions in them. Even with Bolsonaro in power, it continues to invest in Brazil and will continue to do so, regardless of which party wins the presidential elections in 2022. In the economic field China, therefore, has traces of imperialist politics.
Finally, I think this topic requires further research. We need to verify, in countries that have an autonomous national project of sovereignty, whether they manage to negotiate with China on terms that are not typical of imperialist standards. That is the question, and I have no answer for it. We would have to investigate, for example, what the agreements between China and Bolivia are like concerning lithium and to what extent these agreements differ from traditional forms of foreign investment in the mining area. In the Road and Belt Initiative project, research like this is desirable because China will, for example, provide infrastructure to some African countries. What type of production is this infrastructure intended to transport? Products produced from the reconstruction of these countries, or to the export of soy and oil, which are, to a large extent, the products that interest China?
So I don't believe that China exercises classical Imperialism, but I see traces of imperialist policies, mainly on the economic level. [Brazilian Geographer] Elias Jabbour has just released a book on China, in which he classifies the country as socialist and as an example of a new social-economic formation, say, market socialism. I think that socialism presupposes a path towards the end of commodity-based relations of production and all their elements of fetishization and alienation. As far as I can see, that is not what has been happening in China so far, although it could turn out to be a path. I read last week that one of the Chinese government's current concerns is the high level of westernized consumption by the country's middle classes. Their consumption patterns mirror or come from an American way of life – cell phones, cars, new clothes, computers, apartments, and so on. This seems a bit far from a socialist construction from the perspective of Che Guevara's thinking of a new human being.
Marcelo Tramontano: I would like to steer the conversation towards looking at North-South relations, especially at how the North deals with the South, in two respects. In the production of cutting-edge technologies, which you mentioned, the place of the South remains that of a supplier of raw materials, such as Bolivian and Argentine lithium, for example. This relationship, which renews the extractive practice between central and peripheral countries, has perhaps its most contemporary face in a technopolitical dimension. That is the bleeding of personal data from citizens of the South, which feeds the huge artificial intelligence bases of the North. This unauthorized use of personal data – in general even unknown or just suspected – contrasts with another aspect of Northern policies towards Southern citizens, which consists in "letting them die", either in the tension of migratory movements for entry into the European Union and the United States or in the unequal distribution of vaccines against COVID-19, in African, Asian and some Latin American countries. These are two distinct questions, but they have roots in the same understanding, still colonial, of the place of the South in the mosaic of interests of the core countries.
Diógenes Moura Breda: During the four years that I lived in Mexico to prepare my master's thesis, I followed the debate about necropolitics and this "letting die". It was about the re-updating of what Aimé Cesáire denounced in the discourse on colonialism about considering Latin Americans, peripheral people, and blacks as human beings of inferior category and, therefore, possible to die. This notion is constantly updated and modernized in Latin America since the ideas of modernity and barbarism go hand in hand. The history of western modernity is based on barbarism at the periphery and is constantly updated. In the Mexican case, this scenario was particularly tragic. It became very clear that the more the country opened itself to foreign investment, especially from the United States after the 1994 Free Trade Agreement, and the more the discourse of modernity was presented to society, the more femicide rates increased, the disaster of this intentional tragedy of Central American migration grew, and of course, the entire drug trafficking sector.
We often hear that this means "a breakdown of the social fabric". But it would perhaps be necessary to think that this deterioration of the social fabric is the only possible consequence of the expansion of imperialist interests in the peripheral countries and the opening of these countries to the imperialist interests of the core. There is no other pattern of behavior possible. In Brazil, for example, certain modernity is being presented to society in the slogans "Agro is tech", "Agro is pop". The dissemination of this idea coincides with the moment when the agricultural frontier extends across the Amazon, with the moment when the offensive against indigenous peoples is perhaps more intense than ever, both from a discursive and a real point of view. It is, therefore, always crucial to analyze the connection between modernity and barbarism, between modernity and the inferiorization of what central peoples consider as subordinate and disposable. Whether in the maquiladora industries, on the Mexican border, or Bolivian citizens working in a dark room in the city of São Paulo, it is the same racist idea that "the indigenous people want to be like us", in other words, human. This attitude ignores the humanity that exists in these cultures, including the potential of an "alternative modernity" as formulated by the Ecuadorian philosopher Bolívar Echeverría.
It seems to me that this idea of necropolitics, or the idea that we are expendable – we peoples of the South in general and, in particular, blacks, black women, indigenous, and native peoples – is at the root of our foundation as Latin America. Without using the term morally, the civilizational process that Darcy Ribeiro mentions, and which gave rise to this region of the world, is extremely violent. The idea of letting indigenous and black peoples die crosses our history and is only broken or softened in those periods when alternative projects formulated attempts to leave this dependent peripheral place. These projects – here we are talking about Cuba and Haiti – set a limit, stating that it is no longer acceptable to let die. But apart from these projects, which are under attack, there is a constant process of death and dehumanization, which always reappears in new ways, updating itself as capitalism modernizes itself.
These are not setbacks, as you often hear. Here is an interesting question, which I would like to emphasize: what we are experiencing today, in Brazil and several Latin American countries, is not a setback. For me, it is the adaptation to a new role assigned to Latin America. And what new role is this? It is the reproduction, in modern terms, of that former role of exporter of primary and agro-minerals products. From an economic point of view, we know that no country has developed by exporting iron ore and soy. And it is essential to realize that, since the end of the 1980s, that dream of an industrialized, fair Latin America with income distribution has ended. The arrival of neoliberalism in the 1990s imposed once again on the continent the role of an exporter. This process extends into the 2000s, even within the so-called “progressive” governments, and today we are witnessing its consolidation.
There is very little left of any autonomous industrial capacity or scientific and technological structure capable of updating the region as China updates itself. The drama of the Latin American situation is much more acute than the Chinese one because it implies a much more radical change. Small reforms will no longer be able to restore Brazil and Latin America to their supposedly industrialized and industrializing past. More radical processes will be needed, which, so far, have not taken place, except in a few countries such as Chile. We could discuss how far this process will go, but these ruptures, which always reappear, are a requirement for any emancipatory project on our continent. They gained some momentum in the attempt to build ALBA1, CELAG2, and the Bank of the South3, all initiatives from sectors of advanced countries that attempted ruptures, such as Venezuela and Bolivia. The so-called progressive countries, or those that least radicalized this process – such as Brazil and Argentina – tried to play within the current rules of the old industrial structure, seeking development. The idea of development that emerged in Brazil and Argentina, in the Lula and Dilma years, was that of financing instruments, such as BNDES [Brazilian Development Bank], the expansion of Brazilian capital abroad, the strengthening of Mercosur – which is currently an export platform for multinationals, mainly for the automotive industry. This was the tone of these progressive governments, unable to understand that we need another pattern of integration.
This other pattern of integration must be built from a large-scale continental project able to build alternative modernity, as formulated by Bolívar Echeverría. But what is alternative modernity? According to Echeverría, it is the idea that it is possible to create and use techniques and produce knowledge to end scarcity, allowing every citizen to eat, go to school, etc. This idea is a slogan of Western modernity because it means the domain of illustration, science, and technical rationality leads scarcity to an end. This idea fails to materialize due to its intimate relationship with capitalism, which is incapable of giving modernity, this modern dream, something other than cynicism. Within capitalism, the ideal of liberty, equality, and fraternity turns into cynicism. For Bolivar Echeverría, socialism – this alternative construction, this rupture – could construct alternative modernity. It would not simply mean going back to the time of the Incan, Tupinambá, Mexicas, and Mayan civilizations, but building knowledge allied to modern knowledge, capable of overcoming scarcity.
We talk about modernity, South-South relations, alternative projects, and the crossing of these projects with modern Western science. The latter's techniques disregard the humanity of indigenous and African matrix peoples and, therefore, disregard their techniques, their ways of doing, their ways of life. So how to build projects that incorporate these ways of life and doing, these techniques and worldviews to the current need to produce food, transform the country's urban structures, the demands of urban mobility, the construction of houses for everyone, basic sanitation, etc.? In Latin America, it means building another pattern of integration, of rupture, while building alternative modernity. That is not the modernity of "Agro is tech, Agro is pop", but modernity that incorporates this ancestral knowledge and techniques into the modern way of doing things.
Decolonial and postcolonial studies emphasize the role of Western, Eurocentric knowledge, and rightly so. However, in the book Technique and Civilization, Lewis Mumford breaks this practice down by showing that all the modern techniques that produced the Industrial Revolution stem from Chinese and Arab techniques. Our numbering, which is Arabic, and knowledge of thermodynamics, for example, are not European. At some point in history, Europe managed to synthesize this knowledge for several reasons, but from a technical point of view, the matrix of modernity has something that Mumford calls technical syncretism. In other words, there is something which is not just capitalism, but a substratum of the idea of being able to establish a metabolism between human beings and nature, knowing, therefore, the laws and regularities of nature, which is not essentially capitalist. Capitalism calls this, domination: let's dominate nature and build techniques aimed at valuing value, accumulating capital. But Mumford says that, within this modernity, there is a substratum that can be appropriated by other civilizations, by other societies, including non-capitalist ones. Bolivar Echeverría recovers this argument and formulates the idea of alternative modernity. Thus, regardless of whether China is imperialist or not, if Latin America wants to be able to negotiate with it the construction of different standards, it is necessary to build an articulation, a Latin American integration that is not just commercial, financial, or complementary of our productions, but the integration of projects.
Marcelo Tramontano: Something you said saddens me, particularly – and I believe it saddens every researcher from the peripheries of the world – which is this fate of being constantly put back in the role of suppliers of commodities to industrialized countries, forced to give up the right to define the paths of our technical-scientific production. From this point of view, you argued that the institutional and productive dismantling we are experiencing today, in Brazil and throughout the South, would not be a setback but a readjustment to our eternal role as commodity exporters. From this same perspective, I would like you to comment on the place of academic, scientific, and technological research and its dissemination in the current global division of labor.
Diógenes Moura Breda: This topic interests me especially. I think it is relevant to recover some people little known in the field of Science and Technology in Brazil. The Argentine Oscar Varsavsky was a Chemist and Mathematician of Polish origin who worked with [the Brazilian anthropologist and politician] Darcy Ribeiro. And also Darcy Ribeiro himself, in the book The necessary university. Varsavsky's book Science, Politics, and Scientism is crucial, since, in the international division of labor, there is also an international division of scientific labor and knowledge production.
Now, what we are calling cutting-edge technology allows domination, extraordinary profits, transfers of value, unequal exchanges. In addition, science is today a key productive force since research and development laboratories and universities are where these new technologies come from. Naturally, the North wants to monopolize this knowledge. In the same way, it is natural for central countries to build a globalized scientific system capable of providing them with the knowledge they deem necessary. This is why the production of cutting-edge knowledge remains in these countries. For example, multinational companies never install super refined laboratories in peripheral countries. However, the world scientific structure, organized in journals from central countries, is a drain on knowledge produced in the periphery. Such a phenomenon is particularly true in countries like Brazil, with more robust university systems, despite the current precariousness.
In some very specific sectors, the South has excellent laboratories – such as the Sirius particle accelerator at the State University of Campinas, Brazil –, even with no sovereign scientific project. These centers of excellence end up working as appendices to research centers in core countries. What do I mean by appendices? In the Human Sciences, that process is quite visible, as there is an academic production structure centralized in central countries. In the absence of a national scientific project, the professor from a peripheral country who wants to advance in his career does not rebel against the academic structure but plays the game. He does all his possible to learn a foreign language – German, French, English. Then, he tries to link up with research centers in European and North American countries, sends scholarship students to universities there, is invited to give lectures, and somehow internalizes bibliographies and views from there into his research topics.
This is not good, for several reasons. In general, this dynamic produces very competent researchers but only capable of thinking about themes and problems established abroad. They cannot think about their own problems in Latin America, Brazil, Campinas, São Paulo, São Carlos, etc. And in the case the researcher looks at local issues, a kind of intellectual deformation makes him see this problem with foreign eyes because he will use the bibliographies of the countries of those research centers. They have money for funding, pay scholarships, hold high-impact journals, and so on. This criticism was manifested in the clash between postcolonial and decolonial researchers, who argued that postcolonials use French authors, such as Foucault, to discuss the idea of the periphery, for example. It is a pertinent critique made of postcolonial studies by the Puerto Rican sociologist Ramón Grosfoguel. The issue is not just the choice of the study theme, but with what eyes it will be studied.
In the Human Sciences, this issue is extremely important and it will only be possible to reverse it if, to some extent, there is a break with this line that is shaped in the Lattes curriculum model, which corresponds to the structure produced in the central countries. In the Exact or Natural Sciences, the issue is even more dramatic because we export for free knowledge produced in various public research centers, such as Sirius, the result of publicly funded research on Amazonian biodiversity, on new materials, in the scope of the pharmaceutical industry, and so on. The need for internationalization and to obtain good ratings in international rankings encourages these researchers to publish in English. Given the inability of countries such as Brazil to transform this knowledge into technologies and products – not only in the private, capitalist sense, as they could also become public products, such as public institutions and companies –, the result is that companies and the state of the central countries appropriate this knowledge and transform it into exportable products for us.
Perhaps the pharmaceutical industry is the perfect example of this process. All Amazonian biodiversity has been used for a long time to produce anti-depressant, analgesic, anti-inflammatory drugs, which we buy and pay at patent prices. This is interesting because, in the medical area and the biological sciences, Brazil is one of the great academic publishers on the periphery of the system. Despite this fact, we import around 95% of all the pharmaceutical inputs we use. The idea reflects in the health sector, and during the pandemic, it became much clearer with the issue of vaccines. We have the Fiocruz Foundation and the Butantã Institute, but we do not produce our vaccines. We packaged foreign vaccines from AstraZeneca and Sinovac, and we had to pay to use those vaccines at a time of global scarcity in 2020.
We realize, then, that when it comes to transforming this scientific knowledge into products to solve major problems for the population, the university, as an appendix to research centers in central countries, is incapable of acting quickly and effectively. Of course, I don't mean that no local researchers are swimming against the tide, organically linked to producing knowledge for social transformation. They exist, and I would say that they are not few. The point is that the university as an institution works contrary to this. So, the researchers who want to produce knowledge for sovereignty, carry out the social transformation, and solve fundamental problems of Brazilian and Latin American society, must refuse the university. But they have to pay a price. As research institutes outside the university are not numerous, those researchers find themselves at a dead-end. It is extremely difficult to get out of this. It takes a lot of courage and collective bonding, something that academia has been destroying in the process of hyper individualization, which is also functional to this production of alienated knowledge, colonized and exported to research centers abroad.
Marcelo Tramontano: Excellent, Diógenes, thank you. Without wanting to extend this issue too much, we perceive a part of the process you describe and criticize based on one of the sub-systems of the system you mentioned. It is made up of the major international publishers, which created both the evaluation rankings for universities and the rankings for academic journals that these same publishers index. And, of course, one of the main criteria for ranking universities is the number of publications in the journals indexed by them. It is, in the end, an enormous perversity.
Diógenes Moura Breda: Yes, it is such a widespread perversity that it even affects us, the sectors of the left, because every-now-and-then brings a trend, an impulse. The idea of the Global South or the studies on the racial issue highlights authors from the United States and only very recently rescued Clóvis Moura, Lélia Gonzales, Abdias Nascimento, and others who suffered from ostracism in Brazil. It is so perverse that, in the absence of an autonomous editorial structure, which will republish, update, make critical editions of an existing intellectual tradition, such as, for example, the racial issue in Brazil, we end up importing models from abroad. Of course, I will not say that Angela Davis is no good, which would be absurd. But the point is that the determining vector is often from the outside in. There is no recovery of our theorists, these organic intellectuals who were and are here producing knowledge. In studies of value transfer, unequal exchange, Dependence theory, we also often realize that we are only reading two or three authors in English. So it is somehow brutal. An effort to break away from this hegemony of knowledge production is necessary.
Marcelo Tramontano: Diógenes, one last question: after all that we have been talking about here, does the future look promising to you?
Diógenes Moura Breda: Well, my daughter Leonora was just born five weeks ago. So I think I have a compromise to believe that the future will be promising. We have to build that future. I believe this is a question of utopia, of a path, and not giving up. Looking at what is in front of us today, I should sit down and cry. I cannot see why I should complete graduate studies, I wonder why to have children. Everything conspires against what life is, against creation, against building a nation, a country, a people, a socialist Latin America, integrated, sovereign, and fair. Everything conspires against.
Now, what do we do with this? First, we need to understand that history is not written in advance. The future is not given. There is no teleology of history, nor anything that points to a mandatory hecatomb, an end of humanity: there is no such a thing as a given future. But if there is one thing that human beings are condemned to, it is to build their own history. We are condemned to build our way of life. It is not programmed in our genetic material how we are going to produce, exchange, love, and establish collectives. We are open-source beings, and this open-source condemns us to think about the future. So, I believe with the pessimism of reason and the optimism of action, I am forced to consider the future promising and work towards it.
1 Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America. See https://en.wikipedia.org/wiki/ALBA.
2 Latin American Strategic Center for Geopolitics. See http://ww.celag.org.