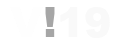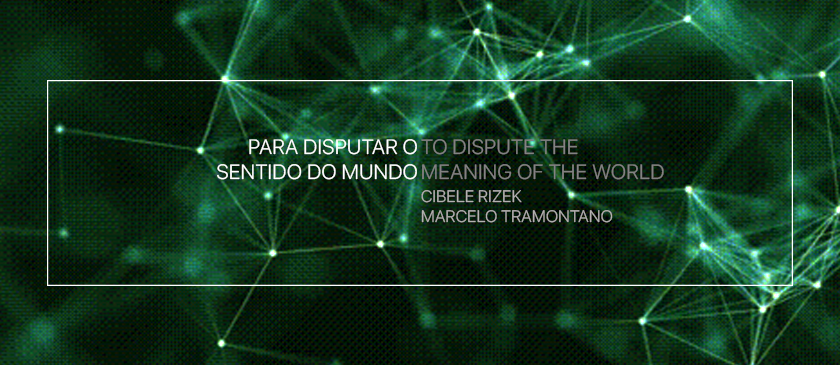
Para disputar o sentido do mundo
Cibele Rizek é Cientista Social, Doutora em Sociologia, e Professora Titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição. É pesquisadora do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, também da Universidade de São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: cidades, reestruturação produtiva, habitação, espaço público e cidadania.
Marcelo Tramontano é Arquiteto, Mestre, Doutor e Livre-docente em Arquitetura e Urbanismo, com Pós-doutorado em Arquitetura e Mídias Digitais. É Professor Associado do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição. Coordena o Nomads.usp e é Editor-chefe da revista V!RUS.
Como citar esse texto: RIZEK, C. S.; TRAMONTANO, M. Para disputar o sentido do mundo. V!RUS, São Carlos, n. 19, 2019. [online] Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus19/?sec=2&item=1&lang=pt>. Acesso em: 18 Jul. 2025.
Marcelo Tramontano: Cibele, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu gostaria que nós começássemos abordando alguns aspectos da expressão "A construção da informação". Proponho enxergarmos a noção de informação considerando sua etimologia e seu significado de "dar forma a" algo. Eu entendo que pensar a informação como um construto social recupera entendimentos consolidados nas ciências sociais, como o próprio conceito de redes sociais — independentemente do seu sentido atual mais coloquial.
Cibele Rizek: É bem interessante pensar que, do ponto de vista da antropologia filosófica, a questão da informação, pelo menos em termos da representação da forma, é constitutiva da própria produção da unidade cultural. Não há unidade cultural sem produção simbólica. A dimensão da passagem da natureza para a cultura, da natureza para a história, supõe essa capacidade que Marx, citando a linda metáfora de Aristóteles sobre o arquiteto e as abelhas, diria que é a de se enxergar um banquinho em uma árvore.
"Dar forma" supõe trans-formar, ou a trans-formação da natureza pelo trabalho humano. E essa ação transforma não apenas o objeto mas o sujeito desse processo. Do ponto de vista de uma antropologia filosófica e dos pressupostos filosóficos dessa antropologia, que está na origem das ciências sociais, é apenas nessa relação que o sujeito pode ser pensado como sujeito. Portanto, se a primeira informação é a linguagem, a linguagem é necessariamente um componente do processo de constituição do humano. Não há como alterar essa linguagem porque não existe unidade sem palavra. Não há, portanto, unidade sem informação, sem "dar forma a", sem trans-formar, sem in-formação.
Desse ponto de vista, é muito instigante pensar que os atuais novos processos de produção da informação são também novos processos de produção desses sujeitos. Eles não são mais os mesmos sujeitos. E se nós considerarmos toda a dimensão da produção, vamos perceber que a produção supõe uma historicização e uma enorme possibilidade de diversidade sócio-geográfica e sócio-histórica. Se a informação que se está produzindo é outra, ela supõe um outro sujeito e uma outra relação sujeito-objeto. É por isso que nós temos discutido, cada vez mais, formas crescentemente hibridizadas, em uma discussão que, aliás, também não é nova.
Donna Haraway, por exemplo, diz que todos nós já somos ciborgues. Exatamente porque já somos um sujeito que não pode mais ser pensado sem essa nova maneira de produção de informação, de novos objetos de transformação e, portanto, de novas relações sujeito-objeto e sujeito-sujeito. Eu estou, aqui, utilizando referências antigas porque, na verdade, esse processo de transformação da natureza, que supõe uma produção ao mesmo tempo simbólica, não acontece individualmente. Não é algo do indivíduo. A mediação é uma mediação das relações sociais, que nascem nesse mesmo contexto, nesse mesmo processo. Tudo é processo, nada está dado.
Pensar esse processo, hoje, enriquece muitíssimo a concepção do que é a relação sujeito-objeto no conjunto de relações sociais. Elas estão muito transformadas, muito mesmo, para o bem e para o mal, a partir, por exemplo, da altíssima velocidade de produção e transmissão da informação online. Eu me lembro de que, quando estávamos na manifestação do 15-M, você estava filmando a manifestação e o seu vídeo entrou online em tempo real, durante o ato. Isso significa um extremo encurtamento dos tempos e aproximação das distâncias, de forma mediada.
Essa dimensão é fundamental para pensarmos o que é, hoje, a produção desses sujeitos e objetos e as relações sociais. As relações de ancoragem espaço-temporal estão muito transformadas. Elas se ancoram de outra maneira porque o espaço e tempo querem dizer outras coisas. O aqui-agora é outra coisa. É até difícil fazer ciência social nesse momento porque tudo está avançando numa velocidade bastante grande, e de forma acelerada.
Além disso, acho importante também pontuar, por outro lado, o que se imagina como uma espécie de vinculação quase automática e quase espontânea das massas. Manuel Castells defende que há uma auto-conexão das massas, mais ou menos espontânea. Eu não tenho certeza disso. Acho que sim e não, porque há aí uma questão muito importante que devemos nos colocar o tempo todo sobre "quem são os sujeitos desse processo". É verdade que nós somos a ponta. Nós nos auto-conectamos em massa porque o celular está acoplado a cada um de nós. Estamos o tempo todo auto-conectados, de tal maneira que não conseguimos mais nos enxergar sem essa auto-conexão. Isso significa que a nossa própria imagem e nossa própria prática foram completamente transformadas.
Há também aí uma questão geracional, claramente visível na minha geração, na qual a auto-conexão foi menos importante, mas está se tornando cada vez mais central. Por que? Por exemplo, porque não há mais telefones públicos. Ou seja, um conjunto de equipamentos de mediação, de instrumentos técnicos, foi adensado e compactado no celular.
Por um lado, essa dimensão mediática potencializa imensamente o que fazemos. É evidente que nós só conseguimos escrever na quantidade que escrevemos, traduzir e enviar textos, porque temos o computador e todos os outros meios. Eu escrevi a minha dissertação de mestrado à mão, revisava muitas vezes, depois enviava o manuscrito a alguém que digitalizava o texto no computador, imprimia — em uma impressora matricial — e isso já era um grande avanço. Perceba a distância entre esse processo e hoje, em que eu escrevo um texto e envio para um seminário, em qualquer lugar do mundo, assim que eu terminei de escrevê-lo. Ele assume imediatamente a forma digital e, em boa medida, não existe mais no papel. Muito do que eu escrevi não existe e não existirá jamais no papel.
Não se trata somente de um modo de divulgação, mas de um outro modo de produzir informação textual. É, sobretudo, um outro modo de me conectar e de me produzir como alguém que escreve, que pensa. Estamos falando de texto, mas o mesmo ocorre com imagens e vídeos, recolocando a questão da pós-imagem, da pós-verdade, e da relação entre significante e significado, que também se alterou completamente.
MT: Como parte dessa reflexão sobre a infiltração dos meios digitais no nosso quotidiano, você pontua muito bem que a mediação não é da escala do indivíduo, mas da coletiva, porque opera no nível das relações sociais. Uma vez que esse sujeito é transformado intimamente, mas também em suas relações com os demais, podemos inferir que uma nova noção de esfera pública está se constituindo?
CR: Tem um texto muito interessante de Jürgen Habermas, escrito quando o livro dele "Mudança estrutural da esfera pública" completou trinta anos, cujo título é "O espaço público, 30 anos depois". Habermas já apontava alí a questão dos meios digitais, dos meios de publicação e de informação como uma nova esfera pública. A noção de espaço público supõe e precisa da noção de igualdade. No âmbito público, temos, necessariamente, que ter direito à palavra, à visibilidade, à ação. E tudo isso, de fato, se transformou muito. As manifestações de junho de 2013, no Brasil, por exemplo, consolidaram uma grande novidade que é a intermediação das redes sociais, via acesso ao Facebook, Whatsapp, etc.. Sobre esses fenômenos — junho de 2013, a Primavera Árabe, Occupy Wall Street e outros —, é interessante pensar exatamente a fricção entre o digital e as ruas. Essa relação fricciona, tensiona a rua e a informação. As duas coisas estão presentes simultaneamente, em conexão e em fricção. Isso é uma enorme novidade.
Então é possível dizer que há alteração na esfera pública, desde que se considere essa fricção. Porque dizer que o Facebook é uma esfera pública é discutível, por ser uma empresa. É discutível porque o seu uso é gratuito, para os usuários, mas isso não quer dizer que haja gratuidade na esfera dos big data, porque não há, evidentemente. O Facebook me iguala a todos esses outros atores? Sim, mas não à empresa que responde por ele. Ela tem uma presença fundamental nos processos de mediação, e, mais do que isso, ela desenha o modo de interação!
Acho interessante retornarmos aos ideais clássicos do que é o espaço público, pelo viés da Hannah Arendt e outros, recuperando a beleza da reflexão Arendtiana. Por que ela volta para a Grécia para pensar o espaço público? Porque a Grécia — o Ocidente — nos fez uma promessa, que é a promessa da política. Arendt volta para dizer que, sem a política, a noção de humanidade não se sustenta. Ela vincula a dimensão pública à constituição do humano e daquilo que nós herdamos dessa longa história ocidental.
Qual é, então, a questão? A questão é a possibilidade de discernir e de julgar, que não tem a ver apenas com informação, porque envolve critérios, que, por sua vez, têm a ver com formação. Vivemos um paradoxo que é o de termos uma quantidade imensa de informação à nossa disposição, uma biblioteca quase Borgeana — aquela ideia de Borges de uma biblioteca infinita — e, ao mesmo tempo, termos poucos critérios para discernir entre o justo e o injusto, o legítimo e o ilegítimo, etc.. Essa dimensão da impossibilidade de julgar coloca em risco exatamente o universo e a promessa da dimensão pública, que é o que Hannah Arendt chamou de banalização do mal. Quando ela acompanha o julgamento de Adolf Eichmann e depois escreve o livro "Eichmann em Jerusalém", ela diz que estava esperando encontrar um monstro, mas encontrou um homem que estava obedecendo ordens. Um homem absolutamente comum, que se adaptou. É isto que é terrível. Isto é a banalização do mal.
Eu, particularmente, acho que Hannah Arendt veria, hoje, as bolhas de Whatsapp ou da 'Terra plana', do 'kit gay' e todas essas manifestações, como a banalização absoluta do mal. Não simplesmente porque elas podem conduzir ao genocídio, mas porque elas podem, em última instância, comprometer nossa humanidade. Por um lado, isso é terrível. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer uma virtude no fato de lidar com essas manifestações quando, por exemplo, fazemos buscas na Internet sobre outros assuntos e as encontramos embaralhadas com o que buscamos. O instrumento de pesquisa é poderoso, refinado e maravilhoso. Mas todas essas barbaridades sem nexo que a busca também acaba nos trazendo reafirmam que já vivemos em um hibridismo de posições e concepções de mundo. E esse hibridismo nos coloca a necessidade cada vez maior de formar. Porque, diante do mar de informação que nós temos hoje, o que é educar? É construir critérios.
O que seria preservar a dimensão pública? Seria, precisamente, preservar a possibilidade desse encontro, desse diálogo, dessa presença e da constituição de critérios que possa nascer daí. O que estamos assistindo é o contrário disso. Porque é a ausência de critérios que constitui as bolhas. As bolhas se constituem porque as pessoas não querem julgar. Claro que eu estou pensando no Brasil, mas não só. Se você pensar no Brexit e no conjunto de absurdos que foram reiterados, ou na Marine Le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orbán, ou na forma como Donald Trump governa, é assim que eles agem. Trata-se de um enorme paradoxo, uma enorme contradição, que nos coloca um desafio igualmente enorme: como manter essa dimensão pública, democrática, com direito e acesso à palavra, à visibilidade, à diferença, com esta imensa quantidade de informação e sem os critérios? Por isso, eu acho que a questão da formação é, hoje, mais importante ainda, diante do labirinto de informações que temos à nossa disposição, a qualquer momento.
MT: Isso que você está dizendo me remete ao âmbito acadêmico, em que novas formas de fazer pesquisa e novos espaços de aprendizagem têm sido experimentados, a partir da ampliação do acesso à informação. Se nós compararmos os modos como se fazia pesquisa e se lidava com fontes e métodos há uma ou duas décadas com as práticas atuais, vamos encontrar grandes diferenças que, em última instância, convergem para a necessidade de julgamento e, portanto, de critérios de discernimento. O que mudou nessa construção acadêmica de formação e de produção de conhecimento científico?
CR: Faz muito tempo que a noção de verdade se perdeu. Já no início do século XX, a noção de verdade havia se perdido. Nenhum cientista sério, em nenhuma área do conhecimento, pode, desde então, afirmar que alguma coisa é verdade e ponto. O que existe são regimes de verdade, e todos sabemos disso. Thomas Kuhn escreveu "A estrutura das revoluções científicas" muito antes do advento da Internet, e ele mostra com toda clareza, nesse livro, que existe um paradigma segundo o qual há um corpo de questões que será iluminado e um outro que será engavetado. Onde está a verdade? Em qual desses corpos? Michel Foucault trabalhou o tempo todo desengavetando questões e procurando entender quais haviam desaparecido, por que desapareceram, e recuperando coisas e vendo o que delas poderia resultar... Ele inventa e recria aí toda uma dimensão arqueológica e, depois, genealógica.
Eu acho que essa dimensão da crise da construção do conhecimento é extremamente rica e também extremamente difícil. Por um lado, a construção do conhecimento é questionável porque todo conhecimento é provisório, e todos nós sabemos disso e concordamos. Isso significa que o que nós afirmamos a partir de uma pesquisa minimamente acadêmica e minimamente dotada de critérios científicos equivale ao senso comum? Não! Acontece que, hoje, ambos têm o mesmo estatuto. Se, por exemplo, eu perguntar a um menino de doze anos quais são os tratamentos possíveis para a erisipela, ele entra na Internet e vai me dizer várias alternativas possíveis de tratamento. Isso é muito perigoso porque está na raiz do movimento conservador que estamos presenciando. A cientista política Esther Solano, que faz pesquisas com eleitores pobres do Bolsonaro, relatou que, em uma das entrevistas que ela fez, uma senhora lhe disse: "Você é professora e eu não sou. Por que eu tenho que acreditar em você? Porque você é professora? Isso não significa nada para mim. Eu prefiro acreditar no pastor da minha igreja e na minha família.".
Essa é uma equivalência complicada. Ela tem um lado que é o respeito aos saberes populares, os quais são evidentemente saberes, são sistemas simbólicos e, obviamente, estão ao lado dos conhecimentos produzidos por uma pesquisa acadêmica. Mas qual a diferença entre as duas coisas? A diferença é que as nossas produções [acadêmicas] passam por um crivo da comunidade científica. Nós vamos a congressos, falamos sobre o que estamos pensando e estudando, apresentamos hipóteses, deixando claro que ainda são hipóteses, e nos abrimos à crítica.
Eu, por exemplo, tenho uma hipótese de explicação para um fenômeno social que envolve violência. Eu tenho indícios de certos acontecimentos, mas não tenho provas ainda. Parto de alguns fatos comprovados, como fenômeno localizado, mas penso que a lógica que preside suas ações extravazou. Um pesquisador especialista em violência pode não concordar com uma palavra do que estou dizendo. E eu também posso não concordar com algumas coisas que ele afirma. Essa discussão passa por um crivo. Ele e outros pesquisadores discutem meu texto, que, por sua vez, está referenciado em um conjunto de outros textos. Não fui eu quem fez essas outras pesquisas, mas nós temos um conjunto de diálogos em uma bibliografia e eu vou submeter o que penso a uma comunidade científica que vai dizer: é assim, ou não é, ou está em discussão.
Já uma asserção como a de que a Terra é plana é absurda, primeiro porque nós sabemos que a Terra não é plana. O que está por trás dessa asserção é uma teoria teológica, que ganha corpo dentro de uma proposta de Estado teocrático. Então essa equivalência é muito perigosa. Newton, Einstein e Olavo de Carvalho se equivalem? Não! Agora, como é que o Olavo de Carvalho constrói a teoria dele? Com as redes sociais online. A produção de conhecimento que vamos chamar de científico, apesar de toda a crítica que temos à cientificidade, passa por critérios. Passa por filtros. Você precisa produzir provas de plausibilidade, construir argumentos sobre elas, e submeter a uma comunidade acadêmica. Exatamente por isso, ela não equivale a esse outro tipo de discurso.
O grande problema, o grande perigo, é essa equivalência sem critérios. O problema é, de novo, a ausência de critérios de julgamento. Começa-se a se admitir uma plausibilidade, que é uma redução e um absurdo. Olavo de Carvalho divulga seus discursos pelo Youtube, afirma que a Terra é plana e há pessoas que acreditam nele, justamente porque causa da suposta equivalência desses diferentes discursos. Isso é informação? Não. Não naquele sentido de "dar forma a", e da produção do sujeito e do objeto. Isso é desinformação.
MT: Eu queria colocar uma outra questão, ainda dentro desse assunto. A crítica literária Michiko Kakutani, no seu livro The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump, sugere que a intelectualidade de esquerda da área das Humanidades, dos anos 1960, tem uma grande dose de responsabilidade no atual descrédito do saber científico. Kakutani argumenta que aqueles intelectuais iniciaram um processo de questionamento sistemático de tudo que vinha sendo ensinado e pesquisado nas universidades, incluindo a prática de se duvidar da própria ciência. Dizia-se, na época, que tudo precisava ser revisto, nada era como parecia ser, etc.. Eu queria que você comentasse isso.
CR: Sem dúvida nenhuma, houve um questionamento muito profundo, inclusive um questionamento de toda autoridade, em todos os sentidos: no sentido do autor, da própria ideia de autoridade, etc.. Algo desse processo de questionamento foi saudável. Foi, porque muita coisa tinha que ser questionada, tinha que ser quebrada. Alguns estudiosos dizem que o século XX acabou em 1968, e outros, que ele acabou em 1989, com a queda do muro de Berlim. Mas os anos 1960 estremeceram muitas ideias estabelecidas, e a intelectualidade apoiou esse movimento. Foucault fez as coisas tremerem, sem sombra de dúvida. Ele revisou a ideia de racismo de Estado, a própria ideia de Estado, e, mais tarde, Giorgio Agamben vai também puxar esses fios, e gerações de foucaultianos estão puxando esses fios até hoje, desestabilizando o saber e o poder. Na verdade, essa matriz é Nietzschiana, está lá no século XIX, e Foucault a retoma e vai dizer que a verdade é uma forma perversa de exclusão. No livro "Microfísica do poder", Foucault já está anunciando que a verdade está comprometida e é uma forma de exclusão.
Isso nos auxilia a assimilar e equalizar essas pós-verdades? Não sei. Se pensarmos que o passado nunca está em paz, e nem poderia estar porque o presente produz e reproduz o passado, nós teríamos que revê-lo, à luz desse nosso presente. É isso o que Michiko Kakutani está fazendo ao dizer que há uma responsabilidade da intelectualidade de esquerda dos anos 1960 e 1970. O próprio Thomas Kuhn diz que se trata de paradigmas historicamente constituintes. Se você quebrar o paradigma, esta verdade se esfarela. Mas pelo quê eu a substituo? E como eu a substituo? Reconhecer que uma determinada verdade é produto de um conjunto de relações de poder me leva à equivalência de todos esses saberes ou não?
É possível a produção do conhecimento democraticamente fundado? Não sei. Foucault diria que não, ainda que se tenha discursos e contra-discursos, poderes e contra-poderes — e a informação e o conhecimento nascem exatamente dessa tensão. Jacques Rancière, que foi muito próximo a Foucault, vai dizer que há uma partilha. Que não se trata de verdade e pós-verdade, mas de uma atitude de quebrar a unicidade de sentido de uma determinada fala de conhecimento, e disputar o sentido do mundo.
Mas disputar o sentido do mundo é uma coisa, e supor a equivalência de todas essas formas de conhecimento, é outra coisa, eu acho. Acho, porque também se eu não achar isso, saio da universidade, e paro de escrever e pensar. Eu ainda acho que faz muito sentido estar aqui, provocar, instigar, quebrar, partilhar, disputar. Porque acho que faz muito sentido para a desinformação. Faz muito sentido divulgar essa produção, disputar o sentido do mundo, como diria Rancière, porque eu tenho certeza absoluta de que é disso que se trata: de que as forças mais conservadoras e retrógradas estão disputando o sentido do mundo conosco. E elas não podem ficar sem resposta.
Uma das armas que essas forças têm é exatamente a arma da equivalência. O que aquela senhora disse para a Esther Solano — "por que eu tenho que acreditar em você? Eu prefiro acreditar no pastor porque ele é mais próximo de mim" — obedece a uma lógica que é o avesso do espaço público. Ela não é da ordem da cidadania, mas da ordem do sangue. É Antígona e não Creonte. Não é a cidade, é o sangue. Isso abre uma porta perigosa, que nós sabemos aonde vai nos levar. Quando se começa a falar da proximidade do sangue, começa-se a falar na raça pura, a localizar muito facilmente os inimigos internos, e abre-se caminho para o uso de armas para exterminar as diferenças.
MT: Cibele, eu queria incluir nessa nossa conversa uma outra forma de construção da informação que tem, é claro, um pouco a ver com essa questão, ainda que lide com outros conceitos, como a construção de cidadania e de um lugar de fala. Trata-se da produção insurgente de dados, em ações bottom-up, que vem sendo bastante discutida até como um ato de resistência, uma possibilidade outra de se produzir e construir conhecimento, inclusive coletivamente e comunitariamente, com um mínimo de controle externo.
CR: Eu acho que há uma disputa em torno das possibilidades de redes. É possível pensar, por exemplo, a produção de uma mídia independente, que foi e é fundamental, porque se utiliza de um conjunto muito interessante de procedimentos de raspagem de dados obtidos via redes. Essa mídia tem acesso a dados de um outro tipo, obtidos nos rios subterrâneos da Internet, que permitem produzir também um outro tipo de conhecimento.
Nas eleições de 2018, o sociólogo Adalberto Moreira Cardoso fez uma pesquisa sobre a polarização política em regiões metropolitanas brasileiras. Ele usou somente o Facebook para mapear e trabalhar informações sobre as classes médias, e o resultado foi bem interessante. Nas mesmas eleições, eu mapeei os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, quebrando unidades. Eu não queria saber os votos por estado, e sim por município. Quebrando os dados do estado do Paraná, que foi divulgado como tendo votado inteiramente no Bolsonaro, eu pude verificar se havia sido o estado inteiro ou se foram zonas. É interessante que, mesmo com um conhecimento mínimo de informática e de como pesquisar na rede, eu consegui perceber que diversas cidades do estado do Paraná não optaram por Bolsonaro.
E que zonas eram essas? Eram zonas onde havia a presença do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Isso altera alguma coisa? Sim, altera uma leitura. Se nós temos essa instrumentação, podemos obter inúmeros tipos de dados, porque estamos todos conectados. As classes médias estão conectadas, os pobres estão conectados, assim como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e tantos mais.
Portanto, se ultrapassarmos a camada mais consolidada e visível dessa informação e trabalharmos com outros tipos de obtenção de dados, é possível conseguir coisas inimagináveis. É possível, dessa forma, obter muitos dados quantitativos, e então talvez uma pesquisa qualitativa seja necessária para entender melhor o sentido atribuído às práticas, às ações. A pesquisa qualitativa face-a-face é quase insubstituível, porque o que o pesquisador percebe, ele percebe com uma grande riqueza. Mas isso não quer dizer que essa outra pesquisa via mídias não seja preciosa. Ela pode alterar a maneira como se faz ciência social hoje, mesmo que eu não ache que se possa reduzir tudo à dimensão digital.
Do meu ponto de vista, nós temos ainda um nível de relações pessoais não-mediadas e de práticas que precisaria ser entendido na fricção. Nós podemos caminhar para uma digitalização, mas eu acho que a dimensão híbrida é muito importante. A pesquisa digital fornece um conjunto de dados, mas é preciso escavar o sentido desses dados em uma realidade mais face-a-face, menos mediada digitalmente — também mediada, mas menos.
Comparando o mapeamento dos votos com as manifestações no Facebook, nas eleições de 2018, foi possível perceber que a relação de atrito entre eles pode ser mais interessante do que unicamente os dados do Facebook ou os dados sobre os votos. Porque existe um discurso, um conjunto de representações, um conjunto de imagens, um conjunto de encurtamentos espaço-temporais acontecendo nessa relação. Isso não anula a importância de se mapear o voto, e o voto não anula o que aconteceu, porque é um acontecimento nesse âmbito discursivo de representações e de luta simbólica. Uma coisa não anula a outra, e a fricção entre elas, a tensão, a congruência ou incongruência, constituem uma questão de pesquisa que me enriquece, e não empobrece.
MT: Você mencionou duas formas, ou dois princípios, de construção da informação. Um, voluntário, quando as pessoas foram às urnas e votaram, e outro, involuntário, quando elas postaram no Facebook e seus dados foram extraídos por terceiros. Isso me faz pensar em uma questão fundamental que é a construção da informação "apesar de". Uma forma de construção da informação não autorizada, mas que acaba por viesar comportamentos, visões de mundo, ou seja, induz outras construções de outras naturezas. Eu me aproximo disso pensando nos processos em que a construção da informação se realiza através da cessão compulsória de dados. Um dos muitos exemplos é o reconhecimento facial ou via cartão magnético dos metrôs, em que se é reconhecido pelo sistema, mapeado, de forma obrigatória porque, se não cedermos esses dados, não podemos usar o sistema público, ao qual deveríamos ter direito mesmo sem ceder dado nenhum.
CR: Essa questão de voluntário e involuntário está no início do trabalho dos antropólogos. O primeiro capítulo de uma tese de antropologia é sobre o autor. Todo o processo de chegada em campo, o que ele sentiu, as relações que iniciou e de que maneira, tudo isso é fundamental para entender que tipo de informação ele conseguiu construir. Essa é uma dimensão etnográfica interessantíssima, porque o pesquisador construiu uma informação a partir de um determinado lugar e a partir dele próprio, e foi afetado por ela. Isso é clássico na etnografia.
Mas tem outra coisa, que é a maneira como nos tornamos informação. De mil e uma maneiras. Ao fazer compras via Internet, nos tornamos um conjunto de informações negociáveis. E todos nós somos informações negociáveis. Essa informação, que compõe o big data, é uma mercadoria valiosíssima. Alguém se torna proprietário dessa informação, de maneira autorizada ou não. Eu penso que isso faz parte de uma forma muito contemporânea do capitalismo financeirizado, já que essas informações são ativos financeiros, e, portanto, negociados.
Por outro lado, a informação produz preferência, gosto, comportamento. Há pesquisas mostrando a ilegitimidade dos resultados da eleição de 2018 por conta da ação das empresas que foram pagas para espalhar fake news via Whatsapp. São os algoritmos produzindo bolhas. Ou seja, eles não se limitam a entender preferências e a atuar sobre essas preferências, mas passam a também produzir preferências, fatos e comportamentos. Temos aí novamente essa dimensão, que eu vou chamar de dialética, na qual há um sujeito produzindo informação e a informação produz um sujeito. E isso é rigorosamente novo.
É muito diferente da teoria da ideologia, da teoria do fetiche, porque não é simplesmente uma representação de mundo, mas uma prática. É uma possibilidade concreta de se produzir comportamento. Quem o produz? Quem é o sujeito? Essa pergunta a gente não se faz. Tratamos o mundo da informação como se ela fosse auto-produzida ou auto-propagada. Mas há sujeitos. Eles são invisíveis, mas estão lá.
Essa nova forma de se produzir informação não é a forma acadêmica, não é o senso comum, e tampouco é "Olavo-de-Carvalho". Mas a propósito de toda a informação genética, de biotecnologia, de comportamentos, precisamos nos perguntar "quem tem acesso a tudo isso?", e "quem produz esses comportamentos?". São formas de produção que têm tudo a ver com uma espécie de racionalidade neoliberal, no sentido de Dardot e Laval, porque se trata de empresas que não produzem objetos, mas big data, e esses dados e informações são ativos. Isso me preocupa muito porque reconfigura as relações entre empresas, informações, sujeitos e comportamentos.
MT: O sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, da UFABC, tem um estudo que toca nessa questão, no qual ele constrói uma hipótese que me parece muito plausível. Ele percebe essa coleta de dados de populações do Sul global como uma espécie de extrativismo contemporâneo. Os dados são coletados localmente por empresas e pelo Estado, que não têm capacidade técnica para processá-los e transferem esse processamento para grandes corporações internacionais, no bojo de parcerias tecnológicas discutíveis. Esses dados vão compor o astronômico volume de dados necessário para alimentar as imensas bases de dados de empresas de inteligência artificial. Trata-se de um fluxo que reforça e repete um processo histórico que, desde o período colonial, extrai riquezas do Sul em direção ao Norte do planeta. Como você vê isso?
CR: A maneira de impedir essa prática seria a decolonização. Só que isso é quase impossível porque, para que esse processo pudesse ser decolonizado, nós deveríamos ter acesso e domínio da produção técnica e tecnológica, coisa que visivelmente nós, do Sul, não temos. Buscando essa decolonialidade na história, nos movimentos anti-coloniais, por exemplo, vamos perceber que essa assimetria do mundo data do século XVIII. Se antes disso havia uma divisão entre metrópoles e colônias, no século XVIII o mundo é dividido entre países industrializados e não industrializados, e, mais tarde, entre os países que têm acesso à produção tecnológica e os que não têm. Isso culmina, hoje, em um grande movimento de desinvestimento em pesquisa e em produção de conhecimento, e na tentativa de transformação da economia brasileira numa economia agrária, sem agregação de valor. É disso que se trata, e esse não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Em paralelo, há uma extração de facto, de riquezas minerais físicas, absolutamente potencializada.
Como resposta, talvez seja necessário criar uma possibilidade de comunicação e divulgação da produção de informação independentemente das grandes empresas de comunicação e mineração de dados. Mas isso é difícil, quase impossível. A USP, por exemplo, aderiu ao sistema Google. Essa empresa passou a ter acesso direto e imediato a tudo que nós fazemos aqui. Então eu acho que o Sérgio Amadeu tem total razão porque, de certa maneira, esse passado colonial se perpetua. Ele se redesenha, se metamorfoseia, se modula mas se perpetua. Como podemos constituir uma mídia independente para além das formas de divulgação? Por onde passar? Eu não sei, temos que pensar nisso. Mas sei que a ciência e a produção científica fazem parte desse movimento de resistência. E percebo também que existe um movimento de resistência que passa por dentro das redes, o que nos lembra que não podemos prescindir das redes.
Durante a ditadura militar, a resistência se organizava, em grande medida, em torno da militância em organizações clandestinas. As pessoas tinham nomes de guerra e circulavam em um sistema que se baseava no segredo, no secreto. Isso não seria possível hoje, com o atual grau das armadilhas da transparência e dessa comunicação tão imediata quanto instantânea, que torna o segredo impossível. Zygmunt Bauman diz que a crise última da modernidade aconteceu quando foram colocados microfones nos confessionários, ou seja, a partir do momento em que não há mais diferença entre intimidade e publicidade. Eu penso que é exatamente isso que está acontecendo. E é por isso que é muito difícil fazer ciências sociais hoje. Porque os parâmetros clássicos, que emolduravam um conjunto de conceitos, simplesmente desapareceram.
Recentemente, eu dei um curso com Christian Azaïs fundamentado na noção de zonas cinzentas, que percebe que as binaridades perderam o sentido, aquelas molduras se dissolveram, e a questão das zonas cinzentas se tornou um desafio. O desafio é, inclusive, cognitivo, porque essas zonas se referem ao que não é formal nem informal, não é legal nem ilegal, não é público nem privado. Como lidar com isso? As categorias analíticas clássicas não dão conta de zonas cinzentas.
MT: Ao pensar nessas formas de resistência na contemporaneidade, algo que me chama a atenção é o contraste entre, por um lado, o uso que as forças conservadoras fazem das tecnologias de informação e comunicação – totalmente espúrio, certamente, disseminando fake news e discursos de ódio – e, por outro lado, as estratégias ainda bastante convencionais das esquerdas para fazer frente a esses ataques e se colocar nesses territórios em disputa. Ao publicizar segredos via redes, Edward Snowden, Julian Assange e o The Intercept nos ajudam a pensar novos modos de ação, que se utilizem dessas mesmas tecnologias, e que possam melhor corresponder ao mundo atual e às novas formas de lidar com a informação. Práticas de resistência como paralisações, piquetes e manifestações de rua, que são com certeza ainda válidas, potentes e necessárias, talvez possam, assim, ser ampliadas e repensadas.
CR: Eu acho que vamos ter que inventar. Acho que já estamos inventando, e de uma forma muito potente. Uma manifestação que me impressionou muito foi a do #elenão, de setembro de 2018, contra a candidatura de Bolsonaro. A manifestação foi convocada principalmente pelo feminismo negro, e foi uma das maiores manifestações que eu já vi no Largo da Batata, em São Paulo. Ela tinha dimensões que combinavam as convocatórias e instruções divulgadas pelas redes, e as formas de convocação boca a boca. Ao olhar para uma manifestação como essa, não é possível não enxergar uma potência. Ali estavam desde pequenos coletivos até grandes partidos e sindicatos, combinando-se em um processo que aconteceu, ao mesmo tempo, nas ruas e via redes, onde produziu-se informação. Produziu-se uma manifestação inimaginavelmente grande, exatamente porque não há segredo.
Por outro lado, nós temos que pensar muito seriamente sobre a maneira como têm sido trocadas essas mensagens de ódio e discriminação pelo Whatsapp. Muitas ultrapassam o limite da legalidade, constituindo crimes passíveis de prisão. Mas quem é responsável por elas? Há, portanto, uma diminuição da responsabilidade. Pode-se inventar o que quiser e espalhar para quem se quiser. Não há filtros. E, mesmo do ponto de vista de um marco regulatório legal, os limites ficam cinzentos.
O papel da Academia é pensar sobre isso, procurar entender. Nós temos que pensar seriamente sobre isso, sob pena de não conseguirmos sair desse imbroglio. Nós somos tratados como bolha, uma bolha a mais, e é fundamental sair dessa bolha, falar, escrever, conversar, nos mostrarmos e mostrar a que viemos. Nós fomos transformados em um inimigo interno, e muito curiosamente uma parte dos grupos criminosos são os amigos internos. Essa inversão aponta para a absoluta perda de critérios de julgamento que nos coloca no nível daquilo que, um dia, Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. E nós precisamos ter isso como horizonte. É difícil, mas necessário.
Eu sempre apostei muito na universidade. Pode ser que o que estamos fazendo aqui seja só a intenção de plantar sementes, pode ser que sejam só cartas ao mar. Mas estamos disputando um lugar que estamos tentando preservar, em um mundo que está reduzindo a produção do conhecimento a nada.
Não se pode separar a produção da tecnologia da produção de conhecimento. Embora em níveis variados, a produção de muitos tipos de tecnologias, de instrumentos que nos permitam, por exemplo, evitar essa sangria de dados, supõe pesquisa. Supõe produção de conhecimento, investimento e autonomia. E disso não dá para abrir mão, pelos menos como horizonte.
To dispute the meaning of the world
Cibele Rizek is a Social Scientist, Ph.D. in Sociology, and Full Professor at the Institute of Architecture and Urbanism of the University of Sao Paulo, Brazil, and the Graduate Program in Architecture and Urbanism at the same institution. She is a researcher at the Center for Citizenship Rights Studies, also at the University of Sao Paulo, and guides and develops research on the subjects such as cities, productive restructuring, housing, public space, and citizenship.
Marcelo Tramontano is an Architect, Master, Doctor, and Livre-docente in Architecture and Urbanism, with a Post-doctorate in Architecture and Digital Media. He is an Associate Professor at the Institute of Architecture and Urbanism of the University of Sao Paulo, Brazil, and the Graduate Program in Architecture and Urbanism of the same institution. He directs Nomads.usp and is the Editor-in-Chief of V!RUS journal.
How to quote this text: Rizek, C. S., Tramontano, M., 2019. To dispute the meaning of the world. V!rus, Sao Carlos, 19. [e-journal] [online] Available at: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus19/?sec=2&item=1&lang=en>. [Accessed: 18 July 2025].
Marcelo Tramontano: Cibele, thank you so much for accepting our invitation. I would like us to start this conversation by addressing some aspects of the expression "The construction of information." I propose to approach the notion of information considering its etymology and its meaning of "giving shape to" something. I understand that thinking of information as a social construct recovers consolidated understandings in the social sciences, such as the very concept of social networks – regardless of their current colloquial meaning.
Cibele Rizek: It is quite interesting to think that for philosophical anthropology, the issue of information is constitutive of the very production of cultural unity, at least in terms of form representation. There is no cultural unity without symbolic production. The dimension of the passage from nature to culture, from nature to history, assumes the ability that Marx, citing Aristotle's beautiful metaphor about the architect and the bees, would say that one can see a stool on a tree.
"To give form" supposes to trans-form, or the trans-formation of nature by human work. And this action transforms not only the object but the subject of this process. From the point of view of philosophical anthropology and the philosophical assumptions of this anthropology, which is at the origin of the social sciences, only in this relationship can the subject be thought of as a subject. Therefore, if the first information is language, language is necessarily a component of the human constitution process. There is no way to alter the language because there is no unity without a word. Consequently, there is no unity without information, without "giving shape to", without transforming, without information.
From this perspective, it is very exciting to think that today's new information production processes are also new production processes of these subjects. As these latter are no longer the same subjects. And if we consider the whole dimension of production, we will realize that production implies a historicization and a huge possibility of socio-geographical and socio-historical diversity. If the information being produced is different, it presupposes another subject and another subject-object relation. This is why we have been increasingly discussing more and more hybridized forms in a discussion that, incidentally, is not new either.
Donna Haraway, for example, says we are all already cyborgs. Precisely because we are already a subject that can no longer be thought without this new way of producing information, new objects of transformation and, therefore, new subject-object and subject-subject relations. I am here using ancient references because, in fact, this process of transformation of nature, which implies a symbolic production at the same time, does not happen individually. It is not something of the individual. Mediation is a mediation of social relations, which are born in this same context, in this same process. Everything is a process, nothing is given.
Thinking about this process today greatly enriches the conception of what is the subject-object relationship in the whole of social relations. They are much transformed, both for good and for bad, from the very high speed of production and online information transmission. I remember when we were at the 15-M rally, and you were filming the rally and your video came online in real-time during the act. This shows an extreme shortening of times and approximation of distances, in a mediated way.
This dimension is crucial for thinking about what is today the production of these subjects and objects, and social relations. The spatiotemporal anchor relations are greatly transformed. They are grounded differently because space and time mean other things. The here-now is something else. It is even hard to do social science right now because everything is moving so fast and accelerating.
Moreover, I think it is also important to point out, on the other hand, what is imagined as a kind of almost automatic and spontaneous attachment of the masses. Manuel Castells argues that there is a more or less spontaneous self-connection of the masses. I am not sure about that. I think so and not because there is a very important question that we must ask ourselves all the time about "who is the subject of this process". We are indeed the tip. We connect massively because we have a cell phone attached to each of us. We are all the time self-connected so that we can no longer see ourselves without this self-connection. This means that our image and our practice have been already completely transformed.
There is also a generational issue here, clearly visible in my generation, for whom self-connection has been less important but is becoming increasingly central. Why? Because there are no more public phones, for example. That is, a whole set of mediation equipment and technical instruments was densified and compacted in the cell phone.
On the one hand, this media dimension greatly enhances what we do. We can only write as much as we write, translate and send texts because we have computers and all the other digital means. I wrote my master's dissertation by hand, revised the versions many times, then sent the manuscript to someone who digitized the text on the computer, printed it – on a dot matrix printer – and that was a breakthrough. Notice the distance between this process and today, when I write a text and send it to a seminar, anywhere in the world, as soon as I have finished writing it. It immediately takes a digital form and to a large extent no longer exists on paper. Much of what I wrote does not exist and will never exist on paper.
It is not just a way of spreading, but another way of producing textual information. It is essentially another way of connecting and producing me as someone who writes, who thinks. We are talking about text, but so are images and videos, reminding the post-image and post-truth issue, and that of the relationship between signifier and signified, which also changed completely.
MT: As part of this reflection on the infiltration of digital media into our daily lives, you point out very well that mediation is not on the scale of the individual but of the collective because it operates at the level of social relations. Since this subject is transformed intimately, but also in his relations with others, can we infer that a new notion of the public sphere is being constituted?
CR: There is a very interesting text by Jürgen Habermas, written when his book "The Structural Transformation of the Public Sphere" turned thirty, entitled "The Public Space, 30 Years Later". Habermas already pointed in that text to the issue of digital publishing and information media as a new public sphere. The notion of public space supposes and needs the notion of equality. In the public sphere, we must necessarily have the right to speak, to be visible, to act. And all of that has changed a lot. The June 2013 demonstrations in Brazil, for example, consolidated a big novelty that is the intermediation of social networks, via Facebook, Whatsapp, and so on. About these phenomena – June 2013, the Arab Spring, Occupy Wall Street and others – it is interesting to think about the friction between the digital and the streets. This relationship rubs, tensions the street and information. Both are present simultaneously, in connection and friction. This is a tremendous novelty.
So it is possible to say that there is a change in the public sphere, provided that this friction is considered. Because it is debatable to say that Facebook is a public sphere, as it is a private company. It is debatable because it is free for users, but that doesn't mean that something is free in the big data realm, of course not. Does the Facebook platform equal me to all these other actors? Yes, but not to the company that accounts for it. The company has a key presence in mediation processes, and, more than that, it draws the way of interacting!
I find it interesting to return to the classic ideals of public space, through the bias of Hannah Arendt and others, recovering the beauty of Arendt's reflection. Why does she return to Greece to think about public space? Because Greece – the West – has made us a promise, which is the promise of politics. Arendt goes back to saying that without politics, the notion of humanity does not hold. She links the public dimension to the constitution of the human and what we inherit from this long western history.
What, then, is the point? The point is the ability to discern and to judge, which is not just about information because it involves criteria, which in turn have to do with training. We live a paradox that we have an immense amount of information at our disposal, a quasi-Borgean library – the Borges's idea of an infinite library – and at the same time, we have few criteria for discerning between the just and the unjust, the legitimate and illegitimate, and so on. This inability to judge puts the universe and the promise of the public dimension at risk, which is what Hannah Arendt called the banality of evil. When she follows Adolf Eichmann's trial and then writes the book "Eichmann in Jerusalem," she says she was expecting to find a monster but found a man who was obeying orders. An absolutely ordinary man who has adapted. This is what is terrible. This is the banality of evil.
I think Hannah Arendt would see today the Whatsapp bubbles or the flat-Earth bubbles, the gay kit ones, and all these manifestations, as the absolute banality of evil. Not only because they can lead to genocide, but because they can ultimately compromise our humanity. On the one hand, this is terrible. But, on the other hand, one must recognize a virtue in dealing with these manifestations when we search the Internet about other issues, for example, and find them scrambled with what we seek. Research tools are powerful, refined and wonderful. But all these nonsense barbarities that the search also brings us reaffirm that we already live in a hybridism of positions and worldviews. And this hybridity shows us the growing need to educate. Because, given the sea of information we have today, what does educating mean? It means building criteria.
What would it mean to preserve the public dimension? It would designate precisely to preserve the possibility of this encounter, of this dialogue, this presence and the constitution of criteria that may arise from it. What we are witnessing is the opposite. Because it is the absence of criteria that constitutes bubbles. Bubbles are formed because people don't want to judge. Of course, I'm thinking of Brazil, but not only. If you think about Brexit and all the nonsense that has been reiterated, or Marine Le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orbán, or the way Donald Trump rules, that is how they act. This is a huge paradox, a huge contradiction, which poses an equally huge challenge for us: how to maintain that public, democratic dimension, with right and access to the word, to visibility, to difference, with this enormous amount of information and without criteria? Therefore, I think that the issue of educating is even more important today, given the maze of information we have at our disposal at any time.
MT: What you are saying brings me to the academic realm, in which new ways of doing research and new learning spaces have been tried, from the expanding access to information. If we compare how we used to research and handle sources and methods a decade or two ago with current practices, we will find major differences that ultimately converge on the need for judgment, and therefore criteria for discernment. What has changed in this academic construction of educating and production of scientific knowledge?
CR: The notion of truth has long been lost. By the early twentieth century, the notion of truth had already been lost. No serious scientist in any area of knowledge can since claim that anything is true, and period. What exists are regimes of truth, and we all know that. Thomas Kuhn wrote "The Structure of Scientific Revolutions" long before the advent of the Internet, and he clearly shows in this book that there is a paradigm according to which there is a body of questions that will be illuminated, and another one which will be shelved. Where is the truth? In which of these bodies? Michel Foucault worked all the time unraveling questions and trying to understand which ones had disappeared, why they disappeared, and retrieving things and checking what might come of them. He invented and recreated an entire archaeological and then genealogical dimension.
I think this dimension of the knowledge-building crisis is extremely rich and also extremely difficult. On the one hand, the construction of knowledge is questionable because all knowledge is provisional, and we all know it and agree. Does this mean that what we claim from minimally based scientific research is common sense? No! It turns out that both have the same status. If, for example, I ask a twelve-year-old boy what are the possible treatments for erysipelas, he goes online and tells me several treatment alternatives. This is very dangerous because it is at the root of the conservative movement that we are witnessing. Political scientist Esther Solano, who surveys poor Bolsonaro voters, reported that in one of her interviews, a lady told her, "You are a teacher and I am not. Why should I believe you? Because you are a teacher? That means nothing to me. I'd rather believe the pastor of my church and my family.".
This is a complicated equivalence. It has a side that is the respect for popular knowledge, which is obviously knowledge, symbolic systems and, of course, side by side with the knowledge produced by academic research. But what is the difference between the two? The difference is that our productions are screened by the scientific community. We attend conferences, talk about what we are thinking and studying, make assumptions, make it clear that they are still hypotheses, and open ourselves to criticism.
I, for one, have a hypothesis of explanation for a social phenomenon involving violence. I have clues of certain events, but I have no evidence yet. I start from some proven facts, as localized phenomena, but I think the logic behind its actions has gone beyond. A researcher who specializes in violence may not agree with any word of what I am saying. And I may also disagree with some things he claims. This discussion goes through a sieve. He and other researchers discuss my text, which, in turn, is referenced in other texts. I am not the one who has done this other research, but we have dialogues in bibliography and I will submit my thoughts to a scientific community that will say: this is correct, or it is not, or it is under discussion.
Instead, an assertion as that the Earth is flat is absurd, and firstly because we know that the Earth is not flat. What lies behind such an assertion is a theological theory, which takes shape within a theocratic state proposal. So this equivalence is very dangerous. Are Newton, Einstein and Olavo de Carvalho1 equivalent? No, they aren't! Now, how does Olavo de Carvalho build his theory? Through online social networks. The production of knowledge that we will call scientific, despite all our criticism of scientificity, goes through criteria. It goes through filters. You need to produce plausibility evidence, make arguments about it, and submit to an academic community. Precisely for this reason, it is not equivalent to this other kind of speech.
So the most consequential problem, the most significant danger, is this uncritical equivalence. The problem is again the absence of judgment criteria. One begins to admit a plausibility, which is a reduction and an absurdity. Olavo de Carvalho publishes his speeches on Youtube, states that the Earth is flat, and there are people who believe him, precisely because of a supposed equivalence of these different speeches. Is this information? No. Not in that sense of "giving shape to," and the production of subject and object. This is misinformation.
MT: I would like to ask you another question, still on this topic. The literary critic Michiko Kakutani, in her book "The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump", suggests that the leftist intelligentsia of the 1960s has a great deal of responsibility in the current discredit of scientific knowledge. Kakutani argues that those intellectuals began a process of systematic questioning of all that was being taught and researched at universities, including the practice of doubting science itself. It was said at the time that everything had to be reviewed, nothing was as it appeared to be, and so on. Would you like to comment on that?
CR: Undoubtedly, there was at the time a very deep questioning, including the questioning of all authority, in every way: in the author's sense, of the very idea of authority, and so on. This questioning process was somewhat healthy. It was, because so much had to be questioned, and broken. Some scholars say the twentieth century ended in 1968, and others say it ended in 1989, with the fall of the Berlin Wall. But the 1960s shook many established ideas, and intellectuals supported this movement. Foucault made things tremble, with no doubt. He revised the idea of state racism, the very idea of a state, and later Giorgio Agamben will also pull these threads, and generations of Foucaultians have been pulling these threads, destabilizing knowledge and power. In fact, this is a Nietzschean matrix, located in the nineteenth century, and Foucault takes it back and says that truth is a perverse form of exclusion. In the book "Microphysics of Power", Foucault is already announcing that truth is compromised and is a form of exclusion.
Does this help us to assimilate and equalize post-truths? I am not sure. If we think that the past is never at peace, nor could it be because the present produces and reproduces the past, we should review it in light of our present. This is what Michiko Kakutani is doing by saying that there is a responsibility of the leftist intelligentsia of the 1960s and 1970s. Thomas Kuhn himself says that these are historically constitutive paradigms. If you break the paradigm, this truth crumbles. But for what I replace it? And how do I replace it? Does recognizing that a certain truth is the product of a whole of power relations lead me to the equivalence of these different knowledge or not?
Is the production of democratically founded knowledge possible? I don't know. Foucault would say no, even if there are discourses and counter-discourses, powers and counterpowers, and information and knowledge are born of this tension. Jacques Rancière, who was very close to Foucault, says there is a sharing, a "partage" in French. He says that it is not about truth and post-truth, but an attitude of breaking the oneness of meaning of a particular speech of knowledge, and disputing the meaning of the world.
Now, to dispute the meaning of the world is one thing, and to assume the equivalence of all these forms of knowledge is something else, I believe. And I believe that because otherwise I would leave university, and stop writing and thinking. I still believe it makes a lot of sense to be here, and provoke, instigate, break, share, dispute. Because that makes a lot of sense against misinformation. It makes perfect sense to publicize academic production to dispute the meaning of the world, as Rancière would say, because I am absolutely sure that this is what it is all about. That is, the most conservative and backward forces are vying for the meaning of the world with us. And they cannot be left unanswered.
One of the weapons these forces have is the weapon of equivalence. What that lady said to Esther Solano — "Why would I believe you? I prefer to believe the pastor of my church because he is closest to me" — follows a logic that is the reverse of public space. It is not of the order of citizenship, but of the order of blood. It is Antigone and not Creon. It is not the city, it's the blood. This opens a dangerous door that leads us down a path we already know. When one begins to speak of the proximity of the blood, race purity, and to identify the inner enemies too easily, one opens the way for the use of real weapons to exterminate the differences.
MT: Cibele, let me include in our conversation another form of information construction that has something to do with this topic, even though it deals with some other concepts, such as the construction of citizenship and a place of speech. It is the insurgent production of data, in bottom-up actions, which has been widely discussed even as an act of resistance, as another possibility to produce and build knowledge collectively and communally, with a minimum of external control.
CR: I think there is a dispute over the possibilities of networking. It is possible to think, for example, the production of independent media, which was and is crucial, because it uses a very interesting set of data scraping procedures obtained through networks. This media has access to another kind of data, obtained in the underground rivers of the Internet, which allows producing another kind of knowledge.
In the Brazilian presidential elections of 2018, sociologist Adalberto Moreira Cardoso researched on political polarization in Brazil's metropolitan regions. He used Facebook to map and work information about the middle classes. He only used Facebook, and the result was amazing. In the same elections, I monitored the Supreme Electoral Court data, by breaking units. I did not want the votes by state, but by the municipality. By breaking down the state of Paraná data, which was released as having voted entirely for Bolsonaro, I was able to see if this was the choice of the entire state or just zones. Interestingly, even with a minimum knowledge of computer science and how to search the network, I could see that several zones in the state of Paraná did not choose Bolsonaro.
And what were those zones? These were areas where the Landless Workers Movement had a significant presence. Does that change anything? Yes, this alters a reading. If we have this instrumentation, we can get countless types of data because we are all connected. The middle classes are connected, the poor are connected, as are the Landless Workers Movement, the Homeless Workers Movement, and so many others.
Therefore, if we go beyond the most consolidated and visible layer of this information, and work with other types of data collection, it is possible to achieve unimaginable things. This way one can get a lot of quantitative data, so perhaps qualitative research is needed to better understand the meaning of practices and actions. Qualitative face-to-face research is almost irreplaceable because what the researcher perceives, he perceives with great wealth. But this does not mean that research via digital media is not precious. It can change the way we do social science today, even though I do not think we can reduce everything to the digital dimension.
It is my feeling that we still have a level of unmediated personal relationships and practices that must be understood in friction. We can go digital, but I think the hybrid dimension is very important. Digital research provides a body of data, but the meaning of this data needs to be excavated in a more face-to-face, less digitally mediated reality — which is also mediated but to a lesser extent.
Comparing the mapping of votes with the posts on Facebook in the 2018 elections, it was clear that the friction relationship between them may be more interesting than just either Facebook data or vote data. Because there is a discourse, a whole of representations, a whole of images, of space-time shortening happening in this relationship. This does not nullify the importance of mapping the vote, and the vote does not nullify what happened, because it is an event in this discursive sphere of representations and symbolic struggle. One thing does not nullify the other one, and the friction between them, the tension, the congruence, or the incongruity, is a matter of research that enriches me, and does not impoverish me.
MT: You mentioned two ways, or two principles, of information construction. One is voluntary when people went to the polls and voted, and the other one is involuntary when they posted on Facebook and their data was extracted by third parties. This makes me think of a fundamental issue which is the construction of information "despite". I mean an unauthorized form of information construction, but it ends up biasing behaviors, worldviews, as it induces constructions of other natures. I approach this idea by thinking of the processes in which the construction of information takes place through a compulsory assignment of data. An example is the subway's face or magnetic card recognition system, where the user is required to be mapped and recognized by the system. If you do not give in this data, you will not be allowed to use a public system. And yet we have the right to use it even without giving in data.
CR: This question of voluntary or involuntary is at the beginning of the work of anthropologists. The first chapter of an anthropology thesis is about the author. His whole process of arrival in the field, what he felt, the relationships he started, and how, all this is critical to understanding what kind of information he was able to build. This is a very interesting ethnographic dimension, because the researcher builds information from the place and from himself, and is affected by it. This is a classic issue in ethnography.
But there is something else, which is the way we become information. In a thousand and one ways. By shopping over the Internet, we become a marketable set of information. We are all negotiable information. This information, which makes up big data, is a valuable commodity. Someone becomes the owner of this information, whether authorized or not. I think this is part of a very contemporary form of financialized capitalism, as this information is financial assets, and they are therefore traded.
On the other hand, information produces preference, taste, behavior. There is research showing the illegitimacy of the results of the 2018 Brazilian election due to the actions of companies that were paid to spread fake news via Whatsapp. These are the algorithms producing bubbles. That is, they are not limited to understanding preferences and acting on those preferences, but they also produce preferences, facts, and behaviors. Here again, we have this dimension, which I will call dialectic, in which a subject produces information and information produces a subject. And this is strictly new.
This is very different from the theory of ideology, the fetish theory because it is not simply a representation of the world, but a practice. It is a concrete possibility of producing behavior. Who produces it? Who is the subject? This question we do not usually ask ourselves. We treat information as if it were self-produced or self-propagating. But there are subjects. They are invisible, but they are there.
This new way of producing information is not academic, it is not common sense, nor is it "Olavo-de-Carvalho". But about all the genetic information, biotechnology, behaviors, we need to ask ourselves "who has access to all this?" and "who produces those behaviors?". These are modes of production that relate to a kind of neoliberal rationality, in the sense of Dardot and Laval, because these companies do not produce objects but big data, and these data and information are financial assets. This worries me a lot because it reconfigures the relationships between companies, information, subjects, and behaviors.
MT: Sociologist Sérgio Amadeu da Silveira, from the Brazilian Federal University of ABC, proposes a study addressing this issue, in which he builds a hypothesis that seems very plausible to me. He perceives this data collection from populations of the global South as a kind of contemporary extractivism. Data is collected locally by companies and the state, which do not have the technical capacity to process it. They transfer this processing to large international corporations in the midst of doubtful technology partnerships. This data will make up the astronomical volume of data needed to feed the huge databases of artificial intelligence companies. It is a flow that reinforces and repeats a historical process that, since the colony period, has extracted riches from the South towards the North of the planet. How do you see it?
CR: The way to prevent this process is decolonization. But this is almost impossible because, in order for this process to be decolonized, we must have access to and mastery of technical and technological production. This is something that we, in the South, clearly do not have. Seeking this decoloniality in history, for example in anti-colonial movements, we will realize that this asymmetry of the world dates from the eighteenth century. If before that there was a division between metropolises and colonies, in the eighteenth century the world has been divided between industrialized and non-industrialized countries, and later between countries that have access to technological production and those that do not. This culminates today in a major disinvestment movement in research and knowledge production, and in the attempt to transform the Brazilian economy into an agrarian economy without value-added. This is what it is about, and this phenomenon does not only occur in Brazil but throughout Latin America. In parallel, there is a de facto extraction of physical mineral wealth, absolutely potentiated.
In response, it may be necessary to create a possibility for communication and dissemination of information production independently of large data mining and communication companies. But this is difficult, almost impossible. Our university, for instance, has joined the Google system. This company now has direct and immediate access to everything we do here. So I think Sérgio Amadeu is right because, in a way, our colonial past remains perpetuated. It is redesigned, metamorphosed, modulated but perpetuated. How can we constitute independent media beyond the forms of disclosure? Where to go through? We don't know but we have to think about it. But what I know is that science and scientific production are part of this resistance movement. And I also realize that there is a resistance movement that goes through the online networks, which reminds us that we cannot do without the networks.
In Brazil, during the military dictatorship, resistance was largely organized around militancy in clandestine organizations. People had fictitious names and circulated in a secret system that was based on secrecy. This would not be possible today, with the present degree of transparency traps, and such immediate and instantaneous communication that makes secrecy impossible. Zygmunt Bauman says that the ultimate crisis of modernity occurred when microphones were placed in the confessionals, that is, from the moment when there is no more difference between intimacy and publicity. I think this is exactly what is happening today. And that's why it is so hard to do social science today. Because the classic parameters, which framed a set of concepts, simply disappeared.
Recently, I taught a course with Christian Azaïs based on the notion of gray zones, which considers that binary has lost its meaning. Those frames dissolved and the gray zone issue became a challenge. The challenge is even cognitive because such zones refer to what is neither formal nor informal, neither legal nor illegal, neither public nor private. How to deal with it? The classical analytical categories do not account for gray zones.
MT: When I think of these forms of resistance in contemporary times, what strikes me is the contrast between, on the one hand, the conservative forces' use of information and communication technologies – no doubt utterly spurious by spreading fake news and hate discourses – and, on the other hand, the still quite conventional left-wing strategies to counter these attacks and place themselves in disputed territories. By publicizing secrets via networks, Snowden, Assange, and The Intercept help us think of new ways of acting supported by digital technologies, that might better match today's world and new ways of dealing with information. Resistance practices such as stoppages, pickets and street demonstrations, which are unquestionably still valid, powerful and necessary, may perhaps be expanded and rethought.
CR: I think we must invent. I think we are already making it up and in a very potent way. One manifestation that has greatly impressed me was that of the #elenão in September 2018, against Bolsonaro's candidacy. The demonstration was convened mainly by the black feminist movement, and it was one of the biggest demonstrations I have ever seen in the Batata Square, in the city of Sao Paulo. It had dimensions that combined the summonses and instructions posted on online networks, and face-to-face summonses. When looking at such a manifestation, it is impossible not to see strength. Participants ranged from small collectives to large political parties and trade unions, combining in a process that took place simultaneously on the streets and via online networks, where information was produced. An unimaginably large manifestation took place precisely because there is no secret anymore.
On the other hand, we have to think very seriously about how these messages of hatred and discrimination have been exchanged by Whatsapp. Many go beyond the limit of legality, they are crimes that can be punished with imprisonment. But who is responsible for that? There is a decrease in responsibility nowadays. You can invent whatever you want and spread it to anyone you want. There are no filters. And even from a legal regulatory framework perspective, the boundaries go gray.
The role of the academy is to think about it, to try to understand it. We have to seriously think about it, otherwise, we can not get out of this imbroglio. We are treated like a bubble, one more bubble, and we must to get out of that bubble, speak, write, talk, expose ourselves and our capabilities. We have been turned into an internal enemy of society, and curiously a part of the criminal groups are the internal friends. This reversal points to the absolute loss of judgment criteria that puts us on the level of what Hannah Arendt once called the banality of evil. And we need to have it as a horizon. It is difficult but necessary.
I always bet a lot on the university. Perhaps what we are doing here is just the intention of planting seeds, it may just be letters to the sea. But we are vying for a place we are trying to preserve, in a world that is reducing the production of knowledge to nothing.
The production of technology cannot be separated from knowledge production. Although at varying levels, the production of many types of technologies that allow us, for example, to avoid such data bleeding, implies research. It implies knowledge production, investment, and autonomy. And we can not give that up, at least as a horizon.
1 Olavo de Carvalho is the chief intellectual mentor of Bolsonaro government supporters.