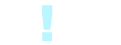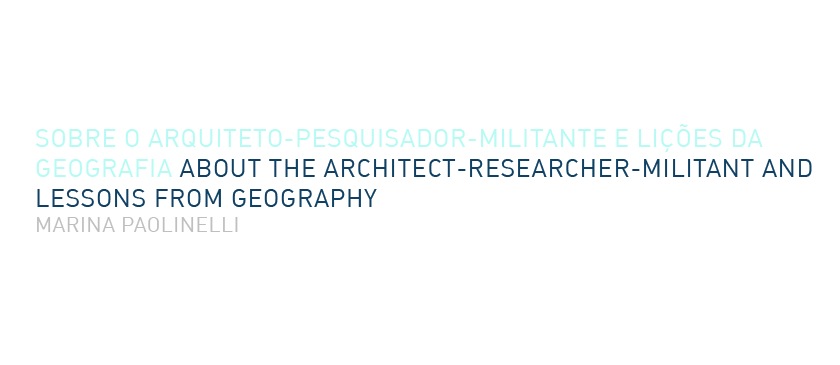
Sobre o arquiteto-pesquisador-militante e lições da Geografia
Marina Paolinelli é arquiteta e urbanista e Mestre em Arquitetura e Urbanismo. É pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, onde estuda movimentos sociais, política habitacional e planejamento urbano e territorial. É integrante do grupo de pesquisa Cosmópolis e do Projeto de Cooperação Brasil-Suécia "Constelações do urbano: direito à cidade, cidadania metropolitana, movimentos urbanos e conflitos". marinasanderspaolinelli@gmail.com
Como citar esse texto: PAOLINELLI, M. S. Sobre o arquiteto-pesquisador-militante e lições da Geografia. V!RUS, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=6&lang=pt>. Acesso em: 01 Jul. 2025.
ARTIGO SUBMETIDO EM 10 DE MARÇO DE 2020
Resumo
Este artigo busca debater, de forma ensaística, possibilidades e desafios da pesquisa-militante dentro do campo da Arquitetura e do Urbanismo, trazendo lições do campo da Geografia. Tem como pretensão pensar a práxis e o fazer acadêmico e científico, não por meio de propostas pragmáticas sobre método, mas através de uma reflexão inicial voltada para a transformação do posicionamento metodológico do arquiteto-pesquisador-militante – profissional cuja presença não é incomum nos dias de hoje. Argumenta-se que é necessário deslocar o foco da construção de um novo papel para o arquiteto, recorrente nas discussões do campo da Arquitetura, para a construção conjunta de uma arquitetura como verbo, praticada conjuntamente também por outros atores, como os movimentos sociais urbanos. Tendo por alicerce lições trazidas da Geografia, procura-se aqui traçar possibilidades para superar os desafios da pesquisa e da luta pela transformação social, buscando também delimitar as questões que permeiam especificamente a Arquitetura como campo, nessa incumbência.
Palavras-chave: Movimentos sociais, Arquitetura, Geografia, Pesquisa-militante
1 Introdução
Tendo ingressado no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, no final dos anos 2000, pude presenciar uma importante transformação na perspectiva acadêmica relacionada ao papel do arquiteto na sociedade1. Os debates sobre a questão da moradia, sobre as políticas habitacionais e sobre o planejamento urbano eram bastante acalorados durante minha graduação. Para ilustrar esse momento, cabe lembrar que, em 2009, foi criado o Programa Minha Casa, Minha Vida, que logo se tornou um dos assuntos mais pesquisados e criticados dentro do curso (MORADO NASCIMENTO et al., 2015). No mesmo ano, nasceu também sua emblemática contraposição, em Belo Horizonte: a Ocupação Dandara, organizada com apoio de movimentos sociais recém-nascidos na cidade, como as Brigadas Populares, e que também contava com o suporte engajado de técnicos e acadêmicos dentro do campo da Arquitetura e do Urbanismo (LOURENÇO, 2014). Nos anos seguintes, experiências como o Macrozoneamento e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) também inspiraram diversas discussões dentro da universidade sobre a construção de uma institucionalidade outra, fora do aparato institucional do planejamento urbano (VELLOSO, 2015). Isso para não mencionar os debates e a efervescência vividos na cidade antes, durante e depois das jornadas de junho de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. A crítica ao Estado e à participação nas esferas institucionais, por um lado, e as discussões sobre a cidade forjadas junto com movimentos populares, por outro, apareciam de forma muito latente.
Assim, tive o privilégio de iniciar meus estudos acadêmicos em um momento muito propício. Muitos professores – em certo sentido, militantes de uma academia mais atenta ao cotidiano popular e às contradições das dinâmicas socioespaciais na cidade capitalista – já haviam desobstruído o caminho. A Arquitetura e o Urbanismo como representação de poder, como conceito, como obra autoral, já havia, de certa maneira, caído por terra. Pelo menos durante minha experiência inicial no espaço acadêmico, a crítica a esses modelos já estava tão explicitada que lutar contra eles não parecia mais exatamente a questão central.
Hoje, depois de mais de uma década, as questões parecem outras: já não é tão necessário afirmar a necessidade de o arquiteto olhar para os espaços excluídos da cidade2 e reivindicar espaço na academia para tal. Vimos surgir e crescer o número de artigos, trabalhos de conclusão de curso, monografias, teses, projetos de pesquisa e extensão sobre vilas, favelas, ocupações de prédios, de terrenos, de assentamentos rurais – espaços relegados pela dinâmica da produção capitalista do espaço onde se materializam diversas formas de potência, resistência e também, claro, contradições. Se produzir conhecimento no campo da Arquitetura e do Urbanismo sobre a cidade real e seus atores (economicamente desfavorecidos, organizados em movimentos sociais ou auto-organizados) não é mais um tabu como um dia já foi, a questão que recai sobre nossa prática acadêmica é outra: como fazer isso?
Dessa forma, a questão de método parece tornar-se central nos debates, evidenciando também muitos desafios da nossa práxis no fazer acadêmico e científico. Evidentemente, a discussão sobre a relação entre arquitetos pesquisadores – e aqui pretendo trazer o foco para aqueles que também atuam, de alguma forma, como militantes – e movimentos sociais não é nova. Mas é possível notar que, principalmente no campo da Arquitetura e do Urbanismo, muitos dilemas ainda prevalecem. Não pretendo aqui fazer proposições pragmáticas sobre método, apenas tentar fomentar, de forma ensaística, uma discussão sobre o nosso posicionamento metodológico nesse diálogo com movimentos sociais, tendo por base reflexões levantadas por alguns geógrafos – que podem ser considerados exceções em seu campo por demonstrarem uma grande abertura a saberes outros, como os saberes populares.
2 Por uma nova definição do papel do arquiteto?
No dia 29 de outubro de 2019, o geógrafo Timo Bartholl esteve na Escola de Arquitetura da UFMG para debater “Como pesquisar junto aos movimentos sociais?”. Durante sua palestra, Bartholl compartilhou sua experiência em trabalhos com coletivos e movimentos sociais no Morro do Timbau (Favela da Maré, no Rio de Janeiro) e dissertou sobre seu método de pesquisa-militante. O convite ao geógrafo foi feito pela professora da instituição Rita Velloso e pelo geógrafo Thiago Canettieri, na expectativa de produzir um debate sobre os desafios atuais da relação entre academia e movimentos sociais, e com o intuito de fomentar a troca de ideias entre os campos da Geografia e da Arquitetura e Urbanismo3.
O debate que se seguiu posteriormente foi bastante acalorado, e as discussões acabaram se deslocando do “como fazer?” para “qual o papel do arquiteto?”, colocando no centro da discussão nossa atuação como sujeitos pesquisadores. Debates sobre o papel do arquiteto na sociedade são bastante frequentes na Escola de Arquitetura da UFMG, como os apresentados em Baltazar e Kapp (2006)4 e Linhares e Morado (2018)5, e motivam importantes reflexões de cunho metodológico dentro no nosso campo.
Para colocar em xeque o papel que convencionalmente é destinado ao arquiteto na produção da cidade e fazer uma crítica capaz de delinear outro papel mais coerente, é recorrente que se retome, sob uma perspectiva histórica, como foi consolidado o campo da Arquitetura. Stevens (2003) e Ferro (2006) são grandes referências nesse sentido (LINHARES, MORADO, 2018). Stevens (2003) destaca como a formação do arquiteto privilegia, desde sua origem, a prestação de serviços para as classes dominantes e os interesses do capital, consagrando o campo arquitetônico, nos termos de Bourdieu6, como legitimador da cultura dominante e do poder simbólico. Ferro (2006) mostra como se consolidou, durante o processo histórico de formação desse profissional, seu papel como produtor de desenhos, que garantem a exploração do trabalho no canteiro e a reprodução de padrões arquitetônicos hegemônicos.
No entanto, por mais que esse entendimento sobre as origens do campo da arquitetura e a consolidação do papel do arquiteto ao longo da história sejam fundamentais para conhecer o lugar de onde viemos, não tenho tanta certeza se devemos nos debruçar sobre uma elaboração afirmativa sobre qual deveria ser o novo papel ideal para o arquiteto. Ou seja, não se pretende apresentar aqui o arquiteto-pesquisador-militante como esse novo papel. Essa abordagem pode acabar se tornando uma armadilha, limitando as elaborações que estão sendo forjadas na constante e dialética relação entre teoria e prática cotidiana – descobrimos fazendo. Não estou afirmando que esse processo deve se isentar de reflexão teórica, apenas que talvez seja mais frutífero refletir sobre o que não deveríamos fazer (ou seja, lógicas que não queremos mais reproduzir) do que sobre que tipo de arquiteto exatamente deveríamos nos tornar.
Digo isso porque é impossível defender, a priori, o arquiteto como profissional. Como já alertava, nos anos 1970, o filósofo André Gorz, é preciso criticar e desconstruir a divisão do trabalho. Segundo Gorz (1980, p. 217, grifos do autor), “[...] os trabalhadores da ciência e da técnica têm, no interior de sua função técnico-científica, a função de reproduzir as condições e as formas da dominação do capital sobre o trabalho”. Ou seja, o problema não é apenas o que fazemos e como fazemos, mas, em um primeiro nível: quem somos. De acordo com o autor, as qualificações e competências são, antes de tudo, ideológicas e sociais, desenhadas para prolongar e consolidar a divisão social do trabalho, para tornar a produção mais eficaz e para garantir o poder do capital e a divisão hierárquica do trabalho coletivo7. Sendo assim,
[...] a orientação e os conteúdos da atividade científica poderiam ser diferentes mas que, para serem diferentes, também seriam precisas técnicas e sociedades diferentes. É nisso que eles [trabalhadores da ciência] são e podem saber que são, ao mesmo tempo, recuperáveis e não recuperáveis para a revolução. E é enfim por isso que não é nem voluntarista nem primitivista de pedir-lhes que contestem, critiquem e rejeitem as orientações e conteúdos de suas competências, a pretensa neutralidade e inacessibilidade de sua ciência (GORZ, 1980, p. 223, grifo do autor).
Seria melhor, então, deslocar a questão da formulação de um novo papel para o arquiteto. Para não reforçarmos a divisão do trabalho, para não cairmos na ilusão de acreditar que somos imprescindíveis, e também para não permanecermos defendendo, ainda que indiretamente, algum papel (seja ele mais novo e transformado, como mediador de projetos colaborativos, produtor de interfaces, indutor de um planejamento insurgente, etc.), talvez seja melhor perguntar: como – aqui e agora – nós, arquitetos pesquisadores, movimentos sociais e grupos auto-organizados com quem temos interagido, podemos discutir e elaborar formulações sobre o mundo em que vivemos e o mundo que gostaríamos de construir?
3 Lições da Geografia: fazer-se verbo
É evidente que os problemas da divisão do trabalho apontados por André Gorz (1980) também constituem e são constitutivos da produção do conhecimento científico. Como afirmado pelo geógrafo Marcelo Lopes de Souza (2017), todas as ciências da sociedade são afetadas pela divisão do trabalho acadêmico. “Cada uma delas foi ‘aquinhoada’ como um pedaço de um ‘corpo’ (a sociedade concreta) mutilado, esquartejado, dividido em partes” (2017, p. 461, grifos do autor). Segundo outro geógrafo, Carlos Walter Porto-Gonçalves (2004, p. 261-262):
As ciências sociais são instituídas por e instituintes da sociedade contemporânea e, assim, a superação da divisão do trabalho científico, tal como ela se apresenta, faz parte da luta pela superação das contradições dessa mesma sociedade. [...] Observe-se que importantes contribuições teóricas para a compreensão dos processos sociais foram dadas por intelectuais que, a rigor, não cabem nessa divisão do trabalho científico, como Marx e Engels, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Mariátegui, entre tantos e muitos outros, até porque, parafraseando o próprio Marx, esses intelectuais não estavam simplesmente interpretando o mundo, mas tentando transformá-lo.
Nesse sentido, o campo da Geografia apresenta possibilidades interessantes. Como aponta Souza (2017), apesar de ser um campo científico de “dupla personalidade” (SOUZA, 2017, p. 461) (Ciência da Natureza e Ciência da Sociedade), a Geografia não tem sido tratada como uma “ciência-ponte” (SOUZA, 2017, p. 462), mas como um campo científico bipolarizado entre ambos os domínios epistemológicos e, por isso, tem se autocondenado a uma gradual desimportância. Entretanto,
Ironicamente, pelo seu caráter “onívoro”, por sua vocação para as sínteses ambiciosas e por sua facilidade para trabalhar com várias escalas de análise integradamente, o saber conhecido como Geografia, nos marcos da divisão do trabalho acadêmico positivista, é, potencialmente, uma das disciplinas mais infensas ao “disciplinarismo” – e, por via de consequência, mais aptas a agasalhar contribuições não limitantes, não mutiladoras. Para isso, porém, os geógrafos de formação precisam de uma base metateórica (filosófica) que lhes propicie uma leitura do mundo, da práxis e da própria pesquisa adequada à tarefa de valorizar as diferentes dimensões da realidade (SOUZA, 2017, p. 462).
Assim como a Arquitetura, o passado da Geografia também está atrelado à manutenção do poder hegemônico. Em alguns trabalhos, Porto-Gonçalves remete-se às origens dessa última, mostrando como ela já nasceu comprometida com as estruturas de poder, surgindo, inicialmente, como um saber prático na constituição do mundo moderno-colonial, antes mesmo de se constituir como ciência, no século XIX. O geógrafo era, a princípio, segundo o autor, o especialista em representação do espaço, o funcionário do Rei que fazia mapas e delimitava as fronteiras do Estado Territorial. Ou seja, tratava-se mais de um profissional que atuava em procedimentos de controle territorial do que de interesse teórico, mesmo que a partir da Renascença tenha ganhado uma perspectiva pretensamente matemática e objetiva (PORTO-GONÇALVES, 2002).
Porto-Gonçalves (2019) revela que, ao se dar conta disso, quis “se suicidar como geógrafo”. Na sua trajetória de militância junto a movimentos sociais latino-americanos, no entanto, aprendeu a ressignificar seu lugar. Segundo ele, nos anos 1980, os povos seringueiros da Amazônia o “ressuscitaram” como geógrafo: enquanto eles nunca tinham se visto “de cima”, e isso representava uma outra dimensão na luta por seu território, ele nunca os tinha visto “de baixo”, na esfera do espaço cotidiano (PORTO-GONÇALVES, 2019). Esse encontro mobilizou uma parceria acadêmico-militante potente, capaz de repensar o espaço, de construir o poder de baixo por intermédio das trocas entre saberes com o delineamento de estratégias para resistir contra aqueles que queriam exterminá-los. Porto-Gonçalves acredita que os movimentos sociais tragam à luz, com sua própria existência, não apenas as contradições do espaço e da sociedade, mas também aquilo que a sociedade pode ser e está impedida de ser. O autor acrescenta que “Sendo assim, todo movimento social é portador, em algum grau, de uma nova ordem que, como tal, pressupõe novas posições, novas relações, sempre socialmente instituídas, entre lugares” (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 269-270).
Apoiado nessa ideia, o geógrafo convida a pensar a Geografia como um verbo – o ato de marcar a terra – e não mais como um substantivo. Segundo ele, “[...] os diferentes movimentos sociais re-significam o espaço e, assim, com novos signos grafam a terra, geografam, reinventando a sociedade” (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 269-270). Nessa perspectiva, que traz à tona também os conflitos do(s) território(s), outras formas de interpretar o mundo emergem, confrontando-se com a ordem social vigente. Como declara:
Em 1993, quando trabalhava no norte da Bolívia, no Departamento de Pando, ouvi de um camponês a afirmação: “não queremos terra, queremos território”. Pela primeira vez ouvira a expressão território falada fora do âmbito acadêmico ou de juristas. Comecei a entender que o território pode ser reinventado, ao vê-lo recusar o debate sobre a reforma agrária nos marcos teórico-políticos ocidentais, onde a terra é vista como meio de produção, somente (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 54).
De acordo com o jornalista uruguaio Raul Zibechi (2015), os movimentos sociais urbanos8 latino-americanos estão diretamente ligados aos movimentos camponeses e indígenas, compartilhando com eles conceitos teóricos e políticos como território, autonomia e autogoverno. Para o autor, os pobres rurais estão fazendo uma reforma agrária a partir de baixo, e “[...] caminhos bastante similares estão traçando os pobres urbanos, por certo que com muito mais dificuldades” (p. 28). O autor afirma:
A maneira como se produziu a transição da terra ao território, da luta por direitos à luta por autonomia e o autogoverno; ou seja, como se passou da dominação à resistência e afirmação da diferença, essa transição tem particular importância para as comunidades urbanas que, na passagem entre os dois séculos, começaram a se enraizar nos espaços urbanos autoconstruídos (ZIBECHI, 2015, p. 40).
No entanto, é possível perceber que nem todos os movimentos sociais e grupos que insurgem nos espaços autoconstruídos no contexto urbano apresentam uma noção tão clara de território como têm apresentado historicamente os demais grupos citados. Nesse espaço, as lógicas capitalistas do trabalho e da propriedade se integram aos modos de viver populares, de forma que se torna cada vez mais difícil determinar onde se constituem espaço abstrato e espaço diferencial9, nos termos de Henri Lefebvre (1991), traçando claros desafios à autonomia. E é justamente nesse espaço que a atuação do arquiteto-pesquisador-militante tem se firmado com grande proeminência.
Tendo em vista esses desafios tão inerentes ao campo da Arquitetura e do espaço urbano, e tomando como exemplo o exercício de Porto-Gonçalves, seria possível se pensar em uma Arquitetura como verbo, e não como substantivo, aproximando saberes acadêmicos e saberes não acadêmicos (ou saberes acadêmicos fora da academia) em uma tarefa similar à apresentada pela Geografia, agora pela Arquitetura?
A Arquitetura como verbo, seguindo essa proposição, determina uma prática social, não limitada a um campo profissional10. Talvez, para isso, pressuponha, antes da essencial transformação do papel do arquiteto, o seu “suicídio”, o abandono do monopólio do conhecimento. A Arquitetura como substantivo e o arquiteto como sujeito não estariam mais no centro do debate, mas sim a prática, como um saber-fazer coletivo. Assim, abre-se para a atuação de diferentes atores e, nesse sentido, também para outras possibilidades de colaboração com os movimentos sociais. Com base nessa abordagem, as contradições, tanto das práticas dos arquitetos quanto das práticas dos movimentos sociais e dos grupos que insurgem no espaço urbano, poderiam ser, assim, objeto de debate, crítica e transformação coletiva.
4 Os arquitetos e os movimentos sociais: como colaborar?
A atuação de arquitetos-pesquisadores-militantes – sujeitos não só ativos em suas práticas profissionais e acadêmicas, mas também engajados em mobilizações por transformação social ao lado de movimentos sociais e grupos urbanos insurgentes – pode ser identificada no Brasil, desde a década de 1960, no âmbito da atuação em processos de urbanização de vilas e favelas (FERREIRA, 2017). Também ficou muito conhecida, a partir dos anos 1980, com as lutas pela Reforma Urbana, e nos anos 1990, com a ascensão de políticas de autogestão em projetos de moradia popular, em municípios como São Paulo (SP), Belo Horizonte e Ipatinga (MG). Mais recentemente, arquitetos militantes passaram também a ganhar um papel bastante considerável nas ocupações de edificações e de terras urbanas, organizadas por movimentos para fins de moradia depois dos anos 2000. Fazem parte, junto com os geógrafos (e talvez ainda com mais força que estes), do amplo conjunto de “apoiadores acadêmicos” dos sem-teto (SOUZA, 2015, p. 30).
Contudo, depois de muitas décadas de construção de saberes e de práticas com movimentos populares, muitas frustrações com relação a essa parceria ainda são acumuladas no campo da Arquitetura e do Urbanismo. João Marcos de Almeida Lopes, arquiteto com longa experiência nesse sentido11, resume a inquietação resultante dessa jornada, que embaralha “o trabalho técnico e a militância política” (LOPES, 2018, p. 241):
Se compartilhávamos, técnicos e construtores autônomos, os mesmos pressupostos de autonomia e autodeterminação, por que hoje não reconhecemos, nas práticas cotidianas instaladas nos conjuntos que ajudamos a construir, sequer um contorno de afinidade com os discursos que afiávamos juntos? (LOPES, 2018, p. 242).
Lopes elabora algumas razões para esse descompasso, ressaltando que, por parte dos arquitetos, as referências para tais pressupostos “[...] eram e são, em boa medida, eurocêntricas, principalmente se considerarmos a vertente discursiva ligada à tradição libertária e anarquista” (2018, p. 243). O significado da ideia de autonomia e autodeterminação não era construído por meio de referências populares locais, como as mencionadas por Zibechi (2015), e os arquitetos engajados com esses grupos não se importavam ou não percebiam a importância de “[...] perguntar quanto à identidade genética de tais fundamentos” (LOPES, 2018, p. 243).
Para além disso, há ainda outra dimensão que não pode ser esquecida: ao trabalhar com tais grupos, nós, como arquitetos-pesquisadores-militantes, não nos posicionamos claramente como agentes da transformação social. Não decidimos facilmente se nos colocamos em tais processos como militantes ou como arquitetos, o que fica bastante claro no caso narrado por Lopes (2018) sobre a assessoria dada pela USINA ao assentamento Ireno Alves dos Santos, situado no centro-oeste do estado do Paraná, constituindo uma das maiores ocupações do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) entre meados de 1998 e 2000. Tal assentamento envolvia um canteiro de obras de 1500 famílias em 27 mil hectares, além de uma vila semi-urbana em ruínas, a ser reformada. Em uma de suas visitas à vila, o arquiteto deparou-se com uma faixa em que estava escrito “BREVE AQUI: MECÂNICA DE MOTOSSERRAS E MOTORES”, onde supostamente iria funcionar a sede da cooperativa que assessorava.
Comentei e reclamei sobre o assunto com um dos dirigentes do MST local [...] dizendo que aquela iniciativa atropelava toda a discussão que estávamos promovendo; que não sabia como agir numa situação como aquela, que a direção do movimento deveria tomar uma atitude enérgica para coibir iniciativas semelhantes, que não era meu papel como assessor técnico intervir naquele contexto, etc.. A resposta foi bastante sintética [...]: “Esse problema de identidade, de não saber se é base ou direção, é um problema de vocês, lá da cidade...”. Depois dessa conversa, fui até o lugar onde estava estendida a faixa e arranquei-a de lá, deixando o pessoal do escritório da cooperativa de mão de obra avisado que me procurassem, caso aparecesse alguém reclamando a retirada da faixa (LOPES, 2018, p. 247).
Esse caso é importante para ilustrar o dilema dos arquitetos quando se comportam como militantes: fazer o que se acredita, em um território do outro, ou esperar que o outro o faça em seu próprio território, para garantir uma pretensa neutralidade profissional, qual o “menos pior” dos mundos? Segundo Gabriel Tupinambá, em uma reflexão com base em uma crítica da economia política da militância, esse parece ser, na verdade, um problema geral da militância de esquerda no cenário atual:
Quando um militante decide “ir” até a sociedade, está implicado aí que ele não se entende como parte da sociedade – e que ele renuncia a alguma coisa para ir “se juntar” aos outros. Abandonar esse traço distintivo, que carrega uma certa satisfação trágica, é um dos maiores desafios organizacionais da esquerda (TUPINAMBÁ, 2017, s.p., grifos do autor).
Ao arrancar a faixa, João Marcos reconhece sua implicação na construção daquele espaço, despindo-se de seu pressuposto papel como arquiteto (assessor técnico) para assumir uma crítica e uma ação de responsabilização em relação às práticas produzidas coletivamente. Essa ação, entretanto, não emerge sem um conflito anterior entre preservar o papel de arquiteto e agir como militante, o que parece pressupor uma escolha entre um ou outro. Acerca dessa transformação de posicionamento, o geógrafo Timo Bartholl propõe elaborações metodológicas importantes. Ao elaborar uma teoria sobre a pesquisa-militante como método, Bartholl afirma que “A ordem de importância é decisiva: o interesse próprio, composto pelo interesse pessoal e político [...] está à frente de interesses acadêmicos ou científicos [...]. Não participo de um processo por querer investigá-lo, mas o investigo por fazer parte dele” (BARTHOLL, 2018, p. 24). O geógrafo entende que a busca por articular pesquisa e práticas de resistência tem como motor a própria procura por uma práxis emancipatória.
À pergunta: “Os geógrafos e os movimentos sociais, como colaborarem?” Bartholl (2018, p. 54) rebate com outra: “como [...] separar entre Geografia, por um lado, e movimento social, pelo outro?” Se temos observado emergir, por um lado, militantes de movimentos populares nas universidades como pesquisadores, e, por outro, pesquisadores se aproximam de movimentos e se tornando militantes e isso é visto como uma potencialidade, e não como uma limitação, “Há por que ou como separar os dois campos, os seus referentes sujeitos e seus esforços (de agir, de refletir, de estudar e de transformar)?” (BARTHOLL, 2018, pp. 54). Ele defende:
Entendo Geografias feitas junto aos, nos e pelos movimentos como proposta de acrescentar uma forma de relacionar pesquisa/teorização e prática/autorreflexão (saberes-com e saberes-fazeres), tanto a nível de relações intra como intersujeito ao mesmo tempo, como tarefa coletiva (trans-sujeito) na qual não há uma forma ideal, um padrão que todas e todos devem seguir, mas onde os sujeitos se abrem para o desafio de militar-refletir-pesquisar-teorizar. Isto não nos libera da necessidade de ter que definir com clareza em que momento/etapa/processo/lugar nos ciclos de prática-teoria nos encontramos, mas, em termos epistemológicos, a postura pode e deve ir para além de “ou um, ou o outro”, “ou pesquisador, ou militante”. [...] esse processo pode envolver estruturas acadêmicas e mais estritamente, científicas ou não (BARTHOLL, 2018, pp. 57-58, grifos do autor).
Sendo assim, acredito que o desafio de militar-refletir-pesquisar-teorizar, compartilhado entre os sujeitos, como proposto por Bartholl, vai ao encontro da ideia de uma arquitetura como verbo, inspirada pela proposição de Porto-Gonçalves, citada anteriormente.
5 Considerações finais
Como intentei demonstrar aqui, uma atuação possível do arquiteto-pesquisador-militante deve extrapolar a busca pela elaboração de um novo papel para o arquiteto. O arquiteto-pesquisador-militante é um profissional que já existe, aqui e agora, e que se encontra em constante transformação. Carrega ainda uma contradição em si mesmo, nascida no seio da divisão do trabalho, configurando-se como detentor de um poder heterônomo que, pouco a pouco, se descobre como parte integrante de uma mudança social. O que se buscou demonstrar, nesse sentido, é a necessidade de se pensar uma transformação de posicionamento metodológico.
Seria possível, dessa forma, trazer lições advindas da Geografia? Vimos com Porto-Gonçalves que, mais importante que definir Geografia como substantivo, seria construí-la como verbo, conjuntamente com os movimentos sociais. Com a pesquisa-militante de Timo Bartholl, apresentamos a possibilidade de uma quebra possível da distância entre militante e acadêmico, como sujeitos em movimento pela transformação social.
As dificuldades que nosso campo colocam, todavia, ainda têm suas especificidades. Para transformar seu posicionamento, o arquiteto-pesquisador-militante precisa dar lugar aos saberes-com e aos saberes-fazeres. Isso não acontece, no entanto, com pouco custo. Como lembra o arquiteto Tiago Castelo Branco Lourenço:
Assim como o prestígio conferido pela posição do profissional, a admiração pelos seus instrumentos nos envaidece, sem que percebamos o quanto o distanciamento e a hierarquia assim gerados contradizem a intenção de contribuir numa ação política de sentido emancipatório. A produção material e simbólica para o capital, de que arquitetos participam cotidianamente, não termina nas ocupações pela simples intenção de desfazê-la, porque as disposições subjetivas que esses profissionais adquirem ao longo do tempo também não se desmancham ali (LOURENÇO, 2014, p. 155).
Suicidar-se como arquiteto é uma difícil missão quando ainda se é aceito como parte integrante da luta, justamente pelos ganhos trazidos pela sua autoridade técnica. Mas é preciso constantemente reafirmar (para si mesmo e para os demais atores) que:
Os conhecimentos (jurídicos, geográficos, arquitetônicos, historiográficos, de informática, de elaboração de vídeos, etc.) trazidos pelos apoiadores acadêmicos (integrantes do grupo de apoio quotidiano ou da rede de solidariedade) podem ser muito úteis e mesmo cruciais, porém, não são nem infalíveis (colossal ilusão!), nem intrinsecamente mais importantes que os conhecimentos técnicos de um pedreiro, marceneiro ou camponês (SOUZA, 2015, p. 36).
Como afirma Souza (2015, p. 36, grifos do autor), “Os saberes da própria base social oprimida [...] devem e podem ser integrados com os saberes acadêmicos, em benefício de ambas as partes”. Talvez um caminho possível para o arquiteto-pesquisador-militante seja justamente integrar-se continuamente aos processos para os quais contribui, não findando sua atuação depois que a obra (ou o projeto de pesquisa) acaba. Dessa forma, falar das contradições do trabalho e da propriedade nos espaços urbanos passaria a ser um problema de todos, incluindo nós mesmos, não apenas daqueles que assessoramos. Nunca é tarde para lembrar o que parecemos muitas vezes esquecer: transformar o mundo em que vivemos é um processo contínuo e que diz respeito a todos nós que, como afirma Timo Bartholl (2018), “[...] lutamos para transformar, investigamos para compreender e refletimos para potencializar a luta popular” (BARTHOLL, 2018, p. 56).
Agradecimentos
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001.
Referencias
BALTAZAR, A. P.; KAPP, S. Por uma Arquitetura não planejada: o arquiteto como designer de interfaces e o usuário como produtor de espaços. Impulso, Piracicaba, v. 17 n. 44, pp. 93-103, 2006.
BARTHOLL, T. Por uma geografia em movimento: a ciência como ferramenta de luta. Rio de Janeiro: Consequência, 2018.
BASTOS, C.; MAGALHÃES, F.; MIRANDA, G.; SILVA, H.; TONUCCI FILHO, J. B.; CRUZ, M.; VELLOSO, R. Entre o espaço abstrato e o espaço diferencial: ocupações urbanas em Belo Horizonte. Revista Brasileira De Estudos Urbanos e Regionais, v. 19, n. 2, pp. 251-266, 2017.
FERREIRA, L. I. C. Arquitetos militantes em urbanização de favelas: uma exploração a partir de casos de São Paulo e do Rio de janeiro. 2017. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
FERRO, S. Arquitetura e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
GORZ, A. Crítica da divisão do trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 1980.
KAPP, S.; NOGUEIRA, P.; BALTAZAR, A. P. Arquiteto sempre tem conceito, esse é o problema. In: IV SEMINÁRIO PROJETAR, 2009, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: UPM, 2009, pp. 1-19.
LEFEBVRE, H. The production of space. Oxford: Blackwell Publishing, 1991.
LINHARES, J., MORADO NASCIMENTO, D. Atuação do arquiteto na produção da moradia autoconstruída pela população de baixa renda. In: LIBÂNIO, C. ALVES, J. (orgs.). Periferias em rede: experiências e perspectivas. Belo Horizonte: Favela é isso aí, 2018.
LOPES, J. M. de A. Nós, os arquitetos dos sem-teto. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 20, n. 2, pp. 237-253, 2018.
LOURENÇO, T. C. B. Cidade Ocupada. 2014. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.
MORADO NASCIMENTO, D.; COSTA, H.; MENDONÇA, J.; LOPES, M.; LAMOUNIER, R.; SALOMÃO, T.; SOARES, A. Programa Minha Casa Minha Vida: desafios e avanços na Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L.; RUFINO, M. (orgs.). Minha Casa… e a cidade? Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015, pp. 195-228.
PORTO GONÇALVES, C. W. Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades. In: CECEÑA, A.; SADER, E. (orgs.). La guerra infinita: hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: Clacso, 2002, pp. 217-256.
PORTO-GONÇALVES, C. W. A geograficidade do social: uma contribuição para o debate metodológico para o estudo de conflitos e movimentos sociais na América Latina. In: SEOANE, J. (org.). Movimentos sociales y conflito en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2004. pp. 261-279.
PORTO-GONÇALVES, C. W. A reinvenção dos territórios na América Latina/Abya Yala. Cidade do México: Universidad Nacional Autónoma De México, 2012.
PORTO-GONÇALVES, C. W. De territórios e de territorialidades: espaço e poder em questão. 2019. Palestra. Belo Horizonte: UFMG.
SOUZA, M. L. Dos espaços de controle aos territórios dissidentes. Rio de Janeiro: Consequência, 2015.
SOUZA, M. L. Por uma geografia libertária. Rio de Janeiro: Consequência, 2017.
STEVENS, G. O Círculo Privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2003.
TUPINAMBÁ, G. A força social da graça, ou: como se avalia o poder popular? Blog da Boitempo, 2017. Disponível em:< <https://blogdaboitempo.com.br/2017/07/26/a-forca-social-da-graca-ou-como-se-avalia-o-poder-popular/>. 4 nov. 2019.
VELLOSO, R. A cidade contra o Estado: sobre a construção política de escalas e institucionalidades. In: COSTA, G.; COSTA, H.; MONTE-MÓR, R. (orgs.). Teorias e práticas urbanas: condições para a sociedade urbana. Belo Horizonte: C/Arte, 2015, pp. 129-144.
ZIBECHI, R. Territórios em resistência: cartografia política das periferias urbanas latino-americanas. Rio de Janeiro: Consequência, 2015.
1 Em 2007, iniciava-se o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que possibilitou a criação do curso de Arquitetura e Urbanismo em período noturno da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2009, com uma grade curricular inovadora e atenta às questões urbanas contemporâneas.
2 Até mesmo nosso conselho de classe, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), tem realizado diversas campanhas para financiar e promover a assessoria técnica a grupos economicamente desfavorecidos (e infelizmente tentado, algumas vezes de forma oportunista, criar um nicho de mercado a partir disso).
3 O evento foi chamado “Colóquio para investigar a emergência urbana”, e contou também com uma mesa redonda com a participação de Rita Velloso, Thiago Canettieri e Timo Bartholl para debater o tema. O debate fez parte de uma série de eventos promovidos no âmbito do projeto de cooperação “Constelações do urbano: direito à cidade, cidadania metropolitana, movimentos urbanos e conflitos”, recém-firmado entre o Institute for Housing and Urban Research (IBF), da Uppsala University (Suécia), e a Escola de Arquitetura da UFMG, contemplado no Edital nº 28/2018 do Programa Capes/STINT, do qual faço parte.
4 Baltazar e Kapp (2006) argumentam que o papel do arquiteto “[...] não mais consiste em desenhar objetos arquitetônicos ou urbanísticos, mas em produzir interfaces. O arquiteto pode dar um passo atrás e, em lugar de predeterminar espaços, criar instrumentos para que usuários e construtores possam determiná-los, eles próprios” (p. 100).
5 Linhares e Morado (2018) propõem que o arquiteto atue como “[...] mediador de informações entre o saber técnico e o saber dos moradores” (p. 151), deixando de ser aquele que recebe demandas ou soluciona problemas, abrindo mão do poder sobre o desenho técnico e passando a ser “[...] um provocador, um propositor, um assessor técnico, capaz de fornecer dados e informações importantes para a prática autoconstrutora” (p. 151).
6 Nos termos de Bourdieu: “Um campo é um conjunto de instituições sociais, indivíduos e discursos que se suportam mutuamente” (STEVENS, 2003, p. 90).
7 Em O canteiro e o desenho, Sérgio Ferro (2006) deixa isso bem claro quando trata da relação entre a produção do desenho arquitetônico e a construção das edificações.
8 Zibechi (2015) prefere se referir a eles como “sociedades em movimento” ou “territórios em resistência”, em contraposição à ideia muitas vezes burocrática e, segundo ele, “colonizada”, de “movimento social” (ZIBECHI, 2015, p. 35).
9 Nas palavras de Lefebvre (1991, p. 370, tradução nossa), “O espaço abstrato, que é um instrumento de dominação, sufoca tudo o que é concebido nele e busca sair dele”, “[...] é letal e destrói as condições históricas que lhe deram origem, suas próprias diferenças (internas), e quaisquer diferenças que dão sinais de desenvolvimento, a fim de impor a sua racionalidade abstrata”. O espaço diferencial, por outro lado, “[...] religará o que o espaço abstrato separa: as funções, os elementos e momentos da prática social” (p. 64, tradução nossa). A relação entre espaço abstrato e espaço diferencial em ocupações urbanas por moradia pode ser vista em Bastos et al. (2017).
10 Nesse sentido, a definição de arquitetura apresentada por Kapp et al. (2009, p. 5) pode revelar uma perspectiva similar, apesar de não ser tratada como verbo: “[...] o espaço transformado pelo trabalho humano, não apenas aquela pequena porção projetada por arquitetos e reconhecida pelo campo acadêmico e profissional da arquitetura [...]. Em outras palavras, arquitetura inclui o espaço comum, cotidiano, ‘ordinário’”.
11 Além de acadêmico, o arquiteto é associado do USINA - Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, da qual foi coordenador entre 1990 e 2005. No grupo, trabalhou em projetos e obras de moradia popular promovidas por ajuda-mútua e autogestão, projetos e obras em assentamentos precários, desenvolvimento de políticas e programas habitacionais, pesquisas aplicadas e desenvolvimento de sistemas (conforme informado em seu currículo na Plataforma Lattes, disponível em: <http://lattes.cnpq.br/9454329212153701>, acesso em: 5 mar. 2020).
About the architect-researcher-militant and lessons from Geography
Marina Paolinelli is an architect and urbanist and Master in Architecture and Urbanism. She is a researcher at the Graduate Program in Architecture and Urbanism at the Federal University of Minas Gerais, where she studies social movements, housing policy, and urban and territorial planning. She is a member of the Cosmopolis research group and of Brazil-Sweden Cooperation Project "Constellations of the urban: right to the city, metropolitan citizenship, urban movements, and conflicts". marinasanderspaolinelli@gmail.com
How to quote this text: Paonelli, M. S., 2020. About the architect-researcher-militant and lessons from Geography. Translated from Portuguese by Marina Sanders Paolinelli and Thiago Canettieri. V!rus, Sao Carlos, 20. [online] Available at: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=6&lang=en>. [Accessed: 01 July 2025].
ARTICLE SUBMITTED ON MARCH 10, 2020
Abstract
This article seeks to debate, in an essayistic way, the possibilities and challenges of militant research within the field of Architecture and Urbanism, bringing lessons from the field of Geography. The intention here is to discuss the academic and scientific practices, not through pragmatic proposals about the method, but through an initial reflection regarding the methodological positioning of the architect-researcher-militant – a professional whose presence is getting common nowadays. I argue that it is necessary to shift the focus from the construction of a new role for the architect, a current discussion in the field of Architecture, to the collective construction of architecture as a verb, practiced together with other actors, such as urban social movements. Based on lessons from Geography, I seek to outline possibilities to overcome challenges of the research and the struggle for social transformation, also trying to delimit the issues that specifically permeate Architecture as a field in this task.
Keyword: Social movements, Architecture, Geography, Militant research
1 Introduction
Since I have joined the Architecture and Urbanism undergraduate course at the Federal University of Minas Gerais, Brazil, in the late 2000s, I witnessed an important transformation in the academic perspective related to the architect’s role in society1. The debates on housing policies and urban planning were quite lively. It is worth remembering that, in 2009, the Minha Casa, Minha Vida Program was created and soon became one of the most researched and criticized subjects (Morado Nascimento et al, 2015). In the same year, its emblematic opposition arose in Belo Horizonte: the Dandara occupation, organized with the support of new-born local social movements, such as the Brigadas Populares (Popular Brigades), and which had the enthusiastic support of technicians and academics within the field of Architecture and Urbanism (Lourenço, 2014). In the following years, experiences such as the Macrozoning and the Master Plan for Integrated Development of the Belo Horizonte Metropolitan Region (PDDI-RMBH) also inspired several discussions within the university about the construction of another institutionality, outside the urban planning formal institutional sphere (Velloso, 2015). Not to mention the effervescent debates experienced in the city before, during, and after the June 2013 protests and the 2014 World Cup. The criticism to the State and participation in institutional spheres on the one hand, and the discussions about the city built along with popular movements, on the other, appeared very latently.
Thus, I had the privileged to start my academic studies at a quite favorable time. Many teachers – in a certain way, militants of an academy more attentive to popular daily life and the contradictions of socio-spatial dynamics in the capitalist city – had already cleared the way. Architecture and Urbanism as a representation of power, a concept, an authorial work, in a certain way, had already fallen apart. At least during my initial experience in the academic space, the criticism of these models was already so explicit that struggling against them no longer seemed to be the central issue.
Today, after more than a decade, the questions seem different: it is no longer necessary to affirm the need for architects to look at the excluded territories of the city2 and claim space in the academy for this. We have seen the emergence and growth of the number of papers, dissertations, thesis, and research projects on slums, favelas, building and land occupations, and rural settlements – spaces relegated by the dynamics of capitalist production of space where various forms of power, resistance, and contradictions materialize. If producing knowledge about the real city and its actors (economically disadvantaged, organized in social movements or self-organized) in the field of Architecture and Urbanism is no longer a taboo as it once was, the question that relies on our academic practice is another: how to do this?
In this way, the question of method seems to become central to the debates, highlighting many challenges present in our academic and scientific practice. The discussion about the relationship between researchers architects – and here I intend to focus on those who also act, in some way, as militants – and social movements is not new. However, it is possible to notice that many dilemmas still prevail in the field of Architecture and Urbanism. I do not intend to make pragmatic propositions about the method here. In an essayistic way, I just try to encourage a discussion about our methodological positioning in this dialogue with social movements, based on reflections raised by some geographers. Professionals who can be considered exceptions in their field for demonstrating a great openness to other kinds of knowledge, such as popular knowledge.
2 For a new definition of the architect's role?
On October 29, 2019, the geographer Timo Bartholl was at the School of Architecture of the Federal University of Minas Gerais (UFMG) in Belo Horizonte, Brazil, to debate “How to research with social movements?”. During his lecture, Bartholl shared his experience working with collectives and social movements in Morro do Timbau (Maré's Favela, in Rio de Janeiro, Brazil) and spoke about his militant research method. Rita Velloso, architect and professor at the institution, and the geographer Thiago Canettieri were the hosts. The expectation was to debate the current challenges that emerge in the relationship between academia and social movements and encourage the exchange of ideas between the fields of Geography and Architecture and Urbanism3.
The debate that followed was quite lively, and the discussions ended up shifting from "how to do?" to “what is the architect's role?”, placing our performance as researchers at the center of the discussion. Debates about the architect's role in society are quite frequent at the UFMG School of Architecture, such as those presented in Baltazar and Kapp (2006)4 and Linhares and Morado (2018)5. They motivate important methodological reflections within our field.
To put into check the role conventionally attributed to the architect in the production of the city and to make a criticism capable of delineating another one, more coherent, it is recurrently mentioned, from a historical perspective, how the field of Architecture was consolidated. Stevens (1998) and Ferro (2006) are great references in this sense (Linhares and Morado, 2018). Stevens (1998) highlights how the architect’s education favors, since the origin of the profession, the interests of capital, and the provision of services for the dominant classes. In Bourdieu's terms6, the field of architecture was consecrated as a legitimizer of the dominant culture and the symbolic power. Ferro (2006) shows how the architect's role as a producer of drawings was consolidated during the historical process of this profession, guaranteeing the exploration of work on the construction site and the reproduction of hegemonic architectural patterns.
However, as much as this understanding of the field’s origins and the consolidation of the architect's role throughout history are fundamental to help to know the place where we came from, I am not sure whether we should focus on an affirmative elaboration on what it should be the new ideal architect's role. In other words, I do not intend to present the architect-researcher-militant as this new architect's role. This approach can end up becoming a trap, limiting the elaborations that are being shaped in the constant and dialectical relationship between theory and everyday practice. We are discovering by doing. I am not saying that this process should be exempt from theoretical reflection. I am only saying that it may be more fruitful to reflect on what we should not be doing (that is, the logics that we no longer want to reproduce) than on what kind of architect exactly we should become.
I say this because it is impossible to defend, a priori, the architect as a professional. As the philosopher André Gorz warned in the 1970s, it is necessary to criticize and deconstruct the division of labour. According to Gorz (1976, p. 162, emphasis in original), “[...] scientific and technical workers, in performing their technical functions, are also performing the function of reproducing the conditions and forms of the domination of labour by capital”. In other words, the problem is not only what we do and how we do it, but at the first level: who we are. According to the author, qualifications and competencies are, above all, ideological and social. They are designed to prolong and consolidate the social division of labour, to make production more effective and to guarantee the power of capital, and the hierarchical division of collective labour7. Thus,
[...] the content and orientation of scientific research could be other than it is, but that this would be possible only with a different technology and in a different society. As a result, they know that scientific work is not a force for revolution, but that it could be. And, finally, as a result, it is neither voluntarist nor Utopian to challenge them to struggle, to criticize and to repudiate the orientation and content of their skills and knowledge, and the illusory neutrality and unassailability of their scientific work (Gorz, 1976, p. 166).
It would be better, then, to shift the question of formulating a new role for the architect. In order not to reinforce the division of labour, not to fall into the illusion of believing that we are indispensable, and also not to remain defending, even if indirectly, some role (even a newer and transformed one, such as mediator of collaborative projects, producer of interfaces, an inducer of an insurgent planning, etc.), perhaps it is better to make another question. How – here and now – can we, researchers architects, social movements, and self-organized groups with whom we have interacted, discuss and elaborate formulations about the world we live in and the world we would like to build?
3 Lessons from Geography: becoming a verb
The problems of division of labour, pointed out by André Gorz (1976), constitute and are constitutive of scientific knowledge production. As stated by geographer Marcelo Lopes de Souza (2017), all the sciences of society are affected by the division of academic work. “Each of them was 'split' like a piece of a mutilated, dismembered 'body' (concrete society), divided into parts” (SOUZA, 2017, p. 461, emphasis in original, our translation). According to another geographer, Carlos Walter Porto-Gonçalves (2004, pp. 261-262, our translation):
Social sciences are instituted by and instituting of contemporary society and, thus, overcoming the division of scientific work, as it appears, is part of the struggle to overcome the contradictions of that same society. [...] It should be noted that major theoretical contributions to the comprehension of social processes were given by intellectuals who, strictly speaking, do not fit into this division of scientific work, such as Marx and Engels, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Mariátegui, among so many others. This is because, to paraphrase Marx himself, these intellectuals were not merely interpreting the world but also trying to transform it.
In this sense, the field of Geography presents interesting possibilities. As Souza (2017) points out, despite being a "dual personality" scientific field (Souza, 2017, p. 461, our translation) (Science of Nature and Science of Society), Geography has not been treated as a "bridge science" (Souza, 2017, p. 462, our translation), but as a polarized scientific field between both epistemological domains and, therefore, it has been condemned to a gradual demise. However,
Ironically, by its "omnivorous" character, its vocation for ambitious syntheses, and by its ease of working with various scales of analysis in an integrated manner, the knowledge known as Geography, within the framework of the positivist division of academic work, is potentially one of the most adverse to "disciplinarism". Consequently, it is better able to embrace non-limiting, non-mutilating contributions. For this, however, geographers need a metatheoretical (philosophical) basis that will provide them with a reading of the world, of the praxis, and of the research itself appropriate to the task of valuing the different dimensions of reality (Souza, 2017, p. 462, our translation).
Just like Architecture, the past of Geography is also entwined with the conservation of hegemonic power. In some of his works, Porto-Gonçalves refers to the origins of the latter and shows how it was born already committed to the structures of power, emerging as practical knowledge in the constitution of the modern-colonial world, even before it became a science in the 19th century. According to the author, the geographer was, at first, the specialist in representing space, the King's official who made maps and delimited the Territorial States borders. In other words, he was more a professional who worked in territorial control procedures than theoretical interest, even if, since Renaissance, he acquired a presumably mathematical and objective perspective (Porto-Gonçalves, 2002).
Porto-Gonçalves (2019) reveals that, when he realized this, he wanted to "commit suicide as a geographer". In his militancy along with Latin American social movements, however, he learned to re-signify his place. According to him, in the 1980s, rubber tappers from the Amazon rainforest “resurrected” him as a geographer: while they had never seen themselves “from above”, and this represented another dimension in their struggle for their territory, he had never seen them “from below” in the sphere of everyday space (Porto-Gonçalves, 2019). This encounter mobilized a powerful academic-militant partnership, capable of rethinking space and of building power from below through exchanges of knowledge and the design of strategies to resist against those who wanted to exterminate them. Porto-Gonçalves believes that social movements bring to light, because of their existence, not only the contradictions of space and society but also what society we can be and what it is unable to be. The author adds that “Therefore, every social movement carries, to some degree, a new order that, as such, presupposes new positions, new relationships, always socially instituted, between places” (Porto-Gonçalves, 2004, p. 269-270, our translation).
Based on this idea, the geographer invites us to think of Geography as a verb – the act of marking the land – and no longer as a noun. According to him, “[...] the different social movements re-signify space and, thus, with new signs they graph the earth, geographize, reinventing society” (Porto-Gonçalves, 2004, p. 269-270, our translation). In this perspective, which also brings up the conflicts of the territory(s), other ways of interpreting the world emerge, confronting the prevailing social order. As stated by the author:
In 1993, when I was working in northern Bolivia, in the Department of Pando, I heard from a peasant the following statement: “we do not want land, we want territory”. For the first time, I had heard the expression territory spoken outside the academic or legal field. I began to understand that the territory can be reinvented, when I saw that peasant reject the debate on agrarian reform in the theoretical-political framework of the West, where the land is perceived only as a means of production (Porto-Gonçalves, 2012, p. 54, our translation).
According to Uruguayan journalist Raul Zibechi (2015), Latin American urban social movements8 are directly bound to peasant and indigenous movements, sharing theoretical and political concepts such as territory, autonomy, and self-government. For the author, the rural poor people are making an agrarian reform from below, and "[...] the urban poor are following similar paths, certainly with much more difficulty" (p. 28). The author states:
The way they produced the transition from land to territory, from the struggle for rights to the struggle for autonomy and self-government; that is, how the transition went from domination to resistance and the affirmation of difference, have particular importance for urban communities that, in the passage between the two centuries, began to root in self-constructed urban spaces (Zibechi, 2015, p. 40, our translation).
However, it is possible to see that not all social movements and groups that rise in self-constructed urban spaces have a territory notion as clear as have historically presented the other groups mentioned. In the urban space, the capitalist logic of labour and property integrates with popular modes of living. It becomes difficult to determine where abstract space and differential space are constituted9, in Henri Lefebvre’s (1991) terms, outlining clear challenges to autonomy. It is precisely in this space that the performance of the architect-researcher-militant has appeared with great prominence.
Considering these challenges intrinsic to the urban space and faced within the field of Architecture, and taking the exercise of Porto-Gonçalves as an example, would it be possible to think of Architecture as a verb rather than a noun? Bringing academic and non-academic knowledge (or academic knowledge outside the academy) together in a task similar to that presented by Geography?
Architecture as a verb, following this proposition, determines a social practice, not limited to a professional field10. Perhaps, for this, it presupposes, before the essential transformation of the architect's role, his "suicide", the abandonment of the knowledge monopoly. Architecture as a noun and the architect as a subject would no longer be at the centre of the debate, but practice, as collective know-how [saber-fazer]. Thus, it opens up for the performances of different actors and, in this sense, for other possibilities of collaboration with social movements. Based on this approach, the contradictions, both in the practices of architects and in the practices of social movements and groups that arise in urban space, could thus be the object of debate, criticism, and collective transformation.
4 Architects and social movements: how to collaborate?
The work of architects-researchers-militants – subjects not only active in their professional and academic practices but also engaged in mobilizations for social transformation alongside social movements and urban insurgent groups – can be identified in Brazil, since the 1960s, within the scope of urbanization processes of towns and favelas (Ferreira, 2017). It has also become well known, from the 1980s, with the struggles for Urban Reform, and in the 1990s, with the rise of self-management policies in popular housing projects in municipalities such as São Paulo (State of São Paulo, Brazil), Belo Horizonte and Ipatinga (State of Minas Gerais, Brazil). More recently, militant architects have gradually acquired a considerable role in the occupations of buildings and urban land, organized by housing movements after the 2000s. They are part, along with (and perhaps with more strength than) geographers, of the broad set of "academic supporters" of the homeless (Souza, 2015, p. 30, our translation).
However, after many decades building knowledge and practices along with popular movements, there still is the accumulation of frustrations regarding this partnership in the field of Architecture and Urbanism. João Marcos de Almeida Lopes, an architect with long experience in this area11, summarizes the uneasiness resulting from this journey, which shuffles "technical work and political militancy" (Lopes, 2018, p. 241, our translation):
If we shared, technicians and autonomous constructors, the same assumptions of autonomy and self-determination, why do not we recognize today in the daily practices installed in the housing projects we helped to build, even an outline of affinity with the speeches we sharpened together? (Lopes, 2018, p. 242, our translation).
Lopes elaborates some reasons for this mismatch, pointing out that, on the architects’ side, the references to such assumptions "[...] were and are, most of it, Eurocentric, especially if we consider the discursive aspect linked to the libertarian and anarchist tradition" (2018, p. 243, our translation). The meaning of the idea of autonomy and self-determination was not built through popular local references, such as those mentioned by Zibechi (2015). The architects engaged with these groups either did not care or realize the importance of "[...] asking about the genetic identity of such foundations" (Lopes, 2018, p. 243, our translation).
Besides, there is yet another dimension that cannot be forgotten: when working with such groups, we, as architects-researchers-militants, do not clearly position ourselves as agents of social transformation. We do not readily decide whether to put ourselves in such processes as militants or as architects. This gets quite clear in the case narrated by Lopes (2018) about the advisory given by USINA to the Ireno Alves dos Santos settlement, located in the central-west of the state of Paraná (Brazil), that consists on one of the biggest occupations of the Landless Workers Movement [Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra - MST] built between mid-1998 and 2000. This settlement involved a construction site of 1500 families on 27,000 hectares, as well as a semi-urban village in ruins, to be reformed. In one of his visits to the village, the architect came across with a banner which said "OPENING SOON: CHAINSAWS AND MOTORS MECHANIC", in the place where the headquarters of the cooperative he was advising was supposedly going to operate.
I commented and complained to one of the local MST leaders [...], saying that this initiative ran counter to all the discussions we were promoting. I said that I did not know how to act in a situation like that, that the leadership of the movement should take a firm stance to prevent similar initiatives, and that it was not my role as technical advisor to interfere in that context, and so on. His answer was quite synthetic [...]: "This problem of identity, of not knowing whether you are part of the base or the direction, is your problem, from the city...". After that conversation, I went to the place where the banner was, and I pulled it out, letting the staff of the cooperative office know that they could look for me in case someone came to complain about the removal of the banner (Lopes, 2018, p. 247, our translation).
This case is important to illustrate the dilemma of architects when they behave like militants: to do what one believes, in one another's territory, or to wait for the other to do it in their own territory, to guarantee a supposed professional neutrality, what is “the least worst” choice? According to Gabriel Tupinambá, in a reflection based on a critique of the political economy of the militancy, this seems to be, in fact, a general problem of left-wing militancy in the current scenario:
When a militant decides to "go" to society, it implies that he does not understand himself as part of society – and renounces something to "join" others. Abandoning this distinctive feature, which carries a certain tragic satisfaction, is one of the most significant organizational challenges of the left (Tupinambá, 2017, emphasis in original, our translation).
When tearing the banner off, João Marcos recognizes his involvement in the construction of that space, stripping himself of his presumed role as an architect (technical advisor) to take responsibility concerning the practices produced collectively. This action, however, does not emerge without a prior conflict between preserving his role as an architect and acting as a militant, which seems to imply a choice between one and another. Regarding this transformation of positioning, the geographer Timo Bartholl proposes important methodological elaborations. In elaborating a theory about militant research as a method, Bartholl states that “The order of importance is decisive: self-interest, composed of personal and political interest […] is ahead of academic or scientific interests [...]. I do not take part in a process because I want to investigate it, but I investigate it because I am part of it" (Bartholl, 2018, p. 24, our translation). The geographer understands that the pursuit of articulating research and practices of resistance has as its engine the quest for an emancipatory praxis.
To the question: "Geographers and social movements, how to collaborate?" Bartholl (2018, p. 54, our translation) answers with another one: "how [...] to separate Geography, on the one hand, and social movement, on the other?" If we have observed militants from popular movements joining universities as researchers, researchers approaching movements to become militants, and this is a potentiality, not a limitation, "Is there why or how to separate the two fields, the subjects and their efforts (to act, to reflect, to study and to transform)? (Bartholl, 2018, p. 54, our translation). He advocates:
I understand Geographies made with, in, and by movements as a proposal to relate research/theorization and practice/self-reflection (know-with [saberes-com] and know-how [saberes-fazeres]), both in terms of intra and inter-subject relationships, as a collective task (trans-subject). For this, there is no ideal form or standard that everyone must follow. Subjects can open themselves to the challenge of militating-reflecting-researching-theorizing. This does not release us from the need to clearly define at what point/stage/process/place in the cycles of practice-theory we are, but in epistemological terms, the posture can and must go beyond “one or another”, “researcher or militant”. [...] This process may involve academic structures and more strictly, scientific or not (Bartholl, 2018, pp. 57-58, emphasis added, our translation).
Therefore, I believe that the challenge of militating-reflecting-researching-theorizing, shared among the subjects, as proposed by Bartholl, encounters the idea of architecture as a verb, inspired by Porto-Gonçalves’ proposal, mentioned above.
5 Final remarks
As I have tried to demonstrate here, the possibilities of action for the architect-researcher-militant must go beyond the search for an elaboration of a new architect’s role. The architect-researcher-militant is a professional who already exists, here and now, and who is in constant transformation. She/he carries a contradiction in herself/himself, born within the division of labour, configuring herself/himself as the holder of a heteronomous power who is gradually discovering herself/himself as part of a social change. What I have tried to show, in this regard, is the need to think about a transformation of methodological positioning.
In this direction, would it be possible to bring lessons from Geography? We saw with Porto-Gonçalves that, more important than defining Geography as a noun, it would be to construct it as a verb with social movements. With Timo Bartholl's militant research, we present the possibility of breaking the distance between militant and academic, as individuals in movement for social transformation.
The challenges that appear in the field of Architecture, however, present some specificities. To transform her/his positioning, the architect-researcher-militant needs to open space for the know-with [saberes-com] and the know-how [saberes-fazeres]. However, this does not happen without commitment. As the architect Tiago Castelo Branco Lourenço remembers:
As well as the prestige granted by the professional's position, the admiration for one’s instruments makes us proud, without making us realize how the distance and the hierarchy generated contradict our intention to contribute to an emancipatory political action. The capital’s material and symbolic production, in which architects participate daily, does not end in occupations for the mere intention of undoing it, because the subjective dispositions that these professionals acquire over time do not come undone there either (Lourenço, 2014, p. 155, our translation).
To commit suicide as an architect is a difficult task when people accept us as an integrated part of the struggle precisely because of the incomes brought by our technical authority. However, it is necessary to reaffirm constantly (for ourselves and the other actors) that:
The knowledge (legal, geographic, architectural, historiographical, about computer science, video making, etc.) brought by the academic supporters (members of the daily support group or the solidarity network) can be very useful and even crucial. However, it is neither infallible (colossal illusion!), nor intrinsically more important than the technical knowledge of a bricklayer, carpenter, or peasant (Souza, 2015, p. 36, our translation).
As stated by Souza (2015, p. 36, emphasis in original, our translation), "The knowledge of the oppressed social base [...] must and can be integrated with academic knowledge, for the benefit of both parties". Perhaps a possible path for the architect-researcher-militant is to continuously integrate herself/himself with the processes which he contributes, not ending her/his activities after the work (or the research project) ends. Therefore, talking about the contradictions of labour and property in urban spaces would become a problem for everyone, including ourselves, not just those we advise. It is never too late to remember what we often seem to forget: transforming the world where we live in is a continuous process that concerns all of us, those who, as Timo Bartholl (2018) says, “[...] struggle to transform, investigate to understand and reflect to enhance the popular struggle” (Bartholl, 2018, p. 56).
Acknowledgements
This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.
References
Baltazar, A. P., and Kapp, S., 2006. Por uma Arquitetura não planejada: o arquiteto como designer de interfaces e o usuário como produtor de espaços. Impulso, Piracicaba, 17(44), p. 93-103.
Bartholl, T., 2018. Por uma geografia em movimento: a ciência como ferramenta de luta. Rio de Janeiro: Consequência.
Bastos, C. D., Magalhães, F. N. C., Miranda, G. M., Silva, H., Tonucci Filho, J. B. M., Cruz, M. de M., Velloso, R. de C. L., 2017. Entre o espaço abstrato e o espaço diferencial: ocupações urbanas em Belo Horizonte. Revista Brasileira De Estudos Urbanos e Regionais, 19(2), p. 251-266.
Ferreira, L. I. C., 2017. Arquitetos militantes em urbanização de favelas: uma exploração a partir de casos de São Paulo e do Rio de janeiro. Msc. Thesis, Universidade de São Paulo.
Ferro, S., 2006. Arquitetura e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac Naify.
Gorz, A., 1976. The division of labour: the labour process and class-struggle in modern capitalism. Sussex: The Harvester Press.
Kapp, S., Nogueira, P., and Baltazar, A. P., 2009. Arquiteto sempre tem conceito, esse é o problema. IV Seminário Projetar, 2009, São Paulo, Brazil. São Paulo: UPM, p.1-19.
Lefebvre, H., 1991. The production of space. Oxford: Blackwell Publishing.
Linhares, J., and Morado Nascimento, D., 2018. Atuação do arquiteto na produção da moradia autoconstruída pela população de baixa renda. In: Libânio, C., and Alves, J. (orgs.). Periferias em rede: experiências e perspectivas. Belo Horizonte: Favela é isso aí, pp. 147-167.
Lopes, J. M. A., 2018. Nós, os arquitetos dos sem-teto. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 20(2), pp. 237-253.
Lourenço, T. C. B., 2014. Cidade Ocupada. Msc. Thesis, Universidade Federal de Minas Gerais.
Morado Nascimento, D., Costa, H. S. de M., Mendonça, J. G. de, Lopes, M. S. B., Lamounier, R. da F., Salomão, T. M. N., Soares, A. C.B., 2015. Programa Minha Casa Minha Vida: desafios e avanços na Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: Santo Amore, C., Shimbo, L., and Rufino, M. (orgs.). Minha Casa… e a cidade? Rio de Janeiro: Letra Capital, pp. 195-228.
Porto Gonçalves, C. W., 2002. Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades. In: Ceceña, A., and Sader, E. (orgs.). La guerra infinita: hegemonia y terror mundial. Buenos Aires: Clacso, pp. 217-256.
Porto-Gonçalves, C. W., (2004). ‘A geograficidade do social: uma contribuição para o debate metodológico para o estudo de conflitos e movimentos sociais na América Latina’. In: Seoane, J. (org.). Movimentos sociales y conflito en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, pp. 261-279.
Porto-Gonçalves, C. W., 2012. A reinvenção dos territórios na América Latina/Abya Yala. Cidade do México: Universidad Nacional Autónoma De México.
Porto-Gonçalves, C. W., 2019. De territórios e de territorialidades: espaço e poder em questão. Lecture. Belo Horizonte: UFMG.
Souza, M. L., 2015. Dos espaços de controle aos territórios dissidentes. Rio de Janeiro: Consequência.
Souza, M. L., 2017. Por uma geografia libertária. Rio de Janeiro: Consequência.
Stevens, G., 1998. The favored circle. The social foundations of architectural distinction. Cambridge, MA: MIT Press.
Tupinambá, G., 2017. A força social da graça, ou: como se avalia o poder popular? [online]. Blog da Boitempo.. Available: https://blogdaboitempo.com.br/2017/07/26/a-forca-social-da-graca-ou-como-se-avalia-o-poder-popular/. Accesses: 4 Nov. 2019.
Velloso, R., 2015. A cidade contra o Estado: sobre a construção política de escalas e institucionalidades. In: Costa, G.; Costa, H.; Monte-Mór, R. (orgs.). Teorias e práticas urbanas: condições para a sociedade urbana. Belo Horizonte: C/Arte, pp. 129-144.
Zibechi, R., 2015. Territórios em resistência: cartografia política das periferias urbanas latino-americanas. Rio de Janeiro: Consequência.
1 In 2007, the Program to Support the Plans for Restructuring and Expansion of the Federal Universities System in Brazil (REUNI) started. That made it possible to create the Architecture and Urbanism night course at the Federal University of Minas Gerais, in 2009, with an innovative curriculum, attentive to contemporary urban issues.
2 Even our class council, the Council of Architecture and Urbanism (CAU), has carried out several campaigns to finance and promote technical advisory to economically disadvantaged groups (and unfortunately tried, sometimes opportunistically, to create a niche market from that).
3 The event was called “Colloquium to investigate urban emergency” and had a roundtable with Rita Velloso, Thiago Canettieri, and Timo Bartholl to debate the subject. The colloquium was part of a series of events promoted within the scope of the cooperation project “Constellations of the urban: right to the city, metropolitan citizenship, urban movements, and conflicts”, recently signed between the Institute for Housing and Urban Research (IBF), Uppsala University (Sweden), and the UFMG School of Architecture (Brazil). I am one of the members of this cooperation project (Capes/STINT 28/2018).
4 Baltazar and Kapp (2006) argue that the role of the architect “[...] is no longer to design architectural or urban objects but to produce interfaces. The architect can take a step back and, instead of predetermining spaces, create instruments so that users and builders can determine them, themselves” (p. 100, our translation).
5 Linhares and Morado (2018) propose that the architect acts as “[...] mediator of information between technical knowledge and the knowledge of residents” (p. 151, our translation). She or he must stop being the one who receives demands or solves problems, giving up power over technical design and becoming “[...] a provocateur, a proposer, a technical advisor, capable of providing important data and information for self-construction practice” (p. 151, our translation).
6 According to Bourdieu, “A field is a mutually supporting set of social institutions, individuals and discourses” (Stevens, 1998, p. 74).
7 In O canteiro e o desenho, Sérgio Ferro (2006) makes this quite clear when it comes to the relationship between the production of architectural design and the construction of buildings.
8 Zibechi (2015) prefers to refer to them as “societies in movement” or “territories in resistance”, in contrast to the often bureaucratic and, according to him, “colonized” idea of “social movement” (Zibechi, 2015, p. 35, our translation).
9 According to Lefebvre (1991, p. 370), “Abstract space, which is the tool of domination, asphyxiates whatever is conceived within it and then strives to emerge. […] This space is a lethal one which destroys the historical conditions that gave rise to it, its own (internal) differences, and any such differences that show signs of developing, in order to impose an abstract homogeneity”. The differential space, on the other hand, will “[…] restore unity to what abstract space breaks up – to the functions, elements and moments of social practice” (p. 52). The relationship between abstract space and differential space in urban occupations for housing can be seen in Bastos et al (2017).
10 In this sense, the definition of architecture presented by Kapp, Nogueira and Baltazar (2009, p. 5, our translation) can reveal a similar perspective, despite it does not mention architecture as a verb: “[...] the space transformed by human work, not just that small portion designed by architects and recognized by the academic and professional field of architecture [...]. In other words, the architecture includes the common, everyday, 'ordinary' space”.
11 In addition to being an academic, the architect is an associate at USINA - Center for Work for the Inhabited Environment, of which he was coordinator between 1990 and 2005. In the group, he worked on projects and construction of affordable housing promoted by mutual aid and self-management, projects and construction in precarious settlements, development of housing policies and programs, applied research, and systems development (as informed in his curriculum on the Lattes Platform, available in: http://lattes.cnpq.br/9454329212153701. Accessed on: 03/05/2020.