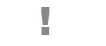PERGUNTAS MODERNAS, PERGUNTAS RADICAIS
Carlos Alberto Ferreira Martins é Arquiteto, Doutor e Livre-docente em Arquitetura e Urbanismo, Professor Titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, IAU-USP, do qual foi Diretor e onde coordena o grupo de pesquisa em Arquitetura Moderna no Brasil, ArqBras. Estuda arquitetura e urbanismo modernos no Brasil e na América Latina e arquitetura e urbanismo das vanguardas europeias.
Marcelo Tramontano é Arquiteto, Doutor e Livre-docente em Arquitetura e Urbanismo. Professor Associado e pesquisador do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), onde coordena o Nomads.usp, Núcleo de Estudos de Habitares Interativos, e é editor-chefe da revista V!RUS..
Como citar esse texto: MARTINS, C.A.F.; TRAMONTANO, M. Perguntas modernas, perguntas radicais. V!RUS, São Carlos, n. 12, 2016. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus12/?sec=2&item=1&lang=pt>. Acesso em: 02 Jul. 2025.
Marcelo Tramontano: Carlos, eu gostaria que começássemos conceituando a noção de Moderno, consolidada no período entre o final do século XIX e início do século XX, e sua evolução até meados do século XX, correspondendo ao recorte temporal que fizemos nessa edição da V!RUS. Proponho pensar no que era ser moderno naquele momento, em sentido amplo, tendo como pano de fundo o fato de que essa noção começa a ser construída na Renascença, no início dos chamados Tempos Modernos. Após as revoluções do setecentos e a consolidação do pensamento científico-tecnológico do oitocentos, chegamos a esse momento com que concepções de Moderno e modernidade?
Carlos Martins: Primeiramente, eu quero agradecer o convite da V!RUS e dizer que achei bastante pertinente a ideia de um número dedicado aos Modernos Radicais ou, se quisermos, à modernidade radical, precisamente por isso que você acaba de colocar. Uma das dificuldades de falar em Moderno e em modernidade é o recorte temporal. Estamos falando do que? De um processo que se inicia no Renascimento? Na verdade, nós aprendemos no colégio que a Idade Moderna começa no século XVI. Aqui, hoje, vamos falar de um fenômeno que se deu há um século, e no colégio aprendemos que esse momento já se situa na Idade Contemporânea, não mais Moderna.
Acho, então, adequado lembrar do Thomas Kuhn e de sua ideia sobre as revoluções científicas. A ideia é de que toda revolução tem uma dimensão de negação e superação. Mas também a tese central do Thomas Kuhn é que as revoluções científicas têm tanto uma dimensão de permanência quanto de mudança, e que é importante investigar e entender essas duas dimensões. Eu acho muito pertinente um foco sobre essa nova modernidade, essa modernidade radical da virada do século XIX para o século XX, porque é um novo estágio qualitativo de um processo que, de fato, se inicia no século XVI marcado por duas questões fundamentais. Uma delas é o início de um novo raciocínio científico, e a reivindicação de que a ciência seja incorporada à vida quotidiana. Como nós sabemos a partir da história da arquitetura, essa reivindicação atinge o próprio âmbito das artes - a reivindicação da ciência como um elemento integrante da produção artística. Para ficar no exemplo mais banal: a incorporação da perspectiva como mecanismo racional e científico de representação. Ou, para dar outro exemplo, convencional até, a história da arquitetura: a utilização do cálculo na concepção da famosa cúpula de Santa Maria Del Fiore.
A segunda questão fundamental que marca a ideia de Moderno, desde a sua origem, no século XVI, é a ampliação geográfica do mundo. Ela supõe o início daquilo que, muito mais tarde, se vai chamar de globalização, com enorme impacto sobre a vida quotidiana. Poderíamos, por exemplo, tentar imaginar o que os europeus comiam na época da descoberta da América. A partir disso tem-se um processo de diversificação, inclusive nesse nível da alimentação, e também as suas contrapartidas: o conhecimento passa a viajar, os alimentos passam a viajar, as doenças passam a viajar, e todo o problema das populações autóctones da América, por exemplo, é extremamente marcado por tudo isso. Nesse duplo sentido, de uma ampliação da escala geográfica conhecida e da incorporação da ciência como elemento constitutivo de todas as esferas da vida social, aí incluídas as esferas artística e arquitetônica, o que exatamente acontece? Qual é o salto de qualidade, qual é a diferença que se coloca, a meu juízo, nesse momento particular que é a virada do século XIX para o século XX?
Em primeiro lugar, há a incorporação de um processo que vem desde o século XIX - a chamada Revolução Industrial -, a incorporação do conhecimento científico como um elemento transformador, numa escala até então inédita, à vida quotidiana. Se, até então, podia-se ainda pensar no velho esquema marxista de infraestrutura e superestrutura, no qual a ciência seria parte da superestrutura, no século XIX ele se inverte. A ciência passa a ser a infraestrutura. O conhecimento da eletricidade e o conhecimento na química, por exemplo, passam a ser elementos centrais e motrizes de um conjunto de transformações que tem um impacto brutal na vida quotidiana. É muito interessante perceber, nesse momento em particular, a passagem da cidade industrial, para uma outra coisa, mais difícil de definir, que é a cidade moderna, a grande cidade, ou a metrópole. Não se trata precisamente da cidade industrial clássica da descrição de Friedrich Engels. Nessa passagem, há um duplo movimento que, de um lado, vem pela emergência de novas disciplinas, novos conhecimentos científicos, a emergência da história ao longo do século XIX, mas sobretudo da sociologia, ou das sociologias, no final do século XIX e começo do século XX. Em particular, a emergência de algo que começa a se constituir como a sociologia urbana, a emergência da necessidade de se aplicar o conhecimento científico para a compreensão do modo de funcionamento da sociedade, e a percepção, cada vez mais forte e evidente, de que as novas formas de vida dessa nova sociedade são essencialmente formas de vida urbanas.
Essa passagem é decisiva. Quantitativamente, ela só se expressará mais adiante, talvez na metade do século XX, no momento em que a população do planeta como um todo passa a ser majoritariamente urbana. No entanto, os primeiros sintomas desse processo já são perceptíveis na virada do século XIX para o século XX. Por outro lado, há um movimento em paralelo a esse que vem por outra disciplina, também então recentemente criada, que é a história da arte. A história da arte tende a mostrar um processo pelo qual as manifestações artísticas caminham, com uma certa inexorabilidade, para uma novidade fundamental, pelo menos na história recente de uns mil anos anteriores, que é a emergência da abstração.
Tem-se, então, dois movimentos que partem de lados diferentes para chegar a uma conclusão comum: a de que esse novo tipo de sociedade, cujo locus é um novo tipo de cidade, que não é nem a cidade tradicional, nem a cidade industrial, mas uma cidade moderna que, para alguns será a metrópole e, para outros é a Gross Stadt, a grande cidade, metropolitana ou não, tem como atributo fundamental a ideia de abstração. Abstração em diferentes níveis. Abstração compreendida como um processo de desnaturalização. Há, claro, muito autores trabalhando esse processo, mas é possível identificar principalmente dois deles. Wilhelm Worringer, pelo lado da história da arte, aponta uma trajetória da produção artística, da vontade de arte que vai da proximidade à natureza a um processo de abstração, e, de outro lado, Georg Simmel, sobretudo no ensaio “A metrópole e a vida mental”, entendendo esse processo como o de uma vida cada vez mais desnaturalizada. Em que sentido? Desnaturalizada, tanto no âmbito do espaço, quanto no âmbito do tempo. Segundo a leitura proposta pela sociologia ou pela economia política, a desnaturalização do espaço e do tempo é um processo de alteração das condições da vida quotidiana, consequência imediata da característica fundamental da sociedade moderna, que é a monetarização.
A monetarização, o dinheiro como suporte fundamental das relações sociais, carrega consigo, nessa leitura, um processo de abstração das qualidades. Isso é identificado tanto nos estudos sociológicos quanto em várias manifestações culturais. Na literatura, isso aparece com muita força, por exemplo, no livro de Robert Musil, retratando a Viena do começo do século XX, cujo título sintomático é “O homem sem qualidades”. Isso quer dizer que o indivíduo deixa de ter qualidades, no sentido daquilo que é inerente à sua pessoa, à sua origem familiar, à sua religião, às suas convicções, e passa a simplesmente ocupar posições. Uma posição na qual desaparecem os elementos fundamentais que qualificariam seu papel nas comunidades em que ele vivia até então. Ou seja, não importa mais a sua origem familiar, a sua convicção religiosa, mas importa a sua posição na sociedade, e ela é definida por aquele elemento, abstrato por definição, que é o dinheiro.
O ensaio “A metrópole e a vida mental” chama a atenção para o fato de que a característica fundamental desse novo locus social - a cidade moderna, que não é mais, eu insisto, a cidade industrial - é, por um lado, a abstração, por outro lado, uma contradição central entre a afirmação de uma autonomia do sujeito, do indivíduo, como nunca se havia tido na história, e, ainda, a ideia do livre arbítrio, a ideia de que você é absolutamente senhor da sua vida, de que você se casa com quem você quiser e não com quem a sua família ou os determinantes sociais estabelecerem. Esse é o momento da afirmação plena da subjetividade moderna, da afirmação do indivíduo, que vem da tradição ilustrada. Mas é também quando se percebe que esta é uma contradição insolúvel e central, com uma interdependência entre os indivíduos, como também nunca se havia tido na história. Nunca o indivíduo havia sido tão dependente das outras pessoas para prover sua própria vida material e mental. Ele não é mais capaz de produzir seu próprio alimento, nem o seu vestuário, e assim sucessivamente.
Uma característica fundamental dessa contradição é a abstração das relações sociais, em especial das relações de tempo. Não existe mais o tempo natural. Existe o relógio. Ele marca um tempo tão arbitrário e convencional que um governo pode decidir que, a partir de agora, a população deve atrasar seus relógios porque é uma hora a menos. É sintomático que, em algumas das obras de arquitetura mais emblemáticas desse momento, por exemplo a Fábrica Fagus, o destaque é o relógio. O relógio passa a ser um elemento central porque é ele que regula a vida das pessoas. O tempo delas está desnaturalizado. Elas já não se levantam para trabalhar quando o sol nasce, nem voltam do trabalho quando o sol se põe. Faça chuva, faça sol, seja inverno ou verão, há uma determinação abstrata. São sete horas? Depende. Se o governo decidir assim, não são sete, são oito. Em um mapa mundi com a definição dos fusos horários, essa questão está claramente marcada. Desnaturalização do espaço também, porque não há mais condições de se movimentar na grande cidade a partir de referências naturais. Não se vai mais até a padaria do seu Joaquim, de lá vira-se à direita, caminha-se até a farmácia do seu Estevão e, assim, chega-se aonde se queria ir. Para se movimentar no espaço urbano também passa a ser necessário um conjunto de regras absolutamente convencionais, portanto, desnaturalizadas. Vai-se à rua que tem um nome “X”, nem é preciso saber qual a origem daquele nome, procura-se o número tal e sobe-se ao apartamento número tal. Hoje, obedece-se ao GPS.
Mas que outros atributos tem esse novo locus, esse locus chamado - talvez na falta de melhor expressão - de cidade moderna? Além da abstração, da contradição entre a afirmação da subjetividade e da individualidade absoluta, e da cada vez maior interdependência entre as pessoas, ele é marcado por uma hipertrofia dos estímulos sensoriais. De fato, essa nova cidade, que não é mais a cidade industrial, é extremamente barulhenta, extremamente malcheirosa, e marcada por uma quantidade de estímulos visuais que literalmente fritariam nosso cérebro se tivéssemos que atentar a todos eles. Ou seja, ela é uma cidade de pessoas cada vez mais surdas, que reduzem a sua sensibilidade olfativa e visual por mecanismos de defesa fisiológica: quando se é exposto a um alto nível de ruído durante um tempo grande, o ouvido, fisiologicamente falando, tem mecanismos que reduzem a sensibilidade para preservar o próprio corpo.
Isso coloca um dilema, e aqui chegamos aos modernos radicais, pelo menos pensando no âmbito da produção artística, da arquitetura ao urbanismo, da pintura, da poesia, da música. Esse dilema é o seguinte: ainda existe possibilidade de fazer arte neste novo locus? Ainda há sentido em compor, se um músico, um compositor, um maestro, tem que se dirigir a uma plateia cada vez mais surda? Que sentido ainda há em pintar, esculpir ou fazer arquitetura, se as pessoas, por uma questão de autodefesa fisiológica, bloqueiam a sua capacidade de visão? Que sentido há em fazer arquitetura, se as pessoas usufruem dessa cidade e vivem nela em um modo de proteção que acabou ficando conhecido como 'percepção distraída'? Tem-se, então, uma situação onde se coloca, talvez pela primeira vez desde o Renascimento, uma aparente impossibilidade radical de se realizar qualquer atividade artística. Compor para surdos, pintar para cegos que se “auto-cegam”, fazer arquitetura em um universo onde a percepção é distraída: por definição, as pessoas não olham por onde estão passando.
Isso coloca um novo ponto de vista. Quando falamos em modernos radicais, ou em movimento moderno, ou em arquitetura e urbanismo modernos, deveríamos deixar de pensá-los como estilo, ou como um conjunto de respostas dadas a uma situação. Porque os limites das expressões "movimento moderno", "modernismo", "arte e arquitetura modernas" são muito claros e é preciso, portanto, considerar a diversidade de suas manifestações internas. O que me permite chamar de “movimento” manifestações tão distintas entre si como o suprematismo, o futurismo, o expressionismo e o surrealismo? Por que eu posso chamar tudo isso de Moderno? Como eu posso colocá-las todas em uma mesma gaveta conceitual? A minha hipótese é de que o que há em comum entre estas manifestações - e aí a gente chegaria à ideia dos modernos radicais - não são as respostas, mas o fato de estarem enfrentando as mesmas perguntas. Basicamente: é possível ainda fazer arte neste novo mundo? E outras perguntas que decorrem imediatamente desta: se eu quiser afirmar que é possível, se eu estiver disposto a perseguir essa possibilidade, então como é essa arte? Ela certamente não poderá ser mais a arte dos séculos anteriores. Um músico como Stravinsky não pode se colocar na mesma situação que um Mozart, um Beethoven, um Mahler se colocavam. Por quê? Porque há ainda outro aspecto radical, nesse processo todo, que é a emergência de um personagem completamente novo e desconhecido até então na história: a multidão.
A multidão é o fato sociológico que demarca a ruptura desse momento da virada do século XIX para o século XX em relação aos momentos anteriores. A multidão não é plebe, nem massa. A multidão é a melhor expressão da contradição essencial do indivíduo que afirma a sua autonomia e é, ao mesmo tempo, totalmente interdependente. A multidão é onde o indivíduo está absolutamente solitário. Ela é o espaço da solidão. Mas a multidão é, ao mesmo tempo, personagem e destinatário da produção artística desse momento. A multidão se configura também como público. Até então, os artistas não tinham exatamente um público. Quando compunha uma das suas peças, Mozart sabia que ela seria apresentada pela primeira vez no salão do Bispo Tal. Ele até conhecia as quarenta pessoas que estariam lá, e sabia do que a Condessa Fulana de Tal gostava ou não gostava. O músico tinha, portanto, uma relação direta com a sua audiência. A emergência desse novo personagem que é a multidão, e que, no âmbito das artes, se expressa como público, também introduz um brutal diferencial na produção artística. Ele, o artista, não sabe quais são as pessoas a quem ele destina sua produção. Ele não sabe quem vai comprar um disco, quem vai comprar um livro, ou quem vai afixar na sua parede um cartaz.
Temos então uma situação que exige radicalidade. Radicalidade de, primeiro, se perguntar se a arte ainda é possível. Segundo, de se afirmar que sim, ela é ainda possível. E, nesse caso, ter que responder à pergunta: como ela será? Como deve ser essa arte que precisa dar conta de que as pessoas estão cada vez mais cegas, surdas, de que elas são uma massa indiferenciada, de que elas não são mais pessoas, mas multidão ou público? Como dirigir-se a elas? O que precisa mudar na produção de arte, ou o que precisa passar a ser compreendido como arte para que eu possa afirmar que a arte ainda é possível, que ela ainda tem espaço nesse novo mundo, nessa nova sociedade? Daí uma primeira consequência, da qual se ouve falar com muita frequência, e passa desapercebida, que é a ideia de que a arte moderna é auto-reflexiva. E auto-reflexiva quer dizer o que? Quer dizer que ela tem de se perguntar como ela opera, com o objetivo de responder à nova condição que está dada, essa da multidão, do público, ou em outras palavras, a ideia da universalidade.
É uma pretensão, e pretensão aí tem os dois sentidos necessários dessa modernidade radical: é a perspectiva de se falar para todo o planeta. Nesse processo que se inicia lá no século XVI, também a passagem do século XIX para o século XX constitui um marco fundamental pois é quando o modo de produção capitalista, que passou pelos estágios mercantil, industrial, etc., chega ao momento que alguns chamam de imperialismo, cuja grande questão é que, pela primeira vez na história da humanidade, ele abrange o planeta inteiro. É a primeira vez, em cem mil anos de existência do homem, em que se tem um modo de produção que organiza as regiões mais distantes e díspares do planeta. Isso coloca um problema adicional. A ideia de universalidade era, até então, mera abstração, mera construção espiritual: 'Penso que todos os homens nascem iguais e, portanto, são dotados de um atributo comum a todos que é a razão'. Okay, é isso o que a ilustração nos diz. Contudo, além desse substrato comum - a razão -, havia agora um outro elemento fundamental: todos os homens do planeta estão incorporados em um mesmo processo produtivo, ainda que de maneira diferenciada, desigual e combinada. O seringueiro no Acre está participando de um processo que tem a ver com a indústria automobilística, com o petróleo, com a siderurgia. Portanto, a universalidade deixa de ser um conceito abstrato e passa a se colocar como um desafio concreto.
Para a arte, esse é um dos grandes problemas desse momento. Como falar da mesma forma para pessoas dispersas em países distintos, com histórias distintas, culturas distintas, que falam línguas distintas, imersas em tradições culturais distintas? É também por aí que chega, a meu juízo, o tema da abstração. Busca-se perceber o quê, nas diferentes linguagens artísticas, poderia ser a manifestação essencial capaz de ser compreendida por qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, independentemente da sua cultura, da sua formação literária, pictórica, etc.. O tema da abstração surge como uma resposta possível a isso. Ele não surge por devaneio dos artistas. Existe um esforço - voltando ao início da conversa -, de se trazer o raciocínio, a precisão e a lógica da produção científica e tecnológica, nesse caso da indústria, para dentro dos procedimentos artísticos. Não se trata apenas e tão somente de incorporar a ciência aos procedimentos artísticos. Isso também ocorre, e o exemplo mais direto é o desenvolvimento da psicologia gestáltica, que trata da tendência de configurarmos uma forma completa a partir da simples apresentação de alguns de seus detalhes. Ela é a tentativa de se estabelecer ou de se verificar, na percepção, a existência de certos procedimentos diretamente fisiológicos que não dependem da formação cultural.
Há uma aposta, nesse caso, no fato de que esse é um instrumento científico que permite atingir essa universalidade potencial da comunicação artística. Por outro lado, como eu disse, nesse processo ao longo do século XIX, a ciência deixou de ser superestrutura e passou a ser infraestrutura. Isso significa que a ciência é cada vez mais tecnologia, sendo cada vez mais incorporada à forma industrial de produção. A indústria aparece, portanto - e, no âmbito da arquitetura, é assim para Le Corbusier, para Walter Gropius, para Mies van der Rohe -, ao mesmo tempo como um problema e uma possibilidade de solução. Porque se eu quero me dirigir à multidão e se eu quero realizar uma obra que tenha validade universal, eu preciso que essa obra atinja fisicamente a multidão. Daí o tema da reprodutibilidade técnica, daí o tema da seriação e da possibilidade de industrialização.
Diante desse quadro mais amplo de determinações, a radicalidade desses Modernos da virada do século XIX para o século XX está, digamos, na coragem com que eles enfrentaram essas perguntas: é possível ainda fazer arte nesse mundo? E, se é possível, como é essa arte? Como ela leva em consideração tanto o fato de que o seu público é distinto, que os indivíduos têm a sua capacidade e a sua sensibilidade diminuída, quanto à necessidade de buscar formas de comunicação, buscar linguagens capazes de superar as formações corporais específicas? Como se comunica uma mensagem visual para um setor da humanidade que não passou pela experiência do treino da perspectiva? Ou seja, que não entendeu a representação perspectívica como natural? A primeira coisa - e a gestalt ajuda isso - é mostrar que ela não é natural, ela é construída. Um indígena de Bornéu, quando vê a representação que nós tradicionalmente fazemos de um cubo, não vê o cubo. Então como é que ele vê?
Isso ajuda a entender, por exemplo no âmbito pictórico, o interesse desses modernos radicais por formas não-ocidentais de representação. No caso concreto do cubismo e do surrealismo, passando por, praticamente, todos os movimentos pictóricos, há um enorme interesse pela mal-chamada arte africana, ou arte primitiva. Nada nos autoriza a dizer que aquelas máscaras, ou cetros, ou tronos, fossem, para os africanos, ameríndios ou asiáticos, arte no sentido que o ocidente atribui à palavra: algo à parte da vida quotidiana, que demanda uma atitude de fruição diferente das atitudes quotidianas, que tem uma certa sacralidade. Por que esse interesse de um Picasso e do cubismo em geral, ou do surrealismo, por esses objetos? Porque se vê ali um outro sistema de representação e de expressão que não passa pela visão eurocêntrica da perspectiva como forma culturalmente naturalizada de representação.
Por que o interesse dos músicos empenhados nesse processo de renovação radical, de repensar a sua disciplina a partir das chamadas manifestações populares? Stravinsky, visitando Cuba, relata que ele ia pelas ruas freneticamente fazendo notações musicais dos ritmos que ele ouve e, em certo momento, ele escreve em seu diário de viagem: "Chegou uma hora em que eu desisti. Porque era complexo demais, era sofisticado demais para incorporar.".
Falar em modernidade ou em modernos radicais é falar no enfrentamento necessário de algumas perguntas fundamentais, mas é também reconhecer que, pictoricamente, arquitetonicamente, musicalmente, as respostas têm uma enorme diversidade. Pode-se, no entanto, identificar algumas estratégias em comum fundamentais. Uma delas é a chamada estratégia do choque. Se a condição desnaturalizada da vida do homem na cidade moderna é a desatenção, é o percurso distraído, então a primeira coisa a fazer é chamar a sua atenção. Isso significa necessariamente dar-lhe um choque. No lançamento da Sagração da Primavera, na Ópera de Paris, para um público que estava acostumado com a música tradicional, esse choque está no início da peça musical: uma forte percussão rítmica que só pode ser percebida por aquele público como puro barbarismo. Onde já se viu, na Ópera de Paris, diante do público parisiense, entrar um tímpano brutal que parece vir da África ou de Cuba, ou dos distantes mujiques soviéticos? A estratégia do choque é um "presta atenção!", é um "por favor, me ouça!".
Marcelo Tramontano: Seria possível identificarmos isso também na arquitetura?
Carlos Martins:: Na arquitetura, a estratégia de choque passa por várias dimensões. A supressão do ornamento é uma delas. A minha leitura dessa questão da supressão do ornamento é menos do mundo da ética, que afirma que o ornamento é excesso. Eu não acho que se trate de uma escolha purista. Vejo nela pelo menos uma dimensão essencial, que é a estratégia de choque. As pessoas estavam tão acostumadas a ver indíces ornamentais indicando que um espaço era nobre, indicando eventualmente a sua função - 'se esse edifício tem colunas dóricas, aqui deve ser um tribunal' -, e de repente elas vêem algo que não conseguem decodificar imediatamente, que as obriga a parar e... olhar. O choque é, assim, uma estratégia fundamental. Esse momento em que toda a produção artística está sendo obrigada a se redefinir é marcado, no caso da arquitetura, por um movimento que propõe socialmente a redefinição do seu estatuto. Além de se perguntar quem é o seu público, como operar, etc., ela se propõe a ser uma outra coisa que ela não era até então. E um dos componentes dessa outra coisa, desse novo estatuto, é o reivindicar-se como um saber sobre a cidade. De maneira central e radical.
A reivindicação, pela arquitetura, da condição de um saber sobre a cidade tem uma história. É a história do embate, ao longo do século XIX, com os médicos, os advogados, os engenheiros sanitaristas, que coloca uma questão de redefinição de mercado profissional. Mas, para além disso, essa reivindicação propõe a incorporação da racionalidade e da precisão do mundo industrial como uma condição de atualização da ação da arquitetura para atingir esse novo público, que é a multidão. Reivindica-se, ainda, que caiba ao arquiteto um olhar sobre a organização da vida social, que se traduz não apenas na forma mas na discussão e na definição do programa da arquitetura. Talvez esse seja um dos aspectos a que menos se dá atenção quando se fala sobre a arquitetura desse período. Na documentação dos primeiros CIAM [os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna], é possível perceber que esse é praticamente o primeiro momento em que os arquitetos se vêem na obrigatoriedade de também raciocinar como sociólogos. Constrói-se, então, um conjunto de perguntas imprescindíveis para a arquitetura que nunca o foram antes, sobre o novo papel da mulher no processo de transformação social, sobre como se reorganiza o trabalho doméstico. Não é à toa que o tema da cozinha passa a ser central. Claro que a questão da habitação, na nova escala colocada pela grande cidade, é decisiva. Mas aí o interessante é que a arquitetura pelo menos tenta afirmar que não se pode separar o olhar sobre a organização interna da casa do olhar sobre a organização do conjunto da cidade.
Marcelo Tramontano: Essa multidão, que surge na virada do século XIX para o século XX como protagonista na vida social e no meio urbano, será objeto, ao longo de todo o século, de diversos desenvolvimentos, como, por exemplo, as comunicações em massa. Penso, em especial, em uma série de acontecimentos pós-Segunda Guerra Mundial que marcaram os anos 1960, como a formulação de várias teorias que buscavam lidar com a complexidade colocada pela ampliação do alcance e da variedade dos meios de se transmitir informação socialmente. Se, por um lado, esses meios nunca foram politicamente neutros, por outro lado ajudaram a sociedade a enxergar-se como tal. Também daí provavelmente derivam concepções que temos hoje de cidade, entre elas a de que a participação ativa dessa multidão nas decisões sobre a vida urbana é desejável. Penso aqui nos discursos que têm validado as chamadas manifestações cidadãs, a ideia de cidades criativas, entre outros. A partir da sua fala, me pergunto como poderíamos relacionar aquele protagonismo da multidão na cidade do começo do século XX com essa participação ativa hoje encorajada. Que processos históricos, iniciados lá atrás, atravessaram o século XX, configurando, cem anos depois, uma situação na qual deseja-se, talvez, que até o papel de planejador da cidade seja compartilhado com a multidão? Eu gostaria de ouvir você sobre isso.
Carlos Martins:: Há duas questões aí que são distintas e importantes. A primeira é que esses modernos radicais estavam pensando a sua relação com a multidão e com a cidade na ausência ainda histórica de algo que passa a ser decisivo na metade do século, que são os meios de comunicação de massa, ou, mais precisamente, a ideia de indústria cultural. Isso não estava colocado no início do século. Nas primeiras duas décadas do século XX, os meios de comunicação de massa eram o cinema, o rádio e a imprensa. Não havia televisão, e, obviamente, não havia nada nem remotamente parecido com a Internet e as novas tecnologias de comunicação e informação. Isso é importante porque, na relação entre o produtor cultural e a multidão, se introduz, em meados do século XX, um outro elemento que a redefine radicalmente, que é a indústria cultural. Com uma série de impactos inclusive sobre a dimensão valorativa.
Em 1991, no segundo centenário da morte de Mozart, percebeu-se que havia se tornado muito difícil saber se ainda deveríamos chamar a sua música de “erudita”, ao menos no sentido de oposição a “popular”. Mozart está absolutamente incorporado pela indústria cultural, e ela introduz uma indiferenciação de valor que é muito complicada do ponto de vista da modernidade radical. Certos aspectos que, para os modernos radicais, eram um problema enfrentar são alçados e valorados positivamente. Estou pensando na questão dos situacionistas. A ideia de deambulação, que, em última instância, é a ideia da percepção distraída - que para a modernidade radical é um problema -, passa a ser transformada em um valor e em uma outra forma possível de apreensão, compreensão e apropriação do espaço urbano, por exemplo.
A introdução dos meios de comunicação de massa e da indústria cultural faz com que a própria ideia de multidão passe por uma transformação em termos sociais. Do ponto de vista mais específico da arquitetura e de sua tentativa de se afirmar como agente planejador, parece-me bastante pertinente e produtiva a leitura feita por [Manfredo] Tafuri. No caso específico das vanguardas, essa leitura é, para mim, muito estimulante. Tafuri diz que não faz o menor sentido pensar que arquitetura moderna ou o movimento moderno entraram em crise nos anos 1950 ou 1960. Ele diz que a crise efetiva da arquitetura e do urbanismo modernos ocorre em 1929. Por que? Toda essa construção de um novo estatuto da arquitetura que se reivindica como um saber sobre a cidade, como saber técnico-científico rigoroso, constituiria, em última instância, o que ele chama de "a utopia do plano": a ideia de que, a partir do conhecimento técnico rigoroso, seja possível controlar o desenvolvimento da cidade. Controlar o desenvolvimento da cidade é, obviamente, controlar o desenvolvimento das forças produtivas. Ele diz que isso entra definitivamente em crise a partir de 1929 porque no mundo ocidental temos o planejamento keynesiano e, no mundo comunista, a adoção dos planos quinquenais. E aí, diz Tafuri, nesse momento a arquitetura passa da sua intenção - ou pretensão, ou utopia - de ser agente do plano para ser um dos objetos do plano. É o planejamento econômico que vai determinar o processo de expansão das cidades e sua organização interna. Então temos aí dois momentos e duas questões importantes para pensar a questão que você coloca.
Marcelo Tramontano: Apesar da maneira radical com que afrontaram essas questões complexas que lhes estavam sendo colocadas, do que, na sua opinião, os modernos radicais do início do século XX não conseguiram dar conta?
Carlos Martins:: Eles não deram conta da emergência de um processo de comunicação radicalmente novo, da forma pela qual o processo produtivo capitalista absorveu e instrumentalizou aquilo que, em um primeiro momento, era reação a ele. A racionalidade da arte e da arquitetura eram uma reação à irracionalidade do sistema capitalista. E o sistema capitalista absorveu, engoliu, deglutiu, fagocitou antropofagicamente essa capacidade de reação pela via da indústria cultural. Segundo uma perspectiva tafuriana, o tapete foi puxado lá atrás. Não é mais nem o arquiteto, nem esse coordenador de uma equipe multidisciplinar, que simplesmente se apoia em um Estado concebido como interessado no bem comum, que vai ser o principal promotor ou organizador do processo de planejamento. Ele passa a ser um paciente, um elemento particular desse processo.
Dito isso, por que continuarmos, cem anos depois, debruçados sobre esse momento? Eu diria que não apenas porque é importante aprender a capacidade que a produção artística teve, naquele momento, de se enfrentar com um mundo, uma sociedade, uma cidade radicalmente novos. Vamos lembrar o peso simbólico e material da Primeira Guerra Mundial, incisivo nesse caso. Ao lermos textos de finais dos anos 1910 e começo dos anos 1920, é impressionante como é forte a ideia de que a Primeira Guerra Mundial “matou” o velho mundo: 'acabou!, o mundo não é mais nada assim, os valores não são mais os mesmos, a organização não é mais a mesma'. Ela mata materialmente também a expressão desse mundo - as cidades -, embora em uma escala menor do que a Segunda Guerra Mundial. Mas, simbolicamente, esse processo de destruição do mundo e, portanto, a ideia de que existe um mundo novo são marcas fundamentais de toda essa geração. O mundo novo tem as mais diversas manifestações ideológicas. O mundo novo é tanto a utopia comunista, para alguns, como é, no limite, a utopia de uma racionalidade técnico-construtiva que evite a revolução, para Le Corbusier. Para ele, é preciso construir para evitar a revolução; para Hannes Meyer, é preciso construir para levar adiante a revolução. De qualquer maneira, a ideia de mundo novo é uma ideia central à qual todos eles têm que responder.
Talvez seja esse um dos elementos que nos colocam a necessidade de voltar a olhar para esse momento. Sobretudo pela atual emergência das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo processo de financeirização que mal e mal nós chamamos de globalização. Eu diria que a arte e a arquitetura estão sendo novamente chamadas ao desafio de repensar o seu estatuto. As perguntas 'o que é arquitetura?', 'o que é pintura?', 'o que é música?' voltam a estar colocadas hoje. O que são os processos de arquitetura face ao mundo das realidades virtuais? Devemos negá-los? Incorporá-los? Como é que se trabalha com isso? O que é arquitetura nesse novo momento de universalização e financeirização? O que é arquitetura e o que é cidade? O que é paisagem? O que são ilhas em formato de coqueiro construídas em Dubai? Isso é o quê? Isso é arquitetura? Isso é paisagem? Isso é geografia? Onde estamos?
No seu livro "S, M, L, XL", Rem Koolhaas faz uma reflexão sobre as escalas que me parece interessante. Ele diz que uma das dificuldades de se pensar arquitetura hoje é que nós não sabemos mais o que ela é, porque, na prática, ela é um monte de coisas que vão do design de interiores ao design em termos mais gerais, até o urbanismo. Como é possível que uma única disciplina dê conta de tudo isso? E ele diz que talvez seja o momento de abandonar o acessório e o mimimi e se concentrar naquilo que é o fundamental, o decisivo, o estratégico. Para ele, é a grande escala. Para ele, é voltar a reivindicar a arquitetura como um saber sobre a cidade. Eu diria que essa é uma questão que está colocada para a arquitetura, hoje, no planeta. Ela está chamada a repensar qual o seu objeto, porque não parece razoável que uma disciplina ainda se reivindique como corpo de conhecimento disciplinar que vai do desenho da colher ao planejamento da região metropolitana. A ideia de um método e de um apoio na visão técnica que dê conta de todos os problemas de formalização, ou seja, de dar forma desde a colher à região metropolitana, obviamente, não resiste mais.
Mas se não é mais isso, então o que é? O que justifica que a nossa regulamentação profissional diga que nós somos responsáveis desde o design de interiores até o planejamento urbano? É possível isso? Faz sentido? Koolhaas acha que não. Paulo Mendes da Rocha também acha que não. Esses personagens, com trajetórias tão distintas, têm uma coisa em comum: eles partem de uma visão moderna. Com trajetórias muito distintas, mas bebendo na fonte da radicalidade moderna, eles chegam a conclusões muito próximas. Koolhaas diz que é preciso se concentrar naquilo que é estratégico, a grande escala, e Paulo Mendes da Rocha diz que o homem não habita a casa porque a casa é só um equipamento: o homem habita a cidade. Essa ideia de que o homem habita a cidade remete à questão que você coloca porque significa o dilema da recuperação da valoração do espaço público. Espaço público em uma sociedade onde as dimensões pública e privada estão cada vez mais indiferenciadas. Quais são as estratégias possíveis de valorização do espaço público, o espaço concebido como a nossa esfera precípua de atuação? Como dar forma a algo que, do ponto de vista do substrato social, é cada vez mais informe, ou, pelo menos, cada vez mais difícil de delimitar?
Nas obras do Paulo [Mendes da Rocha] e, em termos gerais, da arquitetura paulista - e falar em arquitetura paulista é já falar de um momento em que a reflexão poética da arquitetura tenta dar conta dessas mudanças e dessa nova situação - chama a atenção a maneira como eles trabalham de forma a tensionar a ideia de um limite claro entre espaço público e espaço privado. Nas casas do Paulo, o asfalto vai até o primeiro degrau de acesso à casa. Qual é o limite? Onde termina a casa e começa a cidade? Se eu não sei qual é o limite entre o público e o privado, como eu posso valorizar o espaço público? Onde é o espaço público, onde ele termina? De qualquer maneira, essas questões só podem ser pensadas a partir da hipótese de que talvez estejamos colocados face à necessidade de uma redefinição do estatuto da arquitetura.
Marcelo Tramontano: Eu gostaria de acrescentar um pouco de lenha nessa fogueira para pensarmos o que poderia ser a concepção de modernidade hoje, à luz do gene que situamos no começo do século XX e também de seus desenvolvimentos ao longo do século. Por um lado, você falou da alteração dos conceitos de tempo e de espaço, das maneiras como eles eram entendidos então, e que foram se modificando ao longo do século, inclusive em função das guerras. Outra questão que você colocou agora é a da relação entre o público e o privado, cujas fronteiras foram ficando menos claras. A informatização vai, a partir das décadas de 1960 e 1970, agir com mais força justamente nesses dois pares conceituais - tempo e espaço, público e privado - no que tange à vida na cidade, às preocupações da arquitetura e também das artes, do cinema, da literatura. Como repensar a modernidade hoje, dentro desse contexto informatizado, com todas essas questões colocadas, considerando as espacialidades híbridas possibilitadas pelos meios digitais?
Carlos Martins:: Difícil dizer. Talvez seja menos difícil começar por dizer como não fazer mais, ou quais são os limites dessa produção de cem anos atrás. O quê, das poéticas, da definição e afirmação de um novo estatuto perdeu-se, não tem mais condição de validade? Isso, obviamente, não significa aderir à ideia de uma pós-modernidade. Mas que alterações qualitativas substanciais se dão na modernidade para que essa modernidade radical do início do século XX tenha perdido alguns dos seus suportes? Acho que uma delas é a questão da visualidade. Explico.
Se a aposta na abstração é uma aposta central, a ideia de uma arquitetura que se comunica universalmente pela abstração entra em crise no início dos anos 1940. É quando se percebe, para desespero absoluto dos modernos radicais, que a tal da multidão não gosta daquilo. Que ela é incapaz de compreender aquilo. A tal da multidão gosta da arquitetura clássica, que ela consegue decodificar. O primeiro alerta sobre essa dificuldade é o famoso texto comum do [Fernand] Léger, do [Siegfried] Giedion e do [Josep Lluis] Sert, "Nove pontos sobre a monumentalidade", que reivindica a inversão radical de um pressuposto básico da arquitetura moderna, da arquitetura do movimento moderno. Até então, a ideia corrente é aquela que o [Lewis] Mumford sintetiza dizendo que se alguma coisa é monumental não é moderno, e se alguma coisa é moderna não é monumental. A primeira cunha que Sert, Giedion e Léger colocam é dizer que, sem pensar uma nova monumentalidade, não tradicional, moderna, o desafio e o objetivo fundamental de falar com a multidão estão perdidos a priori. Era preciso, portanto, agregar à ideia da construção da cidade uma quinta função. Não mais apenas habitar, circular, trabalhar e usufruir o lazer, mas também construir os suportes de uma sociabilidade urbana. Se a arquitetura não conseguisse, diziam eles, se apresentar como uma disciplina e produzir objetos e obras capazes de promover um sentimento de identificação, de pertencimento, ela estaria falida no seu projeto histórico. É daí que surge a ideia de centro cívico. Além de ser ótima e funcional para habitar, trabalhar, circular e lazer, a cidade precisa ter espaços remetendo diretamente ao espaço público, cuja função seja estimular a ideia de pertencimento. Seus habitantes precisam sentir-se identificados com essa cidade, essa praça, esse edifício, esse monumento.
Além disso, embora o tema da abstração estivesse colocado, há uma certa figuratividade na arquitetura moderna radical. E essa figuratividade não é mais a figuratividade tradicional das ordens, dos ornatos, etc., mas do mundo mecânico. A cidade do [Antonio] Sant’Elia, dos projetos construtivos, do [Le] Corbusier, do Mies [Van Der Rohe] no limite, não é naturalística, mas há uma figuratividade. Ela parte da base que está redefinindo a vida social e essa base é a indústria, ainda na sua manifestação mecânica. O que fazem o construtivismo, o futurismo, o próprio Le Corbusier e o Mies é trazer para a arquitetura essa figuratividade. A arquitetura, se pudermos dizer assim, com os devidos limites, representa um mundo mecânico entendido como aquilo que está transformando e configurando a sociedade.
Qual o problema na passagem para nós, hoje, a partir da metade do século XX e cada vez mais fortemente? Essa ideia me foi apresentada por Sophia Telles. O problema é que a base tecnológica que está reorganizando a nossa vida social é invisível, é eletrônica, é da escala do nano. Como eu consigo figurativar um mundo eletrônico? Eu posso realizar um procedimento analógico, desenhar circuitos, mas o circuito é só o suporte material de um processo que é, na verdade, invisível. Como tornar visível, como assumir como padrão de visibilidade aquilo que é invisível? Esse é um problema constitutivo da disciplina. Como ela faz isso? Acho que, em parte, é essa impossibilidade que abre espaço para coisas do tipo Pós-Modernismo dos anos 1980, pensando não em um pós-modernismo europeu, pela via do [Aldo] Rossi, mas em um pós-modernismo mais figurativo, na via do [Robert] Venturi. Um pós-modernismo que se pergunta: diante da impossibilidade de continuar figurativando um mundo mecânico, e diante da impossibilidade de figurativar o mundo da tecnologia digital, que é por definição invisível, como assumir isso como base para o mundo material? Não é gratuito que estejamos falando de um conjunto de fenômenos ou propostas de cem anos atrás, e que não estejamos mais falando de um conjunto de propostas de vinte anos atrás, que desapareceu do cenário. Quem ainda se lembra de Leon Krier? E não se trata só do pós-modernismo mas também do chamado desconstrutivismo. Ele também é um retorno ao ofício, à profissão, porque também se ocupa de recuperar os procedimentos geométricos. Ou seja, a arquitetura está tendo uma enorme dificuldade de se relacionar com o mundo exterior a ela.
Eu diria que essa é uma razão para se olhar para esse processo de cem anos atrás. Obviamente, não para repetir as mesmas respostas, mas para entender como um conjunto de alterações na vida social e no âmbito tecnológico obrigaram a arquitetura a repensar seu estatuto. A sociologia do trabalho estabelece uma distinção, que talvez seja útil para esse caso, entre o que ela chama de profissão e de ocupação. Ela diz que a ocupação é algo que decorre de maneira muito direta do processo de especialização técnica do trabalho. Ninguém inventou um engenheiro de produção, ou, hoje, um administrador de fundos hedge. Essas ocupações decorrem diretamente do processo técnico de especialização do trabalho. Já a profissão, para essa vertente da sociologia do trabalho, depende muito da capacidade e da força, inclusive simbólica, dos detentores de um determinado saber para conseguir convencer a sociedade de sua importância e valor. É aquela questão que enfrentamos no nosso quotidiano: qual a diferença entre um arquiteto e um engenheiro civil? Por quê, afinal de contas, eu tenho que contratar um arquiteto se um engenheiro civil pode fazer as mesmas coisas? Não à toa vemos frequentemente a resposta a isso na forma de campanhas. É preciso explicar que 'se você contratar um arquiteto, ao contrário do que você estava imaginando, vai economizar porque o arquiteto faz de maneira mais racional, etc.'. A profissão é marcada por essa condição de ter que convencer a sociedade de qual a sua função e o seu papel.
É isso que, em ultima instância, podemos chamar de estatuto. Porque a arquitetura tem que conseguir convencer a sociedade de qual é o seu papel e sua função social. Não sei se existem muitas outras profissões ou áreas que permanentemente coloquem como tema de reflexão e de eventos: "Qual é a nossa função social?". Os administradores não estão se perguntando isso, nem os engenheiros de produção, os operadores de fundo hedge, nem os geólogos estão se perguntando isso, mas nós estamos. Esses são sintomas de que, de fato, nesse momento, a arquitetura precisa voltar a se perguntar o que ela quer ser e o que ela acha que tem condições de convencer a sociedade de que pode ser.
Marcelo Tramontano: Há aí uma questão no mínimo intrigante. Na virada do século XIX para o XX, a reivindicação dos arquitetos de participar do processo de produção das cidades foi vitoriosa e, ao longo do século, inclusive no Brasil, a importância dessa participação não foi menor. Podemos lembrar, por exemplo, que, na década de 1940, o IAB [Instituto dos Arquitetos do Brasil] organizou discussões envolvendo a sociedade e o Poder Público sobre o processo, então em curso, de verticalização de grandes cidades brasileiras. A postura desses arquitetos se fundamentava essencialmente nos ideais modernos. No entanto, se hoje temos que nos perguntar para que serve um arquiteto, estaríamos, ao mesmo tempo, admitindo que a bagagem moderna que ele traz, seu ferramental para afrontar os problemas contemporâneos, pode também não servir mais?
Carlos Martins:: Vamos pensar. Na segunda metade do século XIX, o tema de organização das cidades pertencia aos engenheiros, aos sanitaristas, aos médicos, aos advogados e a arquitetura reivindicou entrar nessa discussão. Nos processos industriais, na produção em massa, etc., os arquitetos também não estavam aí. Esses eram temas dos engenheiros, dos economistas, da discussão do fordismo, do taylorismo. Os arquitetos não apenas reivindicaram entrar nessa discussão mas, mais do que isso, reivindicaram para si uma centralidade no processo. Eles reivindicaram e conseguiram fazer com uma relativa competência. Houve um certo acordo social, fruto de um convencimento de que cabia aos arquitetos fazer isso. Acho que essa observação é central para se pensar se os arquitetos, hoje, estão dispostos a novamente reivindicar uma redefinição do seu papel.
Ou estamos satisfeitos com aquilo que a dinâmica financeira, sobretudo, nos coloca como papel? Fomos nós, arquitetos, que reivindicamos, nos anos 1980 e 1990, que nossa atuação central deveria ser a realização de objetos únicos, exemplares, capazes de se transformar em marcas - brands - do desenvolvimento urbano? Produzir grandes torres, grandes museus, fomos nós que reivindicamos esse papel? Foi a disciplina que reivindicou esse papel, ou ele decorreu da aceitação de algo imposto por uma dinâmica definida fora do âmbito da disciplina? Foi a arquitetura que colocou um entendimento do processo de desenvolvimento internacional dos anos 1980, 1990, ou, se quisermos, até a crise de 2008, como um processo de competição entre cidades? Ou os arquitetos aceitaram um papel subalterno em algo chamado Planejamento Estratégico que, na verdade, estava sendo definido fora do âmbito disciplinar? Acho que, além de olhar o que aconteceu cem anos atrás de maneira genérica, também é relevante fazer esse acompanhamento que você está cobrando, mais rigoroso, sobre quais foram as múltiplas manifestações da chamada crise da arquitetura moderna. Como a arquitetura foi se comportando e reagindo face a uma alteração profunda nos processos de demanda para a profissão? Em que medida nós não transformamos necessidade em virtude? Em que medida fazer 'Guggenheims' não passou a ser algo que a arquitetura assumiu - a ideia da obra única, que é mais marca do que obra -, envolto no discurso de que se está valorizando o espaço público, quando, na verdade, isso é totalmente discutível? A Torre Agbar é um espaço público? Por quê? O próprio [museu] Guggenheim [de Bilbao] é um espaço público? São espaços privados, de instituições privadas. Essa foi a marca da produção da arquitetura durante os últimos vinte ou trinta anos. Com a ideia do star system agregado a isso, o arquiteto não produz mais obras: ele produz marcas e ele próprio é uma marca. Muito mais do que possam ter sido Gropius ou Mies. Então acho que a questão que você coloca é central, e eu tenho a impressão de que não basta olhar apenas para cem anos atrás para respondê-la. É preciso examinar de que maneiras a famosa e famigerada crise da arquitetura moderna a partir dos anos 1950 ou 1960 foi se constituindo.
Tanto no âmbito do conhecimento disciplinar, quanto no âmbito da produção disciplinar, que são coisas distintas. Na virada do século XIX para o século XX, talvez se possa identificar, na ação da arquitetura, um esforço de incorporar aos seus procedimentos internos, normas, conhecimentos e, sobretudo, uma racionalidade e uma precisão que vêm de fora. Vêm da matemática, da mecânica, da ciência em termos gerais, da racionalidade da produção industrial. Buscava-se trazer isso para dentro e fazer com que isso fosse constitutivo do pensar arquitetura, do teorizar e do fazer arquitetura. Dos anos 1960 em diante, a arquitetura voltou a estabelecer relações muito fortes com campos disciplinares externos a ela, que foram variando. Nós passamos da semiótica à proxêmica, à linguística, depois à renda da terra… Sobre a trajetória do ensino e da produção teórica da arquitetura dos anos 1960 para cá, há um belo artigo da Françoise Choay. A UNESCO organizou, em meados dos anos 1990, um simpósio para fazer uma espécie de estado da arte das Artes. Quem escreve sobre arquitetura é Françoise Choay, e ela faz uma recuperação de todas as disciplinas externas à arquitetura nas quais a arquitetura tentou se apoiar. Eu diria que talvez uma diferença fundamental entre esse processo e o processo do início dos anos 1920 é que, lá, eles não estavam tentando se apoiar, mas trazer essas contribuições disciplinares para dentro da lógica própria da operação da arquitetura. Não foi o que ocorreu dos anos 1960 para cá. Ficamos tentando achar as respostas que a arquitetura não conseguia mais oferecer, ora na semiologia, ora na linguística, ora na renda da terra, ora na sociologia urbana. Eu acho que há um impasse hoje, e não acredito que seja sustentável continuarmos reafirmando esse papel social que o CAU [Conselho de Arquitetura e Urbanismo] nos diz que temos. Não temos, e, do ponto de vista do ensino, não temos a menor possibilidade de, honestamente, formar alguém para fazer tudo isso. Agora, quem nós queremos formar?
Marcelo Tramontano: Essa era a minha próxima pergunta!
Carlos Martins:: No programa Ciência sem Fronteiras, a arquitetura foi alocada em um conjunto de disciplinas da chamada economia criativa: cinema, design… Podemos dizer isso, com uma certa intenção provocativa, da seguinte maneira: a arquitetura foi alocada em um conjunto de áreas de conhecimento ou de atividades cuja dinâmica fundamental é a da agregação de valor pela via do supérfluo.
Eu diria que, hoje, a arquitetura precisa resolver, para começo de conversa, se ela quer ser parte da economia criativa ou se ela quer voltar a ser um saber sobre a cidade. E as respostas que eu tenho ouvido de pessoas que eu respeito muito são as mais diferentes possíveis. Alguns me respondem com a maior convicção: "Claro que é economia criativa!". Os nossos amigos lá de cem anos atrás ficaram horrorizados com essa resposta. Mas talvez seja. Ao mesmo tempo, é fortíssima entre nós, especialmente nessa escola [IAU-USP], mas não só nela, a ideia de que continuamos querendo, ou queremos voltar a ser um saber sobre a cidade. Quando você fala em espaço público, em uma dimensão ética da valorização do espaço público porque é a valorização da cidadania, estamos falando da cidadania e não do consumo. Estamos falando de um saber sobre a cidade e não de economia criativa. Eu diria que hoje a arquitetura não tem uma crise: ela tem um dilema.
Marcelo Tramontano: Dentro dessa questão do ensino, estaríamos pensando mais em formar profissionais capazes de lidar com o urbano, com a coisa pública, com complexidades emergentes, em conjunto com a sociedade, como tem se reivindicado nas ruas e nos movimentos sociais, ou estamos formando pessoas aptas a lidar com o saber desse campo disciplinar e com um métier que depende, antes de tudo, do profissional arquiteto? Ou, se preferirmos, como conjugar as duas coisas, na sua opinião?
Carlos Martins:: Essa é outra questão fundamental e acho que ainda não fizemos um balanço de tudo que concerne a relação entre planejamento e participação. Na arquitetura, essa questão tem também umas três décadas, pelo menos. Ela ganha centralidade no debate internacional com [Christopher] Alexander, com a ideia de que é preciso abandonar uma suposta dimensão autoritária da arquitetura, que impõe condições espaciais e, ao fazê-lo, está impondo um modo de vida à revelia de quem vai sofrer esse modo de vida. Essa crítica reivindica eficácia e valor retroativos. Há vários trabalhos recentes mostrando o quanto os conjuntos habitacionais dos anos 1950 tinham uma dimensão autoritária, impositiva, que ignorava o contexto, a formação cultural, a situação socioeconômica dos seus moradores. Essa perspectiva ganhou força nos anos 1980 e 1990, com a ideia de valorização dos chamados movimentos sociais urbanos. Era o momento em que se teorizava que um conjunto de demandas da população são demandas dirigidas à cidade. Não se trata mais de greve por salário. Mais recentemente, passamos a ter, no planeta inteiro, a reivindicação massiva pelo espaço público, pela preservação da praça ou pela mobilidade urbana. É evidente que essa demanda vem ganhando muita força, e é necessário avaliar em que medida ela não pressupõe abrir mão de um conhecimento técnico e de um saber específico. O limite da ideia da participação, da ideia da horizontalidade dos processos decisórios sobre o espaço urbano e sobre o espaço físico, implica a dissolução do papel do arquiteto? Implica que ele deixe de existir enquanto tal? Ou seria necessário repensar um reequilíbrio entre essas duas dimensões?
Essa é uma das questões centrais, que está em aberto, para uma redefinição do estatuto da arquitetura. Não se trata só de optar entre economia criativa ou saber sobre a cidade. Mas veja, se a alternativa for um saber sobre a cidade, voltamos à questão: o que diferencia o saber sobre a cidade do arquiteto - não só em relação a quem nos comparamos tradicionalmente, os economistas, demógrafos, engenheiros, etc. - de um saber sobre a cidade do cidadão? Porque se esses saberes não se diferenciarem, então não tem sentido reivindicar um saber sobre a cidade. Somos cidadãos e como cidadãos entramos no processo horizontal de decisão e participação. Eu acho que isso é constitutivo desse dilema.
Marcelo Tramontano: Carlos, uma última pergunta: diante de todo esse quadro que traçamos aqui, o futuro lhe parece promissor?
Carlos Martins:: Eu sou historiador. Portanto, me é inescapável levar em consideração a referência de que partimos: um século atrás. Há um século, a expectativa média de vida na Europa era de algo em torno de 55 anos. No auge maravilhoso do Renascimento, era de 37 ou 38 anos. Hoje, a nossa expectativa média de vida, num país que nem tem um sistema de saneamento e saúde pública tão desenvolvido, como o Brasil, é de 70 e poucos anos. Nunca tivemos tanta fome e tanta miséria, mas também nunca tivemos tanta produção de riqueza. Então, sem aceitar nem permanecer iludido por uma perspectiva positivista de progresso, vivemos melhor do que antes. Essa é uma afirmação estatisticamente possível. Minha geração foi marcada pela possibilidade de uma interrupção cataclísmica disso, que estava colocada na hipótese de uma guerra nuclear. Hoje, isso parece muito distante, mas para a minha geração era absolutamente marcante. Em algum momento, um dos dois malucos podia apertar o botão vermelho. Hoje, a hipótese de um cataclisma nuclear que destrua 35 vezes o planeta não está mais colocada. Por outro lado, está colocado, com clareza cada vez maior, um aprofundamento das enormes desigualdades. A novidade mais recente é um grupo de economistas do FMI dizendo que toda a política econômica dos anos 1980 para cá é geradora de desigualdade. Então, a resposta à sua pergunta: depende.
Depende de que lado da pirâmide se está, ou de em que altura da pirâmide se está. Seguramente, há um avanço e uma melhoria, do ponto de vista estatístico, em relação à renda média e à expectativa de vida média, mas, por outro lado, há a ameaça de um aprofundamento cada vez mais brutal da desigualdade. Desigualdade de acesso a tudo, não só à educação e à saúde, mas de acesso à cidade. Há o peso da favelização e, para voltar à questão do saber sobre a cidade, talvez aqui se possa fazer um paralelismo com a cidade industrial. Um processo de reforma da cidade industrial se inicia, na metade do século XIX, quando as pessoas se dão conta de que, naquele nível de concentração populacional e de ausência de saneamento, criava-se um meio muito adequado para a proliferação de epidemias. Isso se torna um problema social quando as pessoas se dão conta de que a epidemia é democrática. Ela pega o operário, provavelmente primeiro, porque ele não tem boas condições físicas e tem menor resistência, mas ela vai pegar também o patrão e a sua família.
Hoje, temos uma epidemia contemporânea, uma manifestação do aprofundamento de desigualdades obscenas, na forma da violência urbana. É a violência urbana que nos afeta, hoje, não a todos da mesma maneira, mas tem a potencialidade de nos afetar a todos, independentemente da escala social da pirâmide em que estejamos. É ela que coloca, em última instância, os limites para essa utopia da qual não é possível abrir mão, que é a ideia da valorização do espaço público como condição, como substrato necessário da cidadania. Essa é a questão que se coloca hoje, e que torna difícil responder de maneira unívoca à sua pergunta. Não é mais uma questão exclusiva dos arquitetos. Se não houver um processo político-social para reverter a tendência de desmonte do Estado de bem-estar social - em curso desde os anos 1980 -, o processo de acumulação de riquezas do famoso 1% da população mundial que detém 65% da riqueza do planeta, e a sua consequência, que é a produção de uma legião cada vez maior de miseráveis, não vai haver espaço para a arquitetura. Ou, pelo menos, não vai ter espaço para a arquitetura na dimensão que queremos resgatar, que é aquela comprometida com a cidadania, com o espaço público. Estaremos entrincheirados entre dispositivos arquitetônicos anti-mendigos e veículos blindados.
Andar no centro de São Paulo é, hoje, apavorante. São espaços públicos que procuram evitar a presença de qualquer cidadão e, em particular, dessa coisa curiosa que é o homeless, que me parece ser um tema sobre o qual nós deveríamos refletir mais. O episódio recente da onda de frio na cidade de São Paulo abriu uma discussão muito interessante. A crítica mais imediata é a de que a prefeitura não oferece abrigos em quantidade suficiente. Mas alguns trabalhos de cunho etnográfico, e mesmo de jornalistas, através de entrevistas, perceberam que muitas pessoas não querem ir para abrigos. É curioso, porque a própria palavra homeless indica 'falta de', 'ausência de', uma pessoa 'sem casa'. O homeless pode ser um sujeito que decide habitar a cidade. É claro que há condicionantes econômicos, como a falta de dinheiro para voltar para casa. Muitas vezes, o morador de rua não é um homeless: ele tem casa em uma periferia distante do centro, mas não consegue voltar para casa porque não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus de ida e volta todo dia.
Sabemos que a quantidade de homeless no país mais rico do planeta está aumentando progressivamente. A quantidade de homeless hoje, nas grandes cidades norte-americanas, é muito maior do que há vinte ou trinta anos. Esse fato também nos coloca uma questão central na ideia de retomar a centralidade do espaço público urbano que é 'quem é o público urbano?'. Não se pode mais considerar um público abstrato, como há cem anos. Há aí um grande desafio para se pensar e, de novo, para pensar a dinâmica entre a participação e o planejamento. Ou seja, reconhecer o direito do cidadão de opinar sobre o locus em que ele desenvolve a sua vida e, ao mesmo tempo, reivindicar que a arquitetura é um saber específico. Há um equilíbrio a ser construído, e isso provavelmente não pode ser feito exclusivamente nem de um lado, nem de outro.
Se o futuro me parece promissor? Eu acho que ter futuro já é extraordinariamente promissor. E seria extremamente promissor podermos recuperar uma ideia de futuro. Uma vez, no programa Roda Viva, alguém perguntou ao Paulo Francis por que o Rio de Janeiro, nos anos 1950, tinha sido aquela coisa tão exuberante, do ponto de vista intelectual, com a bossa nova, o cinema, a literatura, a arquitetura. E do alto do seu extraordinário mau humor, Francis respondeu: “Ah, não sei, talvez porque tenha sido a última vez em que nós acreditamos que podíamos dar certo.” Eu tenho lembrado muito disso nos anos recentes, porque houve novamente um período, há poucos anos, em que nós acreditamos, enquanto país, que tínhamos voltado a dar certo. Estávamos pensando processos de minimização das disparidades sociais absurdas, processos de inclusão social, pensamos uma inserção internacional do Brasil de forma diferenciada, não tão subalterna, numa linha de política Sul-Sul, entre muitas outras coisas. Hoje, nesses últimos meses, tenho me perguntado se não estamos, enquanto país, abrindo definitivamente mão da possibilidade de dar certo. Em última instância, da possibilidade de pensar um futuro. No momento, eu estou com muito medo de que a gente, enquanto país, desista de ter um futuro.
MODERN QUESTIONS, RADICAL QUESTIONS
Carlos Martins is Doctor and Livre Docente in Architecture and Urbanism and Full Professor at the Institute of Architecture and Urbanism of the University of Sao Paulo, Brazil. He is a former Director of the Institute, and coordinates the research group on Modern Architecture in Brazil, ArqBras. He studies modern architecture and urbanism in Brazil and Latin America and architecture and urbanism of European vanguards.
Marcelo Tramontano is Architect and Livre Docente in Architecture and Urbanism, and Associate Professor and researcher at the Institute of Architecture and Urbanism, IAU-USP, of the University of Sao Paulo, Brazil. He directs the Nomads.usp, Center for Interactive Living Studies, and is the Editor-in-Chief of V!RUS journal. .
How to quote this text: Martins, C.A.F. and Tramontano, M., 2016. Modern questions, radical questions. Translated by Anja Pratschke. V!RUS, [e-journal] 12. [online] Available at: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus12/?sec=2&item=1&lang=en>. [Accessed: 02 July 2025].
Marcelo Tramontano: Carlos, I would like us to begin by conceptualizing the notion of Modern, consolidated in the period between the late nineteenth and early twentieth century, and its evolution until the mid-twentieth century, corresponding to the timeframe proposed by this V!RUS edition. I propose to consider what was like to be modern at that time, in a broader sense, with the background of the fact that this notion begins to be built during the Renaissance, at the beginning of the so called Modern Times. After the revolutions of the seventeenth century and the consolidation of scientific and technological thinking of the eighteenth century, with what kind of conceptions of Modern and modernity are we dealing in present day?
Carlos Martins:: First, I would like to thank the invitation of V!RUS and say that I found the idea to dedicate an edition to the Radical Moderns rather pertinent or, if we would like, to Radical Modernity, precisely for what you have just exposed. One of the difficulties of speaking on Modern and Modernity is its timeframe. We are talking about what exactly? Of a process which begins in the Renaissance? In fact, we learned in high school that the Modern Age begins in the sixteenth century. Here, today, we will talk about a phenomenon that occurred a century ago, and at high school we learned that this moment is already located in the Contemporaneity, not Modern anymore.
I think, then, correct to remember Thomas Kuhn and his idea about scientific revolutions. The idea is that every revolution has a dimension of denial and overcoming. But also, the central thesis of Thomas Kuhn is that scientific revolutions have a much larger dimension of permanence than of change, and that it is important to investigate and understand both dimensions. I find it very relevant to focus on this new, radical modernity at the turn of the nineteenth to the twentieth century, because it is a qualitatively new stage of a process, which actually begins in the sixteenth century marked by two fundamental questions. One is the beginning of a scientific reasoning, and the claim that science should be incorporated into everyday life. As we know, from the History of Architecture, this claim strikes at the very scope of the arts - the claim of science as an integral element of artistic production. To stay at the most banal example: the incorporation of the perspective as a rational and scientific mechanism of representation. Or, to give another example, even conventional, in the History of Architecture: the use of the calculation in the design of the famous dome of Santa Maria Del Fiore.
The second fundamental question that marks the idea of Modern, starting from its origins in the sixteenth century, is the geographical expansion of the world. It supposes the beginning of what much later will be called globalization, with huge impact on everyday life. We could, for example, try to imagine what the Europeans were eating at the time of the discovery of America. From this on, it has been a process of diversification, including at this level of food, and also their counterparts: the knowledge goes to travel, food goes to travel, diseases begin to travel and the whole problem of the indigenous people of America, for example, is extremely marked by all this. In this double sense, the extension of the known geographic scale and of the incorporation of science as a constitutive element of all spheres of social life, including artistic and architectural ones, what exactly happens? What is the quality leap, what is the difference that arises, in my opinion, at that particular moment which is the turn of the nineteenth to the twentieth century?
First, there is the incorporation of a process that comes from the nineteenth century - the so-called Industrial Revolution - the incorporation of scientific knowledge as a transforming element, on a scale hitherto unheard of, to everyday life. If, until then, one could also think of the old Marxist scheme of infrastructure and superstructure, in which science would be the superstructure, in the nineteenth century this is reversed. Science becomes the infrastructure. Knowledge of electricity and knowledge in chemistry become central elements and driving force of a set of transformations that have a brutal impact on everyday life. It is very interesting to note, in this particular moment, the shift from an industrial city to something else, more difficult to define, which is the modern city, the great city, the metropolis. This is not precisely the classical industrial city of Friedrich Engels' description. In this shift, there is a double movement; on the one hand, the emergence of new disciplines: new scientific knowledge, emergence of history throughout the nineteenth century, but especially of sociology, or of the so called sociologies in the late nineteenth and early twentieth century. In particular, the emergence of something that begins to establish itself as urban sociology, together with the emergence of the need to apply scientific knowledge in order to understand the mode of operation of the society and the perception, increasingly stronger and clearer, that the new forms of life of this new society are essentially urban life forms.
This shift is crucial. Quantitatively, it only is expressing itself later, perhaps in the mid-twentieth century, in the moment when the population of the planet as a whole becomes predominantly urban. However, the first signs of this process are already visible at the turn of the nineteenth to the twentieth century. On the other hand, there is a movement in parallel to this one, which is introduced by another discipline, then also newly created, which is the History of Art. Art History tends to show a process by which artistic manifestations go with a certain relentlessness, to a fundamental novelty, at least in the recent history of a thousand years earlier, that is the emergence of abstraction.
Thus, there are two movements that depart from different sides to come to a common conclusion: that this new type of society, whose locus is a new type of city, which is neither the traditional city or the industrial city, is a modern city. For some it will be the metropolis and to others it is the Grossstadt, the big city, metropolitan or not. It has a fundamental attribute which is the idea of abstraction. Abstraction in different levels. Abstraction understood as a denaturalization process. There are, of course, many authors working this process, but it is possible to point out two of them. Wilhelm Worringer, a major reference in Art History, points to a path of artistic production, of the will of art that goes from proximity to nature to a process of abstraction. On the other hand, Georg Simmel, especially in the essay "The Metropolis and mental life ", understands this process as an increasingly denatured life. What is the sense? Denatured both within the space and the time contexts. According to the reading proposed by sociology or political economy, the denaturalization of space and of time is a process of changing conditions of everyday life, an immediate consequence of the fundamental characteristic of modern society, which is monetization.
The monetization, money as fundamental support of social relations, carries, in this reading, a process of abstraction of qualities. This is identified in both sociological studies then in various cultural events. In the literature, it appears with great force, for example, in the book of Robert Musil, depicting the Vienna of the early twentieth century, whose symptomatic title is "The man without qualities." This means that the individual ceases to have qualities in the sense of what is inherent in his person, his family origin, his religion, his beliefs, and becomes simply occupying positions. A position in which fundamental elements disappear, that would qualify his role in the communities where he lived until then. That is, his family background does not matter anymore, his religious conviction, but it matters his position in society, and it is defined by that element, abstract by definition, which is money.
The essay "The Metropolis and Mental Life" draws attention to the fact that the fundamental characteristic of this new social locus - the modern city, which is not, I insist, the industrial city - is, on the one hand, the abstraction, and on the other hand, a central contradiction between the affirmation of the subject autonomy, the individual, as never had been in history, and also the idea of free will, the idea that you are absolutely master of your life. You marry who you want and not who your family or social determinants establish. This is the time of full affirmation of modern subjectivity, the individual statement, which comes from the illustrated tradition. But also, it is when one realizes that this is an insoluble and central contradiction with an interdependence among individuals, as it also never had had in history. Never the individual had been so dependent on other people to provide his own material and mental life. He is no longer able to produce his own food, or his clothing, and so on.
A key feature of this contradiction is the abstraction of social relations, especially about the relations with time. There is no more the so called natural time. There is the clock. It marks a time so arbitrary and conventional that a government can decide that, from now, people should delay their watches because it is an hour less. It is symptomatic that in some of the most iconic works of architecture of that time, for example the Fagus Factory, the highlight is the clock. The clock becomes a central element because it is regulating people's lives. People's time is denatured. They are no longer up to work when the sun rises, or returning from work when the sun goes down. Coming rain, sunshine, whether winter or summer, there is an abstract determination. Is it seven o'clock? It depends. If the government decides so, it is not seven, but eight o'clock. In a world map with the definition of time zones, this issue is clearly marked. There is denaturalization of space too, because there are not anymore conditions to move around in the big city through natural references. It is not like going anymore over to the bakery of Mister Joaquim, there to turn right, walk up to the pharmacy of Mister Stephen and arrive at where you wanted to go. To move in urban areas now requires a set of conventional rules, therefore denatured. Going to the street that has an "X" name, without being necessary to know the origin of that name, seeking the house number "y" and going up to the whatever apartment number "z". Today, it is about obeying the GPS.
But what other attributes have this new locus, so called - perhaps in the absence of a better expression - the modern city? In addition to abstraction, the contradiction between the assertion of subjectivity and of absolute individuality, and the increasing interdependence among people, it is marked by a hypertrophy of sensory stimuli. In fact, this new town, which is no longer the industrial city, is extremely noisy, extremely malodorous, and marked by a number of visual stimuli that literally would fry our brain if we had to pay attention to all of them. That is, it is a city of people increasingly deaf, that reduce their olfactory and visual sensitivity by physiological defense mechanisms: when exposed to high levels of noise for a long time, the ear, physiologically speaking, has mechanisms that reduce the sensitivity in order to protect the body.
This poses a dilemma, and here we come to the modern radicals, at least thinking in the context of artistic production, from architecture to urban planning, painting, poetry, music. The dilemma is this: is there still the possibility of making art in this new locus? Is it still making sense in composing, if a musician, a composer, conductor, has to address to an increasingly deaf audience? What sense is there still in painting, sculpting or making architecture, if people, as a matter of physiological self-defence, block their visual capability? What sense is there in making architecture, if people enjoy this city and live there for a protection that eventually became known as 'distrait perception'? There is, then, a situation in which arises, perhaps for the first time since the Renaissance, an apparent radical impossibility of performing any artistic activity. Composing for the deaf, paint for the blind who "self-blind" themselves, making architecture in a world where perception is distrait: by definition, people do not look where they are passing by.
This puts a new perspective. When we talk about radical moderns, or in modern movement, or in modern architecture and urbanism, we should stop thinking of them as a style, or as a set of responses to a situation. Because the limits of the terms "modern movement", "modernism", "modern art and architecture" are very clear and it is therefore necessary to consider the diversity of their internal manifestations. What allows me to call "movement" to demonstrations as distinct from each other as Suprematism, Futurism, Expressionism and Surrealism? Why can I call all of it Modern? How can I put them all in the same conceptual drawer? My hypothesis is that what such events have in common - and then we come to the idea of radical moderns - are not the answers but the fact that they are facing the same questions. Basically: is it possible to still make art in this new world? And other questions that arise immediately from this: if I want to state that it is possible, if I'm willing to pursue this possibility, then how is this art? It certainly cannot be the art of previous centuries. A musician as Stravinsky cannot put himself in the same situation as Mozart, Beethoven, Mahler. Why is it so? Because there is another radical aspect in this whole process, which is the emergence of a completely new and unknown character so far in history: the crowd.
The crowd is the sociological fact that demarcates the disruption of this moment of the turn of the nineteenth to the twentieth century, in relation to previous moments. The crowd is not common people, not mass. The crowd is the best essential contradiction of the expression of the individual who asserts his autonomy and, at the same time, is totally interdependent. The crowd is where the individual is absolutely lonely. It is the space of solitude. But the crowd is at the same time, character and recipient of the artistic production of that moment. The crowd also set itself as audience. Until then, artists had not exactly an audience. When Mozart composed one of his pieces, he knew it would be first presented at the hall of Bishop "X". He even knew the forty people who would be there, and knew what a certain Countess "Y" would like it or not. The musician had therefore a direct relationship with its audience. The emergence of this new character which is the crowd, and that in the context of the arts, is expressed as audience, introduces a brutal difference in artistic production. The artist does not know who are the people to whom he intends his production. He does not know who will buy a record, who will buy a book, or who will post on its wall a poster.
Then we have a situation that requires radicalism. Radicalism, first, to ask if art is still possible. Second, to say that yes, it is still possible. And in that case, having to answer the question: how will it be? How should be this art which need to realize that people are increasingly blind, deaf, that they are an undifferentiated mass, that they are not anymore people, but a crowd or audience? How to address them? What needs to change in the production of art, or what needs to be understood as art so I can say that art is still possible, it still has room in this new world, this new society? Hence a first consequence, of which one hears so often and goes unnoticed, is the idea that modern art is self-reflective. And self-reflective means what? It means that it has to ask itself how it operates, in order to respond to the new given condition, that of the crowd, of the audience, or in other words, of the idea of universality.
It is a pretension, and pretension as the needed two-ways of this radical modernity: it is the prospect of speaking to the entire planet. In this process that begins in the sixteenth century, the turn from the late nineteenth century to the twentieth century is a key milestone because it is when the capitalist mode of production - which rose by the evolution from mercantile, industrial, and so on - reaches the point that some call Imperialism, whose main issue is that, for the first time in human history, it covers the entire planet. It is the first time in a hundred thousand years of human existence, in which there is a mode of production that organizes the most distant and disparate regions of the planet. This poses an additional problem. The idea of universality was, even then, a mere abstraction, a mere spiritual building: 'I think that all men are born equal and therefore are endowed with a common attribute to all that is the reason.' Okay, this is what illustration tells us. However, beyond this common substrate - the reason - now there was another fundamental element: all men in the world are incorporated in the same production process, although differently, uneven and combined. The rubber tappers in the Brazilian state of Acre are participating in a process that has to do with the automobile industry, as the petrol, as the steel industry. Therefore, universality is no longer an abstract concept and becomes a real challenge.
In Art, this is one of the major problems of the moment. How to talk the same way to people scattered in different countries with different histories, who speak different languages, in different cultural traditions? It is also there from where comes, in my opinion, the theme of abstraction. We seek to understand what, in different artistic languages, could be the essential manifestation, able to be understood by any human being, anywhere on the planet, regardless of their culture, of their literary education, pictorial, and so on. The theme of abstraction emerges as a possible answer to this. It does not come by reverie of the artists. There is an effort - going back to the beginning of the conversation - to bring reasoning, precision and logic of scientific and technological production, in this case of the industry, into the artistic procedures. This is not only to incorporate science to artistic procedures. It also happens, and the most direct example is the development of gestalt psychology, which deals with the trend to set up a complete form from the simple presentation of some of its details. It is the attempt to establish or to verify, through perception, the existence of certain directly physiological processes that do not depend on the cultural background.
There is a bet, in this case, the fact that this is a scientific instrument to reach this potential universality of artistic communication. On the other hand, as I said, during this process throughout the nineteenth century, science was no longer a superstructure and became infrastructure. This means that science is being increasingly technological, being part of the industrial fabrication process. It is so for Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe - at the same time seen as a problem and a possible solution. Because if I want to address myself to the crowd and if I want to do a work that has universal validity, I need this work physically to reach the crowd. Hence, there is the subject of technical reproducibility, so the issue of production in series and the possibility of industrialization.
Given this broader framework of determinations, the radicalness of these Moderns of the turn of the nineteenth to the twentieth century lays, to say so, in the courage with which they faced these questions: is it possible to still make art in this world? And if it is possible, how is this art? How it takes into account both the fact that their audience is diverse, that individuals have their limitations and their sensitivity decreased, searching for ways of communication, seeking languages able to overcome the specific physical conformations? How to communicate a visual message to a sector of humanity that has not gone through the perspective training experience, or in other words, that did not understand the perspectival representation as natural? The first thing - and Gestalt helps - is to show that it is not natural, but constructed. A native of Borneo, when observing the representation that we traditionally make of a cube, does not see the cube. So how does he observe?
This helps to understand, for example in the pictorial case, the interest of these radical moderns in non-Western forms of representation. In the case of Cubism and Surrealism, passing practically through all the pictorial movements, there is a huge interest in African Art or so called primitive art. Nothing allows us to say that those masks, or sceptres, or thrones were for African, Amerindian and Asian seen as Art in the sense that the West defines it. It is defined as something apart from everyday life, which demands a different fruition attitude of the daily attitude, which has a certain sanctity. Why this interest of Picasso and Cubism in general, or Surrealism for these objects? Because another system of representation and expression is shown that does not meet the Eurocentric view of perspective as a culturally naturalized representation form.
Why the interest of musicians engaged in this process of radical renewal, to rethink their discipline from the so called popular manifestations? Stravinsky, when visiting Cuba, reported that he was going through the streets frantically making musical notations of the rhythms he heard, and at one point he writes in his diary: "At one point I gave up because it was too complex, it was too sophisticated to incorporate."
Speaking of Modernity or Radical Moderns, is to speak of the necessary addressing of some fundamental questions, but also to recognize that, pictorially, architecturally, musically, the answers have a huge diversity. It is possible, however, to identify some common fundamental strategies. One is called the shock strategy. If the denatured condition of man's life in the modern city is the lack of attention, a distrait route, therefore the first thing to do is to draw his attention. This means necessarily to provoke a shock. At the launch of the Rite of Spring, at the Paris Opera, for an audience used to traditional music, this shock is at the beginning of the musical play: a strong rhythmic percussion that can only be perceived as pure barbarism by that audience. What have you thinking, in the Paris Opera, before the Parisian audience, playing a brutal eardrum that seems to come from Africa or Cuba, or the distant Soviet muzhiks? The shock of the strategy is a "pay attention!", a "please, listen to me!".
Marcelo Tramontano: Would it be possible to identify that in architecture too?
Carlos Martins:: In architecture, the shock strategy involves several dimensions. The suppression of the ornament is one of them. My reading of the abolition of ornament is less coming from the world of ethics, which states that ornament is over. I do not think it is a purist choice. I see in it at least an essential dimension, which is the shock strategy. People were so used to seeing ornamental manifestations indicating that a space was noble, possibly indicating their function - 'if this building has Doric columns, this should be a court' - and suddenly they see something they can not decode immediately, which forces them to stop and… look. The shock is therefore a key strategy. This moment, when all artistic production is being forced to redefine itself, is marked, in the case of architecture, by a movement that socially proposes a redefinition of its status. In addition to asking who your audience is, how to operate, and so on, it proposes itself to be another thing it was not until then. And one of the components of this other thing, this new status is the claim itself as knowledge about the city. In a central and radical way.
The vindication, by architecture, of the condition of a knowledge about the city has a history. It is the story of the struggle, throughout the nineteenth century, with doctors, lawyers, sanitary engineers, which raises a need of redefining the professional market. But in addition, this vindication proposes the incorporation of rationality and accuracy of the industrial world as an update condition of architectural action to reach this new audience, which is the crowd. It is claimed also that it is the responsibility of the architect to look at the organization of social life, which is reflected not only formally but in the discussion and definition of the architecture program. Perhaps this is one of the aspects to whom less attention is paid when talking about the architecture of that period. In the documentation of the first CIAM [the International Congresses of Modern Architecture], you can see that this is practically the first time that architects find themselves in the obligation to also think as sociologists. It builds then a set of essential questions for architecture that never were before important, about the new role of women in the social transformation process, on how to reorganize the housework. No wonder the kitchen theme becomes central. Of course the issue of housing in the new big city scale is decisive. But then the interesting thing is that the architecture at least tries to claim that it cannot be separate from each other the view of the internal organization of the house and the view of the organization of the whole city.
Marcelo Tramontano: This crowd that emerges at the turn of the nineteenth to the twentieth century as a protagonist in social life and in urban areas, will be subject, throughout the whole century, of several developments such as, for example, mass communications. I think, especially, in a series of post-World War II events that marked the 1960s, as the formulation of theories that sought to deal with the complexity, posed by the expansion of the scope and variety of transmitting information. If, on the one hand, these media have never been politically neutral, on the other hand they helped society to see themselves as such. Also from there probably derive concepts that we have today about the city, among them the belief that the active participation of such crowd in decisions about urban life is desirable. I think here in the speeches that validate the so-called citizen manifestations, the idea of creative cities, among others. From your speech, I wonder how we could relate that role from the crowd in the city in the early twentieth century to this active participation stimulated today. What historical processes, started back there, crossed the twentieth century, being set one hundred years later a situation where it is desirable, perhaps, that even the role of the city planner should be shared with the crowd? I would like to hear you on that.
Carlos Martins:: There are here two distinct and important issues. First, these Radical Moderns were thinking their relationship with the crowd and with the city, or more precisely, with the idea of cultural industry within the historic absence of something that becomes decisive in the middle of the century, which are the mass media. This was not clear at the beginning of the century. In the first two decades of the twentieth century, the mass media were the cinema, radio and the press. There was no television, and obviously there was nothing even remotely like the Internet and new technologies of communication and information. This is important because another element is introduced in the relationship between the cultural producer and the crowd in the mid-twentieth century that redefines it radically, which is the cultural industry. With a number of impacts including on the valuative dimension.
In 1991, the second centenary of the death of Mozart, it was noticed that it had become very difficult to know whether we should continue to call his music "erudite", at least in the opposite sense to "popular". Mozart is absolutely merged into the cultural industry, which introduces a nondifferentiation of value that is very complicated from the point of view of radical modernity. Certain aspects, that for the radical moderns were a problem to face, are raised and valued positively. I am thinking of the issue of the Situationists. The idea of deambulation, which ultimately is the idea of distrait perception - that for radical modernity is a problem - becomes transformed into a value and another possible form of apprehension, understanding and appropriation of urban space, for example.
The introduction of mass media and the cultural industry causes that the own idea of crowd goes through a transformation in social terms. From the specific point of view of architecture and its attempt to establish itself as planning agent, it seems for me quite relevant and productive the reading proposed by [Manfredo] Tafuri. In the specific case of the Vanguards, this reading is, for me, very stimulating. Tafuri says it makes no sense to think that modern architecture or the modern movement went into crisis in 1950 or 1960. He says that the real crisis of architecture and modern urbanism occurs in 1929. Why? All this construction of a new status of architecture that is claimed as knowledge about the city, as a rigorous technical-scientific knowledge, would ultimately constitute what he calls "the utopia of plans", based on the idea that with a rigorous technical knowledge, it would be possible to control the development of the city. Controlling the development of the city is, of course, to control the development of the productive forces. He says this goes definitely in crisis starting by 1929 because in the Western world there is the Keynesian planning and, in the communist world, the introduction of the five-year plans. So, Tafuri says that at that time the architecture passes of its intention - or pretention, or utopia - to be the planning agent to turn itself one of the planned objects. It is the economic planning that will determine the process of expanding cities and their internal organization. So here we have two moments and two important issues to think about the question you propose.
Marcelo Tramontano: Despite the radical way that they defied these complex issues put in front of them, in your opinion, what the radical moderns of the early twentieth were not able to handle with?
Carlos Martins:: They were not able to handle with the emergence of a radically new process of communication, in the way in which the capitalist production process absorbed and instrumentalized what was, at first, a reaction to it. The rationality of art and of architecture was a reaction to the irrationality of the capitalist system. And the capitalist system absorbed, swallowed, agglutinated, anthropophagically ingested this capacity of reaction by means of the cultural industry. According to a Tafurian perspective, the rug was pulled out much ealier. It is not anymore the architect, nor the coordinator of a multidisciplinary team that simply relies on a State conceived as interested in the common good, who will be the main promoter or organizer of the planning process. He happens to turn himself to be a patient, a particular element of this process.
That said, why continue, a hundred years later, to look into this moment? I would say that not just because it is important to learn about the ability the artistic production had at that moment to face a world, a society, a radically new city. Let us remember the symbolic and material weight of the First World War, incisive in this case. As we read texts of the late 1910s and early 1920s, it is amazing to see how strong was the idea that World War I "killed" the old world: ' it's over!, the world is no longer anything like that, the values are not anymore the same, the organization is not anymore the same'. The war also kills materially the expression of this world - the cities - although on a smaller scale than World War II. But, symbolically, this process of destruction of the world and therefore the idea that there is a new world are fundamental features of this entire generation. The new world has the most diverse ideological manifestations. The new world is both the communist utopia, for some, as it is, in its borders, the utopia of a technical and constructive rationality that avoids the revolution, for Le Corbusier. For him, it is necessary to build to prevent the revolution; for Hannes Meyer, it is necessary to build in order to carry forward the revolution. Anyway, the idea of the new world is a central idea to which they all have to answer.
Perhaps this is one of the elements that presents us the need to re-look at this moment. Especially because of the current emergence of new information and communication technologies, because of the financialization process that we barely call globalization. I would say that art and architecture are again called to the challenge of rethinking their status. The questions 'What is architecture?', 'What is painting?', 'What is music?' are asked again today. What are the architectural processes in view of the world of virtual realities? Should we deny them? Incorporate them? How to work it? What is architecture in this new phase of universalization and financialization? What is architecture and what is city? What is landscape? What are those islands built in coconut shape in Dubai? This is what? This is architecture? This is landscape? This is geography? Where are we?
In his book "S, M, L, XL", Rem Koolhaas reflects on the scales in a way that seems to me interesting. He says that one of the difficulties of thinking architecture today is that we no longer know what it is, because in practice it is a lot of things ranging from interior design to design in more general terms, including Town Planning. How can a single discipline take account of all this? And he says it maybe time to leave the accessory and whining and focus on what is essential, on the decisive, the strategic. For him, this is the large scale. For him, it is to claim again the architecture as knowledge about the city. I would say that this is an issue that is today placed for architecture, worldwide. Architecture is called to rethink what is its purpose because it does not seem reasonable that a discipline still claim itself as a disciplinary body of knowledge covering from the design of a spoon to the planning of the metropolitan area. The idea of a method and a support from a the technical perspective that accounts for all formal problems, that is, to give shape to a spoon as well as to a metropolitan area obviously cannot hold out anymore.
But if it is not that anymore, then what it is? What justifies that our professional regulation says that we are responsible for interior design to urban planning? Is this possible? Does it make sense? Koolhaas thinks not. Paulo Mendes da Rocha also thinks not. These characters, with so different trajectories, have one thing in common: they depart from a modern view. With very different trajectories, but drinking at the source of modern radicalism, they come to very similar conclusions. Koolhaas says it is necessary to focus on what is strategic, i.e., the large-scale, and Paulo Mendes da Rocha says that man does not inhabit the house because the house is only a device: man inhabits the city. This idea that man inhabits the city refers to the question you presented earlier. It means the dilemma of recovering the valuation of public space, in a society where the public and private dimensions are increasingly undifferentiated. What are the possible strategies for recovering public space, the space conceived as our main sphere of action? How to give form to something that, from the standpoint of social substrate is increasingly formless, or at least increasingly difficult to delimit?
In the works of Paulo [Mendes da Rocha] and, in general terms, those of the so called paulista architecture - and speaking in paulista architecture is already talking about a moment when the poetic reflection of architecture tries to deal with these changes and this new situation - draws attention the way they work in order to tighten the idea of a clear boundary between public space and private space. In the houses of Mendes da Rocha, the asphalt goes until the first stair of access to the house. What is the limit? Where does the house end and starts the town? If I do not know what the boundary between public and private is, how can I enhance the public space? Where is the public space, where does it end? Either way, these questions can only be thought from the assumption that we may be placed in front of a need for a redefinition of the architecture status.
Marcelo Tramontano: I would like to add some wood into this bonfire in order to think what could be the conception of modernity today, under the light of the gene, which we situated in the early twentieth century and of its developments over the century. On the one hand, you spoke of the chang of time and space concepts, the ways in which they were understood then and were changed over the century, including due to the wars. On the other hand, another question you pointed out is the relationship between the public and the private, whose borders were becoming less clear. From the 1960s and 1970s, computerization will act more forcefully precisely on these two conceptual pairs - time and space, public and private - in relation to life in the city, in relation to architecture concerns and also to the arts, cinema, literature. How to rethink modernity today, within this computerized context, with all these questions, considering the hybrid spatiality made possible by digital media?
Carlos Martins:: Hard to say. Perhaps it is less difficult to start by saying how not do anymore, or what are the limits of this production of a hundred years ago. What - of the poetics, of definition and affirmation of a new status - was lost, and has no more condition of validity? This obviously does not mean adhering to the idea of postmodernity. But what substantial qualitative changes take place in modernity so that this radical modernity of the early twentieth century has lost some of its supports? I think one of them is the question of visuality. Let me explain.
If the commitment to abstraction is a key bet, the idea of an architecture that communicates universally by abstraction goes into crisis in the early 1940's when one realizes, to utter despair of modern radicals, that the so called crowd does not like it . The crowd is unable to understand it. They like the classical architecture, which they can decode. The first warning of this difficulty is the famous joint text of [Fernand] Léger, [Siegfried] Giedion and [Josep Lluis] Sert, "Nine points on monumentality," which claims a radical reversal of a basic assumption of modern architecture, of the modern architecture movement. Until then, the current idea is the one that [Lewis] Mumford sums up saying that if something is monumental, it is not modern, and if something is modern, it is not monumental. Sert, Giedion and Léger place the first wedge saying that without thinking a new monumentality, not traditional, but modern, the challenge and the ultimate goal of speaking to the crowd are lost in advance. It was therefore necessary to add to the idea of building the city a fifth function. Not just to inhabit, to move, to work and enjoying leisure, but also to build the supports of an urban sociability. They said that if architecture could not present itself as a discipline and produce objects and works that promote a sense of identification, of belonging, it would be bankrupt in its own historical project. That is where comes up the idea of civic center. Besides being great and functional to inhabit, to work, to move in and having leisure, the city must have spaces referring directly to the public space, whose function is to stimulate the idea of belonging. Its inhabitants need to feel identified with this city, this place, this building, this monument.
Moreover, even though the subject of abstraction was placed, there is a certain figurativeness in modern radical architecture. And this figurativeness is no longer the traditional one of orders, ornaments, and so on, but of the mechanical world. The city of [Antonio] Sant'Elia, the construction projects of [Le] Corbusier, Mies [Van Der Rohe] at its limit, is not naturalistic, but there is a figurativeness. It parts from the base that does redefine the social life and this base is the industry, still in its mechanical manifestation. What Constructivism, Futurism, Le Corbusier himself and Mies [Van Der Rohe] do is to bring this figurativeness to architecture. The architecture, if we can say so, within its appropriate limits, represents a mechanical world understood as something that is transforming and configuring society.
Today, what is for us the problem in the passage, starting in the mid-twentieth century and increasingly strong? This idea was presented to me by Sophia Telles. The problem is that the technological base that is reorganizing our social life is invisible, it is electronic, it belongs to the nano scale. How can I figure an electronic world? I can carry out an analogue procedure, draw circuits, but the circuit is just a material support in a process that is actually invisible. How to make visible, how to assume as default of visibility what is invisible? This is an intrinsic problem of the discipline. How does it do that? In part, I think, it is this impossibility that makes room for things like the Postmodernism of the 1980s: not an European postmodernism, in the sense of [Aldo] Rossi, but in a more figurative postmodernism in the sense of [Robert] Venturi. A postmodernism which asks itself: how to take as the basis for the material world, given the impossibility of figuring a mechanical world, and given the impossibility of figuring the world of digital technology, which is by definition invisible? This is not for free that we are talking about a set of phenomena or proposals from a hundred years ago, and we are no longer talking about a set of proposals from twenty years ago, which disappeared from the scene. Who still remembers Leon Krier? And it is not only of postmodernism but also about the so called deconstructivism. It is also a return to the craft, to the profession, because it is also concerned with recovering the geometrical procedures. That is, the architecture is having a huge difficulty to relate to what is outside to it.
I would say, this is a reason to look at this process of a hundred years ago. Obviously not to repeat the same answers, but to understand how a set of changes in social and technological context forced the architecture to rethink its status. Work Sociology makes a distinction, which might be useful in this case, between what it calls profession and occupation. It says that occupation is something that takes place in a very direct way of the process of technical expertise of labor. Nobody invented a production engineer, or, today, a hedge funds manager. These occupations derive directly from the technical process of specialization of labor. Already the profession, in this aspect of work sociology, much depends on the capacity and strength, even symbolic, by the holders of a certain knowledge to convince society of its importance and value. This is the question we face in our daily lives: what is the difference between an architect and a civil engineer? Why, after all, I have to hire an architect, if a civil engineer can do the same things? No wonder we often find the answer to this in the form of campaigns. They need to explain that 'if you hire an architect, in contrary to what you were imagining, you will save money because the architect does it in a more rational way', and so on. The profession is marked by this condition of having to convince the society about what is its function and its role.
That is what, ultimately, we can call a statute. Because architecture has to convince society of what is its role and social function. I do not know if there are many other professions or areas that permanently put as theme of reflection of events: "What is our social function?". Administrators are not asking this, not production engineers, hedge fund operators, or geologists are not wondering this, but we are. These are symptoms that, in fact, at this moment, architecture needs to look back to ask what it wants to be and what it thinks are the conditions to convince society of what it can be.
Marcelo Tramontano: There is then a question at least intriguing. At the turn of the nineteenth to the twentieth century, the claim of architects to participate in the production process of the cities was successful and, over the century, including in Brazil, the importance of this participation was not lesser. We may recall, for example, that in the 1940s, the IAB [Institute of Architects of Brazil] organized discussions involving society and the Government about the process of the verticalization in big Brazilian cities. The position of these architects was essentially grounded in modern ideals. However, if today we have to ask what an architect is for, would it mean at the same time to admit that the modern luggage he brings with him, his tools to confront contemporary problems, can also no longer serve?
Carlos Martins:: Let us think. In the second half of the nineteenth century, the organizing theme of cities belonged to the engineers, to health workers, physicians, lawyers, and the architecture claimed to get into that discussion. In industrial processes, mass production, and so on, the architects were also not there. These were subjects of engineers, economists, of the Fordism discussion, of Taylorism. Architects not only laid up claim to enter this discussion, but more than that, they claimed for themselves a central role in the process. They claimed and managed to do it with relative competence. There was a certain social agreement, the result of a convincement that it was up to architects to do it. I think this observation is central to wonder if architects today are willing to claim again a redefinition of their role.
Or are we satisfied of how especially the financial dynamics assigns us into a role? Was it us, the architects, who claimed, in the 1980s and 1990s, that our central role should be the realization of unique objects, specimens, able to turn themselves into brands - trademarks - of the urban development? Producing skyscrapers, important museums, was it us who claimed this role? Was it the discipline that claimed that role, or it happened due to the acceptance of something imposed by a dynamic defined outside the scope of the discipline? Was it the architecture that put an understanding of the international development process of the years 1980, 1990, or, if you will, to the 2008 crisis, as a process of competition between cities? Or else, have architects accepted a subordinate role in something called Strategic Planning, which in fact, was being defined outside the disciplinary context? I think, besides looking what happened a hundred years ago in a general way, it is also relevant to this monitoring that you are asking to, more rigorously, about what were the multiple manifestations of the so-called crisis of modern architecture. How architecture was behaving and reacting to face a profound change in the professional solicitations? To what extent we did not transform necessity into virtue? To what extent to do 'Guggenheims' did not become something that architecture took over - the idea of a single work, which is more a brand than an object - wrapped in the discourse that it is valuing public space, when in fact, it is completely debatable? The Agbar Tower is a public space? Why? Even the [museum] Guggenheim [Bilbao] is a public space? They are private spaces, private institutions. That was the tendency of architectural production over the last twenty or thirty years. With the idea of the star system added to it, the architect does not produce more works: he produces brands and is himself a brand. Much more than might have been Gropius or Mies [van de Rohe]. So I think your question is central, and I have the impression that it is not enough just to look at one hundred years ago to answer it. It is necessary to examine in what ways the famous and infamous crisis of modern architecture from 1950 or 1960 was constituted.
Both in the sphere of disciplinary knowledge, as in the context of disciplinary production, which are different things. At the turn of the nineteenth to the twentieth century, perhaps in the architectural activity, it can be identified an effort to incorporate to its internal procedures, some standards, knowledge and, above all, a rationality and a precision that comes from outside. It comes from mathematics, mechanics, and science in general, from the rationality of industrial production. It seeks to bring it in and make it as constitutive of the architectural way of thinking, theorizing and making architecture. From the 1960s onwards, architecture returned to establish strong relationships with external disciplines to it, which were changing. We passed from semiotics to proxemics, linguistic, after to the value of land... On the path of teaching and theoretical production of architecture of the 1960s until now, there is a beautiful article from Françoise Choay. UNESCO organized in the mid-1990s, a symposium to make a kind of state of the art of the Arts. Françoise Choay writes on architecture and she makes a recovery of all external disciplines architecture was trying to be supported by. I would say that perhaps a fundamental difference between this process and the process of the early 1920s is that, at that moment, they were not trying to be supported, but to bring these disciplinary contributions within the operating logic of architecture. It is not what happened from the 1960s until now. We were trying to find the answers that architecture could no longer offer, either in semiotics, either in linguistics, either in the value of land, or in urban sociology. I think there is a deadlock today. I do not believe that it is sustainable to continue reaffirming the social role that the CAU [Council of Architecture and Urbanism] tells us that we have. We do not, and from the point of view of teaching, we have no possibility at all to honestly educate someone to do all this. Now: who do we want to form?
Marcelo Tramontano: This would be my next question!
Carlos Martins:: In the [Brazilian Federal] academic exchange program 'Science without Borders', architecture is allocated to a set of disciplines called creative economy: cinema, design... We can say that with a certain provocative intent, as follows: architecture was allocated to a set of knowledge areas or activities whose basic dynamics are the added value by way of the unnecessary.
I would say to begin with, that today, architecture needs to solve out if it wants to be part of the creative economy or if it wants to go back to being knowledge about the city. And the answers I am hearing, from people I respect a lot, are as varied as possible. Some answer me with the utmost conviction: "Of course, it's creative economy!". Our friends from over a hundred years ago would have been horrified by this response. But maybe it is correct. At the same time, it is very strong among us, especially in this [architecture] school [IAU-USP], but not only in ours, the idea that we keep trying, or wanting to go back to being a knowledge about the city. When you speak in public space, in an ethical dimension of appreciation of the public space because it is the valorisation of citizenship, we are talking about citizenship and not consumption. We are talking about knowledge of the city and not on creative economy. I would say that today's architecture does not have a crisis: it has a dilemma.
Marcelo Tramontano: On this education issue, would we be giving the priority in training professionals able to deal with the urban, with the public, with emerging complexities, together with the society, as it has been claimed in the streets and social movements, or are are we training people to deal with the knowledge of that disciplinary field and a profession that depends, first of all, of the professional architect ? Or, if we prefer, how would it be possible to combine the two things, in your opinion?
Carlos Martins:: This is another key issue and I think, we have not made a balance of all that concerns the relationship between planning and participation. In architecture, this issue also has some three decades, at least. It is the core of international debate with [Christopher] Alexander, with the idea that it is needed to abandon a given authoritarian dimension of architecture, which imposes spatial conditions and, in doing so, it imposes a way of life, ignoring who will suffer this way of life. This criticism claims retroactive effectiveness and value. There are several recent studies showing how the housing complexes of the 1950s had an authoritarian and imposing dimension that ignored the cultural context and socio-economic status of their residents. That perspective gained momentum in the 1980s and 1990s, with the idea of appreciation of the so-called urban social movements. It was the moment of theorizing that demands of a population are demands addressed to the city. This is not anymore about strikes for wages. More recently, we have, on a global scale, a massive claim for the public space, the preservation of squares or for urban mobility. It is clear that this demand is gaining a lot of strength, and it is necessary to evaluate to what extent it presupposes to give up a technical and specific knowledge. The limit of the idea of participation, of the idea of horizontality in decision making on urban space and on physical space, involves the dissolution of the architect's role? Does it imply that it ceases to exist as such? Or is it necessary to rethink a rebalancing between these two dimensions?
This is one of the central questions, which is open to a redefinition of the architecture status. It is not just about a choice between creative economy or knowledge about the city. But look, if the alternative is a knowledge about the city, we get back to the question: what differentiates knowledge about the city from the architect - not only in relation to whom we compare ourselves traditionally, i.e. economists, demographers, engineers, and so on - to a knowledge about the city from citizens? Because if they do not differentiate, then it is meaningless to claim a knowledge about the city. We are citizens and as citizens we enter the horizontal decision-making and participation process. I think this is part of this dilemma.
Marcelo Tramontano: Carlos, one last question before this whole picture we have drawn here: does the future look promising for you?
Carlos Martins:: I am a historian. Therefore, it is for me unavoidable to take into account the reference from which we started: a century ago. A century ago, the average life expectancy in Europe was somewhere around 55 years. In the wonderful peak of the Renaissance, it was 37 or 38 years. Today, our average life expectancy in a country that does not have a so developed sanitation and public health system, like Brazil, it is 70 and something years. We never had so much hunger and misery, but also we never had such a production of wealth. So without accepting or remaining deceived by a positivist view of progress, we live better than before. This is a statistically possible statement. My generation was marked by the possibility of a cataclysmic disruption that was placed in the event of nuclear war. Today, this seems very distant, but for my generation it was absolutely significant. At some point, one of the two madmen could push the red button. Today, the hypothesis of a nuclear cataclysm to destroy the planet 35 times is not anymore considered. On the other hand, it is put, with increasing clarity, a deepening of the enormous inequalities. The latest new is a group of IMF economists saying that all economic policy from the 1980s onwards generates inequality. So the answer to your question: it depends.
It depends on at what level of the pyramid one is. Surely, there is a breakthrough and an improvement from a statistical point of view, relative to the average income and average life expectancy, but on the other hand, there is the threat of an increasingly brutal deepening of inequality: unequal access to all, not only to education and health, but also access to the city. There is the weight of the 'sluming process' and to return to the question of knowledge about the city, maybe we can make here a parallel with the industrial city. An industrial city reform process begins in the mid-nineteenth century, when people realize that at that level of population concentration and lack of sanitation, a very suitable way for epidemics contamination was created. This becomes a social problem when people realize that epidemic is democratic. It contaminates the worker, probably first, because he does not have good physical condition and has less resistance, but it will also contaminate the boss and his family.
Today, we have a contemporary epidemic, a manifestation of the deepening of obscene inequalities in the form of urban violence. It is the urban violence that affects us today, not all in the same way, but it has the potential to affect all of us, regardless of the social scale of the pyramid, where we are. This is what defines, ultimately, the limits to this utopia which it is not possible to give up, which is the idea of the appreciation of the public space as a condition, as a required substrate to citizenship. That is the question that arises today, and that makes it difficult to answer unequivocally to your question. It is no longer an exclusive issue of architects. If there is no political and social process in order to reverse the trend of dismantling of the welfare State - ongoing since the 1980s - the wealth accumulation process of the famous 1% of the world population which owns 65% of the wealth of the planet, and its consequence, which is the production of a growing legion of poor, there will be no space for architecture. Or at least, it will not have room for architecture in the dimension we want to rescue, which is the one committed to citizenship, with the public space. We will be entrenched among architectural anti-beggar devices and armoured vehicles.
Walking in downtown Sao Paulo is nowadays terrifying. They are public spaces that seek to avoid the presence of any citizen and, in particular, this curious thing that is the homeless, which seems to me to be a topic on which we should reflect more. The recent episode of the cold wave in the city of Sao Paulo opened a very interesting discussion. The most immediate criticism is that the city does not offer shelters in sufficient quantity. But some ethnographic studies, and even journalists through interviews, realized that many people do not want to go to shelters. It is curious, because the very word homeless indicates 'lack of', 'absence of', a person 'without a home'. The homeless can be someone who decides to inhabit the city. Of course there are economic constraints such as the lack of money to return home. Often the homeless is not a homeless: he has a house in outskirts distant of downtown but cannot return home because he has no money to pay for a two-way bus ticket every day.
We know that the number of homeless in the richest country in the world is increasing. The number of homeless today in major US cities is much higher than twenty or thirty years ago. This fact also puts us a central question at the idea of resuming the centrality of urban public space that is 'who is the urban audience?'. We can no longer consider an abstract audience as a hundred years ago. There is then a challenge to think about and, again, to think about the dynamics of participation and planning. That is, to recognize the right of the citizen to express an opinion on the locus in which he develops his life and at the same time, to claim that architecture is a specific knowledge. There is a balance to be constructed, and it probably cannot be made exclusively either on one side or on the other.
Does the future seem to me promising? I think that having a future is already extraordinarily promising. And it would be extremely promising if we can recover an idea of future. Once in [the TV show] Roda Viva, someone asked Paul Francis why Rio de Janeiro, in the 1950s, had been so exuberant from an intellectual point of view, with bossa nova, film, literature, architecture. And from the peak of his extraordinary moodiness, Francis replied: "Oh, I do not know, maybe because it was the last time we believed we could have succeeded." I have remembered it a lot in recent years because there was again a period, a few years ago in which we believed, as a country, we had gone back to succeed. We were thinking on reducing processes of the absurd social disparities, on social inclusion processes, we thought in an international insertion of Brazil in a different way, not as subaltern, in a line of South-South policy, among many other things. Today, in recent months, I have been asking myself if we are not, as a country, finally giving up the chance to succeed. Ultimately, we are giving up to the possibility of thinking about the future. At the moment, I am very afraid that we people, as a country, will give up having a future.