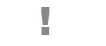O COMPLEXO FOSTER-EISENMAN
Otavio Leonidio é Doutor em História e Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Estuda imagem, paisagem, território, Minimalismo, Pós-minimalismo e imaginação espacial contemporânea.
Como citar esse texto: LEONIDIO, O. O complexo Foster-Eisenman.V!RUS, São Carlos, n. 12, 2016. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus12/?sec=4&item=2&lang=pt>. Acesso em: 05 Jul. 2025.
Resumo
Em O Complexo Arte-Arquitetura, o crítico Hal Foster defende a tese de que a tradicional relação entre essas duas disciplinas se resume hoje a uma radical inversão de papéis: enquanto, em suas palavras, “os minimalistas levaram o objeto de arte à sua condição arquitetônica”, a arquitetura contemporânea supostamente permitiu que edifícios acabassem reduzidos à sua condição superficial e imagética – ou seja, à mera aparência. O presente artigo toma a tese como ponto de partida para uma análise dos fundamentos teóricos e epistemológicos da leitura de Foster, elegendo como contraponto a obra do arquiteto Peter Eisenman. Procura-se demonstrar como, em oposição à prática de Eisenman, e não obstante seu incontido desejo de contemporaneidade, a crítica de Foster segue sempre atrelada a uma visão de mundo radicalmente moderna e portanto comprometedora.
Palavras-chave: Crítica da Arte e da Arquitetura; Arquitetura Contemporânea; Arte Contemporânea; Hal Foster; Peter Eisenman.
“... a arquitetura será sempre presença. O que está em jogo é se a arquitetura permanecerá sendo legitimada pela presença”. Peter Eisenman (1997, p. 19, tradução minha1)
Os nexos entre a arte e a arquitetura modernas são conhecidos. Falar do movimento moderno em arquitetura sem mencionar seu vínculo com as vanguardas (em especial com cubismo, neoplasticismo, futurismo e construtivismo russo) seria no mínimo negligente. Já os nexos entre a arte e a arquitetura contemporâneas - quer dizer, entre a arte e a arquitetura que na prática solaparam os modernismos artístico e arquitetônico da primeira metade do século 20 -, esses são bem menos claros. A concepção que o métier da arquitetura tem de minimalismo, por exemplo, tem bem pouco a ver com aquilo que a crítica de arte, por regra, considera ser o significado da arte minimalista. Não se pode dizer, contudo, que a questão dos nexos entre arte e arquitetura contemporâneas esteja totalmente fora de pauta; ainda que de modo errático, discussões importantes por vezes emergem - por exemplo, como quando Otília Arantes (1994) criticou Josep Maria Montaner (1994) pelo modo confuso (absurdo, diria eu) como este abordou o que supunha ser a arquitetura “minimalista”, quer dizer a arquitetura de Tadao Ando, Álvaro Siza, Paulo Mendes da Rocha, entre outros. O que, por sua vez, parece totalmente ausente do debate atual é a questão dos vínculos contemporâneos entre, de um lado, o discurso crítico e, de outro, a práxis arquitetônica - como se o advento da chamada “condição pós-moderna” afetasse tão-somente a produção de arquitetura, e não a crítica que lhe acompanha.
Com o que segue, pretendo demonstrar como abordagens manifestamente críticas como a que Hal Foster apresenta em O Complexo Arte-Arquitetura podem esconder uma enorme indisposição para expor, e eventualmente colocar em questão, os fundamentos do discurso crítico contemporâneo - fundamentos que, não raro, permanecem atrelados à visão de mundo moderna, sendo portanto inadequados para dar conta de práticas essencialmente anti-modernas e meta críticas como, por exemplo, a de Peter Eisenman.
“O Sujeito às vezes se torna crítico ou historiador pela mesma razão que muitos se tornam artistas ou arquitetos – pelo descontentamento com o status quo e o desejo de alternativas. Sem a crítica não há alternativas” (FOSTER, 2015, p. 14).
A afirmação, feita por Hal Foster na introdução de O Complexo Arte-Arquitetura, antecipa e justifica tudo ou quase tudo que x leitorx irá encontrar nas páginas deste livro – a começar por isto: assim como seu mais direto antecessor (Design and Crime, de 2003), este livro foi concebido como um gesto de resistência; como tal, não pretende ser um panorama mais ou menos compreensivo da arte e da arquitetura das últimas décadas, senão apenas um olhar crítico sobre o status quo da arte e da arquitetura contemporâneas.
Por “contemporâneo” deve-se entender aqui, conforme Foster, duas coisas distintas porém diretamente vinculadas: (1) aquilo que, nos campos da arte e da arquitetura, pretende estar além do “moderno” (ou seja, de acordo com Foster, aquilo que acompanha e/ou desdobra o advento, nos anos 1960, do Minimalismo e da Pop, e que, no caso específico da arquitetura, quer dizer sobretudo os pós-modernismos legatários ou de Reyner Banham ou de Robert Venturi); e (2) aquilo que no amplo espectro da cultura reflete (de bom grado ou não) o advento do capitalismo pós-industrial.
Do lado da arquitetura, portanto, o destaque recai sobre as práticas que melhor se adequam à lógica e aos cenários do capitalismo global. Compreensivelmente, O Complexo Arte-Arquitetura se debruça sobre o trabalho de alguns dos principais expoentes do star system da arquitetura atual – com destaque para Renzo Piano, Richard Rogers e Norman Foster; Zaha Hadid e Frank Gehry; Diller Scofidio + Renfro e Herzog & De Meuron .
Para arquitetas e arquitetos pouco familiarizados com a crítica de esquerda, a abordagem de Foster há de parecer tão surpreendente quanto desmedida. Objeto de reverência e mesmo culto no métier da arquitetura, esses personagens são tratados aqui como avatares de “estilos globais” cuja função, ao fim e ao cabo, não é outro senão a de reiterar e mesmo alavancar as artimanhas do capitalismo contemporâneo.
Obviamente, O Complexo Arte-Arquitetura não se restringe à denúncia mais ou menos genérica da cumplicidade que, alegadamente, caracteriza essas práticas. Dada a particularidade da abordagem de Hal Foster (que, conforme anuncia o título do livro, quer dar conta aqui de algo específico, a saber os vínculos e contradições existentes entre a arquitetura e a arte contemporâneas), cumpre aqui analisar o modo específico como cada uma dessas arquiteturas se articula com a arte de vanguarda.
Nessa chave, o problema com a arquitetura de uma Zaha Hadid, por exemplo, não é tanto a opção por emular a estética das “vanguardas históricas” (algo que Foster, grande campeão da noção de “neovanguarda”, em princípio jamais reprovaria) (FOSTER, 2014), senão ter feito de sua arquitetura uma farsa neovanguardista. Mais especificamente, o pecado de Hadid foi ter transformado o construtivismo dinâmico e materialista de Tátlin em mera representação das noções de dinamismo e de materialidade. Para Foster, é isto de fato o que ocorre com os edifícios desenhados por Hadid: eles “não transmitem movimento tanto quanto o representam – são, precisamente, ‘movimento congelado’ – e, mais do que uma multiplicidade de visões móveis, estabelecem uma sequência de perspectivas estacionárias” (FOSTER, 2015, p. 103-104).
Ao falso neovanguardismo de Hadid, Foster contrapõe o trabalho do escritório nova-iorquino Diller Scofidio + Renfro (DS+R). Em contraste com Hadid, o DS+R teria feito “uma virada lateral” (FOSTER, 2015, p. 117), quer dizer, voltando-se não para o passado, mas para aquilo que de mais instigante vinha ocorrendo no campo das artes visuais a partir dos anos 1960, com destaque para o minimalismo e o pós-minimalismo.
A escolha foi produtiva, concede Foster. Ainda assim, as reticências são muitas. A principal delas: ter permanecido “na mesma posição ambígua de grande parte da arte pós-modernista – ou seja, numa posição desconstrutivista que, ao ter se manifestado no interior das convenções e instituições que pretendia questionar, muitas vezes acabou cúmplice das mesmas”. Mais especificamente, alega Foster, o DS+R adotou uma posição ambivalente com relação aos “efeitos das novas mídias e tecnologias no espaço e na subjetividade” – algo que, na prática, teria transformado seus edifícios em uma “mistura midiática de tela e espaço”. Ao fazê-lo, o DS+R cometeu aquilo que aos olhos de Foster não é nada menos do que um pecado mortal: não promover “a experiência corporal em profundidade”, contribuindo assim, deliberadamente ou não, para a proliferação de “uma já generalizada cultura de efeitos especiais e falsas fenomenologias” (FOSTER, 2015, p. 118-119).2
A condenação evidencia aquilo que, na perspectiva de Foster, está em jogo quando se trata de discutir o complexo arte-arquitetura nos dias de hoje: o declínio da experiência – mais especificamente, de uma experiência fenomenológica mais ou menos imaculada3 e portanto diametralmente oposta aos efeitos (sedutores, espetaculares, ilusionistas) característicos da cultura imagética contemporânea. Aos olhos de Foster, fica claro, é esta de fato a marca distintiva da arquitetura atual: uma desavergonhada adesão ao superficial e ao imagético, em detrimento do espacial, do matérico e do tectônico. Como evidência desse estado de coisas, Foster cita a proliferação das chamadas “peles” arquitetônicas – inegavelmente, uma das marcas da arquitetura das últimas décadas.
Ao fazer essa opção pelo superficial e pelo imagético, a arquitetura contemporânea teria incorrido num duplo e abominável desvio: de um lado (quer dizer, do ponto de vista de seu desenvolvimento histórico), teria renegado algumas das mais importantes conquistas modernas, em especial a ênfase na tensão (essencial à obra de Le Corbusier, sobretudo) entre a experiência fenomenológica do espaço real e os efeitos óticos dos planos de fachada e das elevações (nos termos de Colin Rowe e Robert Slutzky4, a tensão entre transparência “literal” e transparência “fenomenal”); de outro lado (quer dizer, do ponto de vista das práticas artísticas pós-modernas), teria dado as costas àquilo que, sobretudo a partir do minimalismo, tornou-se uma das motivações centrais da neovanguarda dos anos 1960, a saber a “estruturação de materiais com o fim de motivar um corpo e demarcar um lugar” (FOSTER, 2015, p. 168).
A predileção de Foster pelo minimalismo (em detrimento da Pop e sobretudo da Arte Conceitual) não é portanto fortuita. Pois, em sua opinião, deve-se ao minimalismo o feito de ter transformado o objeto ideal (isto é, afeito a uma experiência estética contemplativa e sublime) em objeto fenomenológico, quer dizer que só se deixa apreender na contingência do tempo e do espaço da vida. De fato, argumenta Foster (2015, p. 132), a redução inicial às formas geométricas básicas operada pelos artistas minimalistas só teria ocorrido “para preparar uma complexidade sustentada, em que qualquer idealidade da forma (considerada instantânea, e até transcendental) é desafiada pela contingência da percepção (que ocorre em corpos particulares, em espaços específicos, por durações de tempo variadas)” .
Do lado da arquitetura, portanto, o complexo arte-arquitetura seria hoje sintetizado por uma radical, e em tudo lastimável, inversão de papéis: enquanto, nas palavras de Foster (2015, p. 8), “os minimalistas levaram o objeto de arte à sua condição arquitetônica”, a arquitetura contemporânea supostamente permitiu que edifícios acabassem reduzidos à sua condição superficial e imagética – ou seja, à mera aparência.
Um bom exemplo desse tipo de inversão seria a arquitetura produzida pela dupla Herzog & De Meuron. Formados no contato direto com as práticas da neovanguarda, esses arquitetos acabaram se rendendo à estética do superficial, do imaterial, e do atmosférico; ao fazê-lo, deixaram para trás o compromisso com a matéria, o corpo e o lugar, produzindo em vez disso uma arquitetura onde matéria se transforma em imagem, percepção ativa se transforma em recepção passiva, e lugares se transforma em não-lugares.
O desmedido protagonismo que a obra do escultor Richard Serra assume em O Complexo Arte-Arquitetura não é portanto injustificado: aos olhos de Foster, Serra encarna tudo aquilo que a arte – mas também a arquitetura – contemporâneas têm (estética e politicamente falando) de mais potente e resistente, a saber o compromisso com a tríade matéria-corpo-lugar. Com efeito, salienta Foster (2015, p. 167), já em fins dos anos 1960 estava claro que a escultura de Serra se apoiava em três princípios fundamentais: (1) o princípio da transparência material, ou seja num fazer adequado às propriedades dos materiais (donde não apenas a escolha de materiais brutos como chumbo e aço, mas sobretudo o preceito de que estes deveriam ser tensionados por “procedimentos pertinentes”); (2) o princípio “fenomenológico”, quer dizer, a opção por uma escultura que “existe em relação primária com o corpo, não como sua representação, mas como sua ativação”; (3) o princípio “situacional”, segundo o qual “a escultura envolve a particularidade do lugar, não a abstração do espaço”.
II
Se este fosse um texto focado exclusivamente nos dilemas e contradições da arte e da crítica de arte contemporâneas, eu me viria imediatamente obrigado a enfatizar quão problemática é a leitura que Foster faz dessa arte, em especial do Minimalismo. Como não é este o caso5, concentrarei minha atenção a partir de agora nos limites propriamente arquitetônicos de O Complexo Arte-Arquitetura. Eles são muitos e muito importantes - o principal deles: as flagrantes omissões que caracterizam este livro.
Não tenho em mente o fato de Foster operar com um número excessivamente restrito de práticas arquitetônicas. Nem tampouco o desmedido privilégio que o livro dá às práticas que melhor se adequam à linha de raciocínio de Foster (o que acaba emprestando a elas um incômodo ar de espantalho). Não, penso sobretudo no modo como Foster se eximiu da tarefa de dar conta das práticas e dos discursos que, até onde vejo, melhor representam o estado atual do complexo arte-arquitetura – a começar pelas obras de Peter Eisenman e Rem Koolhaas.
Não que esses arquitetos não constem de O Complexo Arte-Arquitetura. Constam. Mas sua presença aqui tem um inconfundível ar de álibi – de defesa preventiva contra eventuais acusações de negligência. Considere-se o caso de Koolhaas. Ainda que ele seja citado uma dezena de vezes ao longo do livro, Foster jamais trata dos aspectos que realmente interessam em seu trabalho – por exemplo, o modo como Koolhaas desconstrói o vínculo direto, contínuo que o funcionalismo estabeleceu entre programa e forma. Em vez disso, Foster (2015, p. 32-33) se limita a fazer comentários telegráficos e anedóticos – quando não a platitudes do gênero: “o perfil [do edifício-sede da Televisão Central chinesa] é motivado pelo programa, sobretudo no penúltimo andar, que contém uma grande rampa espiral de estantes de livros”.
O caso de Eisenman é mais grave. Sua presença aqui não é apenas precária, é contraditória. Pois mesmo admitindo que, mais do que qualquer outro arquiteto contemporâneo, Eisenman promoveu um inaudito “deslocamento do sujeito” (patente, no modo como, sobretudo em seus primeiros projetos, o “sujeito autoral” é neutralizado), Foster (2015, p. 105) jamais concede à obra de Eisenman a atenção que ela demanda e merece.
Para quem afirma, e em tom solene, que o “que está em jogo aqui não são meras preferências de projeto e sim importantes implicações para a subjetividade, bem como para a sociedade” (FOSTER, 2015, p. 155), a omissão é grave.
E isso não é tudo. Pois Foster obviamente sabe que, desde meados dos anos 1960 (ou seja, no exato momento em que o Minimalismo aparece), Eisenman vem pautando sua pesquisa por um diálogo franco com a arte de vanguarda (em particular, com o Minimalismo e a Arte Conceitual). O que significa dizer que – quer Foster queria, quer não – a obra de Eisenman encarna o complexo arte-arquitetura numa dimensão que possivelmente ultrapassa a de qualquer outra prática recente.
A produção teórica de Eisenman confirma isso. Considere-se, por exemplo, “Notes on Conceptual Architecture: Toward a Definition” (Notas sobre arquitetura conceitual: rumo a uma definição, minha tradução), texto teórico que Eisenman publicou em 1971 na revista Casabella. Como o próprio título do texto indica, Eisenman toma aqui como principal referência um dos textos mais emblemáticos do discurso estético dos anos 1960: “Paragraphs on Conceptual Art” (Parágrafos sobre arte conceitual, minha tradução), de Sol LeWitt, publicado originalmente em 1967. De resto, como o leitor logo percebe, Eisenman (2004 [1971]) parece aqui particularmente disposto a dialogar com alguns dos principais artistas e teóricos do Minimalismo – com destaque para Donald Judd, Robert Morris e Lucy Lippard.
Mas “Notes on Conceptual Architecture” evidencia bem mais do que a disposição de Eisenman em dialogar com a arte de vanguarda dos anos 1960; o texto deixa claro quão original, e em certo sentido alternativa, é abordagem de Eisenman. Dois aspectos, em especial, merecem destaque nesse sentido. Em primeiro lugar, chama a atenção o modo como o jovem Eisenman resiste a aceitar, sem mais, a antinomia Conceitual/Mental versus Perceptual/fenomenológico. Eloquentemente, Eisenman adverte que “Na medida em que as distinções entre profundidade e superfície, e conceitual e perceptivo, não foram feitas com clareza, a confusão entre considerações estéticas e formais segue de pé. Assim sendo, ele conclui, “persiste o problema acerca do papel que essas considerações formais e essencialmente sintáticas devem desempenhar caso uma dimensão conceitual venha a existir na arquitetura como forma construída” (EISENMAN, 2004 [1971], p. 27, grifo meu, tradução minha6).
O segundo aspecto (diretamente vinculado ao primeiro) diz respeito à leitura que o jovem Eisenman faz da arte americana dos anos 1960, em especial o Minimalismo. Pois, claramente, Eisenman lê o minimalismo num sentido inverso ao proposto por Foster – ou seja, como um deslocamento desde uma “experiência primária que é visual e sensual” em direção a uma experiência “mental e intelectual, e portanto presumidamente conceitual” (EISENMAN, 2004 [1971], p. 13). Ou seja, assim como Joseph Kosuth7, Eisenman lê o minimalismo numa chave Conceitual e anti-fenomenológica8.
O especial interesse do jovem Eisenman pela obra de Sol LeWitt (em detrimento de Donald Judd e Robert Morris, principais ideólogos do minimalismo e do pós-minimalismo, respectivamente) parece, nesse sentido, a um só tempo lógico e estratégico. Pois mais do que com qualquer um de seus pares minimalistas e/ou pós-minimalistas, em LeWitt as antinomias Conceitual versus Perceptivo e Mental versus Fenomenológico se tornam problemáticas. Mais precisamente, na obra de LeWitt esses domínios parecem se mesclar de um modo que desafia qualquer tipo de decisão categorial. Que Eisenman vê a obra de LeWitt nessa chave, fica claro quando, em tom de advertência, ele afirma:
Rosalind Krauss afirma que as caixas e malhas de LeWitt não são pensadas como coisas físicas, mas como totalidades intelectuais cuja real existência é mental. Ela diz que o argumento tácito de que significados são entidades mentais que de algum modo aderem a objetos reais é filosoficamente ingênua. Se a formulação do argumento é que significados são ‘apenas’ entidades mentais e não que ‘podem ser’ entidades metais, então aparentemente sua posição é válida (EISENMAN, 2004 [1971], p. 25, tradução minha9).
A passagem é um tanto telegráfica e pode sem dúvida dar lugar a interpretações bastante diversas; seu ponto central, contudo, me parece incontroverso; ele diz respeito ao problema da significação, mais especificamente da eventual vinculação (“attachment”) entre uma entidade ou evento mental (i.e., a intenção de umx artista/arquitetx em produzir algo, no caso um objeto de arte ou um edifício) e o significado que esse algo eventualmente adquire do ponto de vista de eventuais observadores/usuários. Em última instância, portanto, o que parece estar em jogo aqui é a validade contemporânea (quer dizer, nem clássica nem moderna) de regimes de produção artísticos e arquitetônicos ainda dispostos a explorar a conexão entre intenção subjetiva, processos de intelecção, e experiência corpórea/fenomenológica. Significativamente, o tema da intenção projetual constitui um dos principais problemas teóricos de “Notes on Conceptual Architecture”. A conclusão do texto, em especial, deixa isso bastante claro:
Em resumo, o presente artigo propôs uma taxonomia que inicialmente faz uma distinção entre pragmática, semântica e sintática. Além disso, foi feita uma distinção entre os aspectos perceptuais e conceituais de cada categoria. Essa distinção foi definida, em cada caso, pela determinação, em primeiro lugar, do primado da intenção e, em segundo lugar, dos meios usados para articular essa intenção ... De um modo geral, o aspecto conceitual é definido pela intenção de deslocar o foco primário desde os aspectos sensuais dos objetos para os aspectos universais dos objetos. Para que esse aspecto conceptual ganhe primazia, é preciso que se torne intencional, quer dizer o produto de uma intençao projetual a priori; além disso,é preciso que seja acessível através de um fato físico – tanto no caso de a intenção primária ser semântica (voltada para o significado) ou sintática (voltada para universais formais). E finalmente, uma distinção adicional foi feita no domínio conceitual sintático – entre aqueles aspectos que se apoiavam nos universais formais para prover o aspecto conceitual e aqueles aspectos que se apoiavam num código ou sistema notacional (EISENMAN, 2004 [1971], p. 23, tradução minha10).
Vista sob esta ótica, ou seja, do ponto de vista da intenção subjacente ao ato artístico/projetual, a ressalva que Eisenman faz ao argumento de Krauss parece especialmente significativa. Pois o interesse pelos nexos entre uma “intenção projetual apriorística” ("a priori design intention”) e intelecção/experiência do fato físico sugere um desvio com relação a alguns dos pressupostos básicos da interpretação ainda hoje mais hegemônica da arte contemporânea – interpretação da qual Krauss é a principal ideóloga, e Foster um dos mais destacados (e influentes) legatários. Que pressupostos são esses? Nos termos de uma das formulações mais acabadas (o ensaio “Sense and Sensibility. Reflection on Post ‘60s art”, publicado por Krauss em 1973), basicamente: (1) que toda intenção advém de um espaço mental subjetivo e insondável – nas palavras de Krauss, do “self inviolável do artista”; (2) que, consequentemente, toda arte produzida a partir da noção de intenção será sempre (a) solipsista e autorreferente (no sentido de que jamais manterá qualquer conexão tangível, e portanto verificável, com o que supostamente a gerou, seu significado não indo nunca além de um ato de imaginação confinado “na mente de cada expectador isolado”);(b) pré-arranjada (no sentido de que será sempre a re-presentação de algo formulado previamente na consciência do sujeito); (c) conservadora, uma vez que reproduzirá sempre algum tipo de modelo formal/espacial pré-definido e, tendencialmente, convencional (KRAUSS, 1973, passim).
(Foi sobre esses pressupostos – cabe lembrar – que Krauss baseou sua tese de que a arte de vanguarda surgida nos EUA no início dos anos 1960 poderia ser dividida em duas frentes antagônicas, quais sejam: (i) a frente anti-intencional/progressista constituída tanto pela arte minimalista quanto pelo pós-minimalismo não-conceitual de Serra e Bruce Nauman, Mel Bochner e Dorothea Rockburn, Michael Heizer e Richard Tuttle; e (ii) a frente pró-intencionalidade/conservadora constituída pela Arte Conceitual – a arte de Joseph Kosuth, On Kawara, e Douglas Huebler, entre outros).11
Compreende-se porque Krauss, assim como Foster, fez de Serra um dos avatares da seção supostamente não-conservadora da arte contemporânea: mais do que qualquer um de seus colegas pós-minimalistas, Serra desde muito cedo rejeitou qualquer tipo de “intenção projetual apriorística” e firmou um compromisso irrevogável com o corpo. Não um corpo qualquer, mas um corpo avesso a qualquer tipo de intenção subjetiva; um corpo que, na prática, não se dispõe a fazer outra coisa senão de testar as propriedades da matéria, investigar as possibilidades de seus próprios gestos ao interagir com esta sob o efeito da gravidade, buscar “definir a topologia do lugar, e determinar suas características, através da locomoção” (SERRA, 1994 [1973], p. 15, tradução nossa12). Eloquentemente, em seus famosos vídeos do final dos anos 1960, Serra por assim dizer corta fora a cabeça do personagem que ali age – um gesto retórico destinado a deixar claro que o corpo que desempenha aquelas tarefas faz isso à revelia das intenções do “self inviolável do artista” – no caso, ele mesmo.
III
Mas enfatizar as afinidades eletivas das leituras de Foster e Krauss (em particular, a enorme desconfiança que ambos nutrem pelo domínio do Conceitual/Mental – desconfiança sempre acompanhada de uma fé mais ou menos ilimitada nas virtudes do perceptual/fenomenológico) pode ser enganoso. Pois há algo em O Complexo Arte e Arquitetura que o diferencia da – altamente engenhosa, muitíssimo original e incomparavelmente influente – leitura que Krauss faz da arte dos anos 1960 e seguintes, a saber uma indisfarçável indisposição para desenvolver, expor e eventualmente colocar à prova os pressupostos de sua leitura do contemporâneo, em especial aqueles pressupostos que amparam a antinomia imagético/virtual versus real/fenomenológico. Com efeito, sobretudo quando comparada com as extensas e elaboradíssimas construções teóricas de Krauss, a argumentação de Foster ganha ares de curto-circuito: em lugar da complexa articulação de conceitual-intencional-subjetivo-solipsista-aprioristico-insondável-ilusionista-convencional-conservador, Foster desenvolve seus argumentos e teses segundo a sequência mais ou menos imediata e supostamente auto-evidente imagético = virtual = ilusório = acrítico = cínico. É um atalho comprometedor; ele sugere que, à dificuldade da reflexão crítica, Foster optou pelo apelo do juízo moral – ou, o que é pior, da denúncia moralista. Pessoalmente, julgo que foi isso o que Foster efetivamente fez ao implicar que o caminho trilhado por Serra é evidentemente correto; que tal escolha se constitui de fato numa opção praticamente inelutável contra tudo aquilo que há de conservador /acrítico/cínico no mundo contemporâneo – em especial aquilo que ele denomina (de modo um tanto infame) “as vicissitudes do imaginário” (FOSTER, 2015, p. 155). Ao fazer isso, Foster obliterou um número importante de questões – por exemplo, os eventuais limites da via fenomenológica, aqui apresentada como desprovida de problemas. Um dos riscos é o leitor desavisado e sobretudo o neófito acabarem acreditando que, como dá a entender Foster, Serra deu por encerrado o problema da ação intencional/projetual (em suas palavras, “como proceder de outra maneira, em termos de escultura”)13 e que, por conseguinte, sua obra se constitui num exemplo incontroverso, a ser seguido por artistas (mas também por arquitetos) empenhados em agir estética e projetualmente de modo não-conservador.
Que Foster tenha optado por não dar à obra de Peter Eisenman a atenção que ela merece, eis algo que faz todo sentido no entanto. Pois, do ponto de vista de Eisenman (mais especificamente, da leitura que ele faz da arte dos anos 1960), nenhum dos pressupostos, argumentos e teses de Foster parece auto-evidente – muito pelo contrário. O que significa dizer que se Foster colocou obra de Eisenman entre parêntesis, ele provavelmente fez isso com o intuito de ofuscar uma obra que coloca em questão não apenas seu quadro da arquitetura contemporânea, mas sobretudo a concepção de contemporâneo que subjaz à sua crítica – em especial: (i) a ideia de que a arte e arquitetura contemporâneas podem ser caracterizadas em termos da oposição entre, de um lado, um domínio imagético/virtual tido como essencialmente irrealista e conservador, e, de outro lado, um domínio mundano/fenomenológico tido como real e progressista; (ii) que, assim, a opção “progressista” diante dessas duas (e apenas duas) alternativas só pode ser a opção pelo mundano, i.e., pelo matérico, pelo corpóreo, pelo situacional. Ora, muito do que Eisenman vem fazendo desde os anos 1960 contradiz essas duas ideias.
Obviamente, ao contrapor as ideias e posturas de Foster e Eisenman, não quero sugerir que Eisenman simplesmente deu conta dos inúmeros problemas que sua obra levanta – em especial o problema dos nexos entre intenção projetual, processos de significação/intelecção e experiência corpórea/fenomenológica. Na verdade, um dos traços mais marcantes de sua obra é justamente um alto grau de hesitação – em particular, com relação à eficácia de sua “máquina arquitetônica”14, seja do ponto de vista da ação intencional (isto é, da eventual neutralização do sujeito que age movido por intenções subjetivas), seja do ponto de vista da intelecção/experiência (isto é, da eventual superação daquilo que denomina a “metafísica da presença”)15. E o primeiro a admitir essa hesitação é o próprio Eisenman (1997, p. 14), que após quase meio século de atuação, segue sempre se perguntando: “Como fazer para instaurar a experiência do corpo e manter o mecanismo operando?”
Mas hesitação não quer dizer retrocesso, muito menos nostalgia. Aliás, se há algo que Eisenman sempre recusou – mesmo em seus momentos de maior dificuldade (por exemplo, quando de modo um tanto sorrateiro Derrida lhe deu as costas)16 – foi aceitar alternativas que implicassem algum tipo de retrocesso à condição pré-contemporânea (o que no seu caso quer dizer pré-desconstrutivista). Eisenman deixou isso bastante claro quando, com uma incomum dose de sarcasmo, afirmou:
Nossa única fonte de valor atualmente é uma memória de valor, uma nostalgia. Vivemos em um mundo relativista, que ainda deseja a substância absoluta, algo que seja indiscutivelmente real. Por meio de se ser, a arquietura se tornou, no inconsciente da sociedade, a promessa deste algo real (EISENMAN, 2004 [1987], p. 203, tradução minha17).
É pouco provável que Eisenman tivesse Foster em mente quando fez essa provocação. E no entanto, ela cabe como uma luva em Foster. Pois, até onde posso perceber, Foster parece sempre à procura desse “real inequívoco”. E assim como essa busca o levou a Serra (o mais mundano dos artistas mundanos), ela também o levou à arquitetura. Não a qualquer arquitetura, mas a uma arquitetura que, por definição (é isto em todo caso o que Foster pensa), é sempre literal e jamais virtual; que é construção, e não mera representação; que em oposição à espúria arquitetura dos arquitetos de que O Complexo Arte-Arquitetura se ocupa, é feita de transparências literais, experiências fenomenológicas verdadeiras, vínculos essenciais com os lugares em que se implanta. Numa palavra, uma arquitetura que segue sempre sendo definida e, mais ainda legitimada, pela “presença”.
IV
E é por este motivo que, como acredito ser o caso, este livro trata menos do complexo arte-arquitetura do que do complexo arte-arte, quer dizer das aporias e impasses inerentes a uma determinada concepção de arte contemporânea, epitomizada aqui pela postura crítica de Foster. Que desafios são essas? Sobretudo, aquelas vinculadas ao problema de como se posicionar em face do que Hans U. Gumbrecht (2010) denominou a crise mal resolvida da metafísica. Em O Retorno do Real (livro publicado em meados dos anos 1990, mas que contém partes essenciais escritas mais de uma década antes), Foster parecia atolado numa espécie de limbo epistemológico: por um lado, deixava transparecer um incontido desejo de realidade; por outro, não escondia o mal-estar diante da própria noção de realidade – ao menos aquelas noções de realidade que, deliberadamente ou não, pudessem evocar uma referencialidade minimamente estável (ou seja, algum tipo de ontologia). Daí, justamente, a advertência acerca dos limites de sua própria empreitada intelectual, destinada a resgatar não todo e qualquer real, mas apenas a uma reconstrução subjetiva sua (FOSTER, 2014, p. 46)18. Eloquentemente, no capítulo final de O Retorno do Real, Foster (2014, p. 199, tradução nossa19) se perguntava acerca das desconstruções operadas por Foucault e Derrida:
Esses pós-estruturalismo reelaboram os acontecimentos do pós-colonial e do pós-moderno criticamente? Ou servem de ardis por meio dos quais esses acontecimentos são sublimados, deslocados ou, ao contrário, desativados? Ou de alguma forma as duas coisas?
Infelizmente, o que em O Retorno do Real era apresentado como uma dúvida ganhou ares de certeza, em O Complexo Arte-Arquitetura: Desconstrução passou a significar tão-somente cumplicidade, cinismo, renúncia à crítica. E atitude crítica, por sua vez, se restringe agora à opção (apresentada como auto-evidente) por uma volta às coisas elas mesmas, à presença das coisas elas mesmas, à graça que eventualmente irrompe com e na presença das coisas elas mesmas.
Que Foster acabe atribuindo à presença de algumas obras de Serra a qualidade da “graça”20 (palavra banida do vocabulário da arte contemporânea desde que Michael Fried em 1967, em sua infame diatribe contra a espúria “presença” da arte minimalista, pronunciou a famosa frase “presentness is grace”) me parece nesse sentido sintomático; indica o alto teor de conservadorismo inerente à crítica supostamente progressista de Foster.
Esse conservadorismo não é novo. Na verdade, ele é intrínseco aos conceitos de “neovanguarda” e de “efeito a posteriori”, sobre os quais Foster construiu sua teoria alternativa da vanguarda21. Com este O Complexo Arte-Arquitetura, contudo, ele ganhou um contorno mais definido – e bastante mais radical. Pois o que esse livro revela no fim das contas não é outra coisa senão o alto grau de nostalgia subjacente às ideias e posturas de Foster.
Nostalgia do quê? Ora, do moderno – quer dizer, de uma condição estética e existencial que, como a arte dos anos 1960s (pace Foster) deixa claro, entrou irremediavelmente em colapso a partir grosso modo da segunda metade do século XX.
Mais especificamente, Foster parece dominado pela nostalgia de uma era em que as ações da vanguarda eram movidas por causas concretas (a busca pelo “mundo da vida”, a pavimentação da “estrada para o futuro”) desempenhadas em batalhas concretas contra inimigos concretos (“idealismo”, “ilusionismo”, “pictorialismo”, etc., etc.). Numa palavra, o que falta a Foster é o mesmo que falta a Fried: uma “convicção convincente” (“compelling conviction”)22 sem a qual o espírito moderno fica sem chão.
O fim dessa condição é vivido por um moderno radical como Foster na chave da escatologia – ou seja, literalmente como o fim do mundo; como Fried e Krauss antes dele, Foster (2003, p. 117) acabou encarnando, ele também, aquilo que, de modo muito acurado, denominou “o pavor da arte e da crítica” (“the frightening of art and criticism”) – quer dizer, o medo da extinção das condições sobre as quais, por mais de um século, a arte e a crítica de arte vinham sendo, de modo articulado, desenvolvidas.
O que fazer diante desse cenário apavorador, da iminência desse Dia do Juízo? Tentar demonstrar que, em vez de extinção da condição moderna, o mundo contemporâneo não é senão uma reconfiguração sua.
Uma clara evidência de que é essa, de fato, a motivação da crítica de Foster é a ênfase que O Complexo Arte-Arquitetura dá à noção de “virtual”. Como mencionei acima, o termo surge aqui como par antagônico das noções de “concreto”, “real”, “tectônico”, “matérico”, etc. Tal antinomia não é, por certo, absurda. Mas seu uso aqui parece ardiloso. Pois do modo como Foster a emprega (isto é, de modo mais ou menos naturalizado), a noção não parece ser outra coisa senão um sucedâneo lógico, natural de noções essencialmente anti-modernas como “ideal” e “ilusionista”. A astúcia está em fazer crer que, se os termos da velha antinomia se alteram, a antinomia ela mesma segue sempre atual. Significativamente, não são raros os momentos em que Foster descreve a condição contemporânea em termos da velha (quer dizer moderna) oposição entre o mundo real e um mundo idealista – como que a implicar que, assim como ocorreu no tempo das vanguardas históricas (e também no das neovanguardas sessentistas), o mundo atual permanece refém dos “antigos modelos idealistas” (FOSTER, 2015, p. 171). Ao fazer isso, Foster não sugere apenas a persistência da condição moderna (agora reconfigurada); dá igualmente a entender que, hoje como ontem, a tarefa da neo-neovanguarda (!) é combater “esses idealismos persistentes” (FOSTER, 2015, p. 173), agora transmudados em um sem-número de “virtualidades”.
As limitações dessa atualização do moderno no espaço do contemporâneo são muitas. Vou destacar um apenas: o que fazer com as práticas que não se encaixam nem no modelo original (i.e., nas narrativas modernistas), nem no modelo reconfigurado – por exemplo, a obra de Robert Smithson?
Uma vez mais, a solução de Foster faz pensar em Krauss. Pois à semelhança do que Krauss (1979) fez reiteradas vezes, Foster trata a obra de Smithson em termos eminentemente fenomenológicos – mais especificamente, em termos da suposta ênfase que ela dá à noção de “lugar.”
Para observadores minimamente familiarizados com o trabalho de Smithson, o argumento soa canhestro, porquanto incapaz de ocultar a evidência de que, mesmo quando ganham o aspecto de obra do tipo “site specific”, as operações Smithson não deixam nunca de ser o oposto disso, isto é exemplares acabados de uma arte anti-específica, anti-situacionale anti-fenomenológica.
Como Foster, assim como Krauss, simplesmente não pode deixar Smithson de fora do espaço contemporâneo não-conservador, só resta a ele tentar repetir o que Krauss, com razoável sucesso, já havia feito: inserir a obra de Smithson no campo ampliado da escultura pós-1960, associando seus supostos “earthworks” às operações situacionais de Andre, Serra e Heizer (FOSTER, 2015, p. 165)23.
O gesto é inconvincente, mas serve de lição. Pois se hoje, mais do que nunca, é tempo de se debruçar sobre a arte dos anos 1960 e 70, é igualmente tempo questionar as leituras que o discurso pós-minimalista (na esteira das leituras seminais de Morris e Krauss) fez dessa arte - leituras que, como advertiu Joseph Kosuth (1991), escondiam muitas vezes agendas obscuras; leituras que, como fica claro, acabaram respingando no universo da arquitetura.
E aqui, uma vez mais, a obra teórica de Eisenman surge como oportuna e estratégica. Pois o fato de ser um observador de primeiríssima hora, e mais do que isso, um observador original e independente, permitiu que Eisenman desse à arte dos anos 1960 um rendimento muito especial, notadamente no que concerne ao – espinhoso – tema da intenção projetual. Significativamente, em vez de dar as costas à noção de intenção (como Krauss24 veementemente aconselhava no começo dos anos 1970), Eisenman (1997, p. 17) persistiu em sua investigação acerca daquilo que, de modo inspirador, chamou de “meta-intencionalidade”.
Uma análise circunstanciada desse conceito demandaria um paper específico. Por ora, limito-me a destacar que, como Eisenman afirmou, tal noção o coloca (ele, o projetista) no espaço porventura existente entre o humano e o inumano – espaço no qual a subjetividade moderna em geral e o juízo crítico em particular se tornam (na melhor das hipóteses) disfuncionais. Uma vez mais, vale recorrer às palavras de Eisenman:
Em última instância meu trabalho é sobre conceitualizar outros métodos. Essa é a razão por que eu comecei a trabalhar com outros métodos, por que tudo que conseguimos fazer como humanos é desenhar eixos e lugares. O computador conceitualiza e desenha de modo diferente... Eu tento me manter suspenso entre o mecanismo e minhas próprias respostas subjetivas, de modo que eu não posssa definir criticamente quais são seus erros em termos da trajetória total do trabalho (EISENMAN, 1997, p. 13, tradução minha25).
Em que medida a meta-intencionalidade de Eisenman se aproxima da meta-intencionalidade minimalista? – Eis o tipo de questão que permanece sem resposta – e que este O Complexo Arte-Arquitetura se eximiu de responder. Fica claro, em todo caso, que se é verdade que de um ponto de vista moderno “não existem alternativas sem crítica”, também é verdade que, de um ponto de vista anti-moderno (mas não necessariamente cínico) “crítica” talvez não seja a melhor alternativa.
V
Muito se falou ao longo das últimas décadas sobre o surgimento (a partir grosso modo de meados dos anos 1960) de uma “nova agenda para a arquitetura” (NESBITT, 2014). Por ora, ela permanece tão abrangente quanto difusa; inclui itens que vão da semiótica ao historicismo, do ambientalismo ao feminismo, do regionalismo crítico à desconstrução. Naturalmente, ela inclui também a relação arte-arquitetura. Não por acaso, ao lado de termos mais ou menos corriqueiros como “tradição local” e “sustentabilidade”, o métier da arquitetura passou a conviver com expressões como “condição de campo”26 e “campo ampliado”27. O que o emprego destes termos tem de específico e interessante é isto: como seus próprios arautos o reconhecem, eles emulam de modo mais ou menos direto o vocabulário crítico das artes visuais contemporâneas.
Não há, obviamente, nada de censurável em arquitetas e arquitetos empregarem conceitos importados do discurso das artes visuais. Minha impressão pessoal, no entanto, é a de que, por regra, quando arquitetas e arquitetos pronunciam uma expressão com “arquitetura no campo ampliado”, descuidam do fato (bastante óbvio por sinal) de que esta e outras noções foram originalmente cunhadas em contextos específicos, ou seja, com o objetivo de dar conta de questões e dilemas – estéticos, mas também políticos – igualmente específicos.
Ao tomar tais noções por seu valor de face, tais arquitetas e arquitetos fazem mais do que expor um maior ou menor grau de ingenuidade epistemológica – ou o que é pior, um maior ou menor grau de servilismo intelectual (o que sugeriria que o atual complexo arte-arquitetura talvez inclua um certo complexo de inferioridade da arquitetura vis-à-vis da arte); desconsideram que a importação descontextualizada dessas noções pode se revelar não apenas canhestra, mas também improdutiva. Como se vê, neste caso também, uma dose mínima de desconstrução (quer dizer, de anti-epistemologia) não é apenas bem-vinda; é pré-condição para o estabelecimento de um diálogo mais livre entre arte e arquitetura.
Uma formulação produtiva do atual complexo arte-arquitetura deve partir dessa constatação28.
REFERÊNCIAS
ALLEN, Stan. Condições de campo. In: SYKES, A. Krista (Org.) O campo ampliado da arquitetura: Antologia teórica (1993-2009). São Paulo: Cosac Naify, 2014. p. 91-103.
ARANTES, Otilia. Minimalismo? Talvez um anacronismo. Projeto, São Paulo, n. 175, p. 81-83, jan. 1994.
EISENMAN, Peter. A Conversation with Peter Eisenman. El Croquis 83 - Peter Eisenman: 1990-1997, Madrid, 1997.
EISENMAN, Peter. Architecture and the Problem of the Retorical Figure. In: EISENMAN, Peter. Inside Out: Selected Writings, 1963-1988. New Haven; Londres: Yale University Press, 2004. p. 202-207. 1a ed. em 1987.
EISENMAN, Peter. Notes on Conceptual Architecture: Toward a Definition. In: EISENMAN, Peter. Inside Out: Selected Writings, 1963-1988. New Haven; Londres: Yale University Press, 2004. p. 10-27. 1a ed. em 1971.
EISENMAN, Peter. Post/El Cards. A Reply to Jacques Derrida. In: EISENMAN, Peter. Written into the Void: Selected Writings. 1990-2004. New Haven; Londres: Yale University Press, 2007, p. 1-5. 1a ed. em 1990.
EISENMAN, Peter. Presentness and the Being-Only-Once of Architecture. In: EISENMAN, Peter. Written into the Void: Selected Writings. 1990-2004. New Haven; Londres: Yale University Press, 2007, p. 42-49. 1a ed. em 1995.
FOSTER, Hal. Art critics in extremis. In: FOSTER, Hal. Design and crime and other diatribes. Londres; Nova Iorque: Verso, 2003.
FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
FOSTER, Hal. O retorno do real. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
FOSTER, Hal. What’s new about the neo-avant-garde? October, v. 70, p. 5-32, Outono 1994.
FRIED, Michael. Art and Objecthood. Artforum, v. 5, n. 10, p. 12-23, jun. 1967.
GUMBRECHT, Hans U. Produção de presença: O que o sentido não pode transmitir. São Paulo; Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2010.
KOSUTH, Joseph. History for. In: KOSUTH, Joseph. Art after philosophy and after: Collected Writing 1966-1990. Cambridge: The MIT Press, 1991, p. 239-243. 1a ed. em 1988.
KRAUSS, Rosalind. Sculpture in the expanded field. October, v. 8, p. 30-44, Primavera 1979.
KRAUSS, Rosalind. Sense and Sensibility: Reflection on Post ‘60s Sculpture. Artforum, v. 12, n. 3, p. 43-53, Nov. 1973.
LEONIDIO, Otavio. Minimal History: Minimalism, Post-Minimalism and History. s.d. [Manuscrito inédito].
LEONIDIO, Otavio. O real e a história. Novos Estudos CEBRAP, n. 101, p. 176-182, março 2015.
MONTANER, Josep Maria. Minimalismo: o essencial como norma. Projeto, São Paulo, n. 175, p. 36-44, jun. 1994.
NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: Antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naify, 2014.
OWENS, Craig. Earthwords. October, v. 10, p. 121-130, Outono 1979.
ROWE, Colin; SLUTZKY, Robert. Transparency: Literal and Phenomenal. Perspecta, v. 8, p. 45-54, 1963.
SERRA, Richard. Document: Spin Out ’72-‘73. In: SERRA, Richard. Writings Interviews. Chicago; Londres: The Univeristy of Chicago Press, 1994. 1a ed. em 1973.
VIDLER, Anthony. O campo ampliado da arquitetura. In: SYKES, A. Krista (Org.) O campo ampliado da arquitetura: Antologia teórica (1993-2009). São Paulo: Cosac Naify, 2014. p. 242-251.
1 Do original em inglês: “[...] architecture will always be presence. Whether architecture will continue to be legitimized by presence is what is really at issue” (EISENMAN, 1997, p. 19).
2 Nas palavras de Foster (2015, p. 239), “Na fenomenologia, o mundo é agrupado de modo que aquilo que é primário em nossa experiência passa ao primeiro plano”.
3 Em contraste com uma “fenomenologia [que] está impregnada de imagens” (FOSTER, 2015, p. 151).
4 ROWE; SLUTZKY, 1963.
5 Fiz isso em LEONIDIO, 2015.
6 Do original em inglês: “a problem remains as to what role these formal and essentially syntactic considerations must play if there is to be a conceptual aspect to architecture in built form” (EISENMAN, 2004 [1971], p. 27).
7 “… do meu ponto de vista, o minimalismo deveria em útlima instância ser percebido como ‘pré-conceitualismo’” (KOSUTH, 1991 [1988], p. 240).
8 Eloquentemente, Eisenman (2004 [1971], p. 26) afirma que “Aparentemente, a ideia da arte conceitual seria revelar algo novo na mente por meio da forma física, em vez de revelar explicitamente o conceito, não por meio da forma, mas ‘como’ forma. Essa ideia colocaria um problema para os trabalhos de Judd e Morris, que não procuram fazer uma distinção entre uma superfície e uma estrutura profunda no interior
9 Do original em inglês: “Rosalind Krauss says that the LeWitt boxes and grids are not meant as physical things but as intellectual integers whose real existence is mental. She says that his implied argument that meanings are mental entities which somehow attach themselves to real objects is philosophically naïve. If the argument is phrased that meanings are ‘only’ mental entities rather than ‘can be’ mental entities, then she seems to have a valid position” (EISENMAN, 2004 [1971], p. 23).
10 Do original em inglês: “In summation, this paper has proposed a taxonomy that initially distinguishes between pragmatics, semantics, and syntactics. Further, a distinction has been made between the perceptual and conceptual aspects of each category. This distinction was defined in each case by determining first the primacy of intention, and second, the means used to articulate this intention. [...] In general, the conceptual aspect is defined by an intention to shift the primary focus from the sensual aspects of objects to the universal aspects of objects. This conceptual aspect to be primary must be made intentional, that is, the result of an a priori design intention, and further it must be accessible through the physical fact— whether the primary intention is semantic (concerned with meaning) or syntactic (concerned with formal universals). And, finally, a further distinction was made in the conceptual syntactic domain—between those aspects which relied on formal universals to provide the conceptual aspect, and those aspects which relied on a code or notational system” (EISENMAN, 2004 [1971], p. 23).
11 De fato, segundo Krauss (1973), o significado da arte minimalista não difere em essência do significado da arte pós-minimalista, uma vez que ambos teriam abdicado de todo tipo de intencionalidade.
12 Do original em inglês: “the topology of the place, and the assessment of the characteristics of the place, through locomotion” (SERRA, 1994 [1973], p. 15).
13 FOSTER, 2015, p. 183.
14 EISENMAN, 1997, p. 8.
15 EISENMAN, 2007 [1995].
16 EISENMAN, 2007 [1990].
17 Do original em inglês: “Our only source of value today is a memory of value, a nostalgia; we live in a relativistic world, yet desire absolute substance, something that is incontrovertibly real. Through its being, architecture has become, in the unconscious of society, the promise of this something real” (EISENMAN, 2004 [1987], p. 203).
18 Em sua formulação original, tal restrição era ainda mais rigorosa: “Reprimido por numerosos pós-estruturalismos, o real retornou, mas não um real qualquer, apenas o real traumático” (FOSTER, 2014, p. 19, tradução nossa).
19 Do original em inglês: “Do these poststructuralisms elaborate the events of the postcolonial and the postmodern critically? Or do they serve as ruses whereby these events are sublimated, displaced, or otherwise effused? Or do they somehow do both?” (FOSTER, 2014, p. 199).
20 FOSTER, 2015, p. 185.
21 Cf. LEONIDIO, 2015.
22 FRIED, 1967, passim.
23 Ver OWENS, 1979.
24 KRAUSS, 1973.
25 Do original em inglês: “my work is ultimately about conceptualizing other methods. That is why I started working with other methods because all we can do as humans is to draw axes and places. The computer conceptualizes and draws differently... I attempt to remain suspended between the mechanism and my own subjective responses so that I am not able to define critically what its mistakes are in terms of the total trajectory of the work” (EISENMAN, 1997, p. 13).
26 ALLEN, 2014
27 VIDLER, 2014.
28 Agradeço a leitura e os comentários de Francisco Lucena e Maria Palmeiro.
THE FOSTER-EISENMAN COMPLEX
Otavio Leonidio is Doctor in History and Professor at the Architecture and Urbanism Departament of the Catholic University of Rio de Janeiro, PUC-Rio. He studies image, landscape, territory, Minimalism, Post-minimalism and contemporary spatial imagination.
How to quote this text: Leonidio, O., 2016. The Foster-Eisenman complex. V!RUS, [e-journal] 12. [online] Available at: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus12/?sec=4&item=2&lang=en>. [Accessed: 05 July 2025].
Abstract:
In The Art-Architecture Complex, Hal Foster claims that the nexuses between these two disciplines evolved to what he sees as a radical reversal of roles: Whereas, in his words, ‘minimalists opened the art object to its architectural condition’, contemporary architecture allowed buildings to be reduced to their superficial and imagistic condition – briefly, to mere appearance. The present paper takes Foster’s claim as the point of departure for a detailed examination of the theoretical and epistemological foundations of his reading, while using the work of the architect Peter Eisenman as a counterpoint. My contention is that, in contrast with Eisenman’s practice, and regardless of its uncontained commitment to ‘the contemporary’, Foster’s critique remains deeply attached to the modern worldview.
Keywords:: Art and Architecture Criticism; Contemporary Architecture; Contemporary Art; Hal Foster; Peter Eisenman.
‘... architecture will always be presence. Whether architecture will continue to be legitimized by presence is what is really at issue’ Peter Eisenman (1997, p.19)
The nexuses between modern art and modern architecture are notorious. It would be literally impossible to account for the advent of modern architecture without mentioning its indebtedness to the avant-garde, namely Cubism, De Stijl, Italian Futurism and Russian Constructivism. As for the nexuses between contemporary art and contemporary architecture, these are far more enigmatic: What the architectural métier of architecture refers to as ‘minimalism’ has very little to do with what art critics usually define as the meaning of Minimal art. This is not to say that the topic is entirely absent to the architectural dialogue: every now and then discussions emerge - as for example when Otilia Arantes (1994) censured Josep Maria Montaner (1994) for his misuse of the category ‘minimalist architecture’ that is the architecture of Tadao Ando, Álvaro Siza, Paulo Mendes da Rocha, among others. What on the other hand seems to be in total absentia is the discussion about the nexuses between contemporary architecture and architectural criticism - as if the advent of so called ‘post-modern condition’ did not affect architectural criticism, only architectural praxis.
In what follows I attempt to show how seemingly critical accounts such as Foster’s may conceal an unwillingness to underscore, and occasionally open to scrutiny, the foundations of current critical discourse. And the reason for such unwillingness, I would like to claim, is the fact that quite often these foundations are imbedded in typically modern worldviews - hence their inability to account for post-modern, meta-critical practices such as Eisenman’s.
‘One sometimes becomes a critic or a historian for the same reason that one often becomes an artist or an architect – out of a discontent with the status quo and a desire for alternatives. There are no alternatives without critique’ (Foster, 2015, p.14).
This utterance, made by Hal Foster in the introduction of The Art-Architecture Complex, heralds much of what readers will find in the pages of this book – namely this: like its closest predecessor (Design and Crime, from 2003), this book was conceived as an act of resistance. As such, it does not purport to be an overview of art and architecture in the past few decades, but only a critical take on the status quo of contemporary art and architecture.
What Foster means here by ‘contemporary’ are two distinct but directly connected things: (1) that which, in art and architecture, intends to go beyond modernism (i.e., according to Foster, that which corresponds to and/or expands upon the advent, in the 1960s, of Minimalism and Pop Art, and which, in the case of architecture, primarily means the pivotal postmodernisms of Reyner Banham or Robert Venturi); and (2) that which, within the broad spectrum of culture, reflects the advent of post-industrial capitalism.
On the architecture side, therefore, the highlight is on practices that best suit the overall logic and cunning of global capitalism. Understandably, the book pores over the work of some of leading exponents of the architectural star system – namely, Renzo Piano, Richard Rogers and Norman Foster; Zaha Hadid and Frank Gehry; Diller Scofidio + Renfro and Herzog & De Meuron.
To architects unfamiliar with leftwing critique, Foster’s approach will seem both surprising and inordinate. The object of reverence and even worship in the métier of architecture, these characters are treated here as mere collaborators – as avatars of ‘global styles’ whose role, in the end, is none other than to reiterate and even leverage the ploys of contemporary capitalism.
Obviously enough, The Art-Architecture Complex is not limited to a more or less generic denunciation of the complicity purported to characterize these practices; considering the specificity of Foster’s approach (as underscored by the book’s title, the author intends to tackle something quite specific here - viz. the ties and contradictions between architecture and contemporary art), the stake here is to foreground the way by which each of these practices intersect with avant-garde art.
In that perspective, the problem with the architecture of Zaha Hadid, for example, is not so much the option for emulating the aesthetics of the ‘historical avant-gardes’ (something that Foster, a major champion of the notion of a ‘neo-avant-garde’, in principle would never reproach) (Foster, 2014); rather it is the fact that she made her architecture a neo-avant-gardist farce. More specifically, Hadid’s crime was to convert the dynamic and material constructivism of Tátlin into a mere representation of the notions of dynamism and materiality. To Foster, this is indeed what happens with the buildings designed by Hadid: they ‘do not convey movement so much as they represent it – they are precisely ‘frozen motion’ – and, more than a multiplicity of mobile views, they set up a sequence of stationary perspectives’ (Foster, 2015, pp.103-104).
Foster contrasts Hadid’s fake neo-avant-gardism with the work of the New York firm Diller Scofidio + Renfro (DS+R). Unlike Hadid, DS+R allegedly made ‘a lateral turn’ (Foster, 2015, p.117), i.e. a turned focused not on the recent past, but instead in what was being made on the visual arts since the 1960s, with an emphasis on minimalism and post-minimalism.
The choice was productive, Foster concedes. Nonetheless, the loose ends are many; the main one was having remained ‘in the ambiguous position of much postmodernist art – that it to say, in a deconstructive position that, as it spoke within the conventions and institutions that it sought to question, often shaded into complicity with them’. More specifically, Foster claims, DS+R adopted an ambivalent stance regarding the ‘effects of new media and technologies on space and subjectivity’ – something which, in practice, turned their buildings into a ‘mediated blend of screen-space’. In doing so, DS+R committed what Foster regards as a mortal sin, no less: not engaging ‘corporeal experience very deeply’, thus contributing to the proliferation of ‘an already pervasive culture of special effects and faux phenomenologies’ (Foster, 2015, pp.118-119)1.
The censure evinces what, in Foster’s view, is at stake when it comes to discussing the art-architecture complex as of today: the decline of experience – more specifically, of a phenomenological experience2 diametrically opposed to the (seductive, spectacular, illusionistic) effects that characterize contemporary imagistic culture. To Foster’s mind, this is indeed the distinguishing feature of current architecture: a shameless acceptance of the superficial and the imagetic, to the detriment of the spatial, the materic, and the tectonic. As evidence of this state of affairs, Foster cites the proliferation of so-called architectural ‘skins’ – undeniably one of the distinguishing marks of architecture in the past few decades.
According to Foster, in making this choice for the superficial and the imagetic, contemporary architecture incurred a double and abominable deviation: on the one hand (i.e., from the perspective of the historical development), it ignored some of modernism’s main achievements, especially the emphasis on the tension (pivotal to the work of Le Corbusier) between the phenomenological experience of real space and the superficial, optical effects of façade plans and elevations (in the words of Colin Rowe and Robert Slutzky, the tension between ‘literal’ and ‘phenomenal’ transparency)3; on the other hand (that is, from the perspective of postmodernist art practices), contemporary architecture has turned its back on what, especially with minimalism, has become the central motivation of the neo-avant-garde avant-garde – the ‘structuring of materials in order to motivate a body and to demarcate a place’ (Foster, 2013, p.141).
Foster’s predilection for minimalism (to the detriment of Pop Art and most of all Conceptual Art) is not fortuitous, therefore. For, as he believes, it is due to minimalism the feat of turning the ideal object (i.e., amenable to a contemplative, sublime aesthetical experience) into a phenomenological object, that is one that can only be seized in the contingency of the World of Life. In fact, Foster (2015, p.132) claims, if minimalism had performed a reduction to basic geometrical shapes, this was only ‘to prepare a sustained complexity, in which any ideality of form (which is thought to be instantaneous, even transcendental, in conception) is challenged by the contingency of perception (which occurs in particular bodies in specific spaces for various durations)’.
Thus, Foster’s central thesis is that the art-architecture complex could be summarized today by a radical, and wholly regrettable, reversal of roles: Whereas, in Foster’s words (2015, p.8), ‘minimalists opened the art object to its architectural condition', contemporary architecture allowed buildings to be reduced to their superficial and imagistic condition – briefly, to mere appearance.
A good example of this type of reversal is the architecture of the duo Herzog & De Meuron. With a background of direct contact with ‘neo-avant-garde’ practices, these architects occasionally gave in to the aesthetics of the superficial, the immaterial, and the atmospheric; in doing so, they relinquished their early commitment to matter, body, and place, producing instead an architecture in which matter turns to image, active perception turns to passive reception, and places turn to non-places.
As becomes clear, the inordinate emphasis The Art-Architecture Complex imparts to the work of sculptor Richard Serra is not without reason: as Foster sees it, Serra’s work embodies all that is most powerful and resistant about both contemporary art and contemporary architecture – viz., the commitment to the matter-body-place triad. In effect, Foster (2015, p.167) claims, as early as the late 1960s it was already clear that Serra’s sculpture stood on three basic principles: (1) the principle of material transparency, i.e. based on the properties of materials (hence not only his choice of raw materials such as lead and steel, but particularly the precept that these should be tensed up through ‘pertinent procedures’); (2) the ‘phenomenological’ principle, i.e. the option for a sculpture that ‘exists in primary relation to the body, not as its representation but as its activation’; (3) the ‘situational’ principle, according to which ‘sculpture engages the particularity of place, not the abstraction of space’.
II
Were this text exclusively focused on the dilemmas and contradictions of contemporary art and art criticism, I would find myself obliged to underscore the numerous flaws of Foster’s reading – namely when it comes to the definition of Minimalism.4 Since this is not the case, from now on I will turn my attention specifically to the architectural shortcomings of Foster’s approach. They are several and also very meaningful, the main one being the flagrant omissions that characterize this book.
I am not referring to the fact that Foster operates with too restricted a number of architectural practices; nor to the emphasis given to practices that best suit his line of thinking (which ultimately endows them with a scarecrow-like air). No, first and foremost, I am thinking about the way Foster shunned the task of accounting for the practices and discourses which, as I see it, best represent the current state of the art-architecture complex – beginning with the works of Peter Eisenman and Rem Koolhaas.
This is not to say these architects are not accounted for in The Art-Architecture Complex. They are. However, their presence here takes on an unmistakable alibi-like air – a preventative defense against eventual accusations of neglect. Consider the case of Koolhaas. Even if he is mentioned a dozen times throughout the book, Foster never addresses what is really matters in his work – for instance, the way it challenges the immediate connection that functionalism had established between program and form. Instead, Foster (2015, p.32-33) limits himself to short, anecdotal remarks – even to platitudes such as ‘the profile [of the Chinese Central Television siege] is motivated by the program, especially in the penultimate level that contains a great spiral of ramped bookshelves’.
Eisenman’s case is even more problematic. For his presence here is not only precarious; it is contradictory. Indeed, although Foster admits that more so than any other contemporary architect Eisenman carried out an unprecedented ‘displacement of the subject’ (patent in the way the ‘authorial subject’ is neutralized, particularly in his earlier projects), he never gives Eisenman’s work the attention it deserves (Foster, 2015, p.105).
For someone who claims, and solemnly so, that what is ‘at stake here are not mere preferences in design but important implications for subjectivity and society alike’ (Foster, 2015, p.155), this is a serious omission.
And that is not all, for Foster is obviously aware that since the mid-1960 (i.e., at the exact point when Minimalism emerges), Eisenman has based his theoretical work on the dialogue with avant-garde art (particularly Minimalism and Conceptual Art). Which means to say that – whether Foster likes it or not – the work of Eisenman incarnates the art-architecture complex to an extent that possibly trumps any other contemporary practice.
Eisenman’s theoretical oeuvre confirms this. Let us consider, for instance, ‘Notes on Conceptual Architecture: Toward a Definition’, an essay Eisenman published in 1971. As emphasized by the text’s title, Eisenman main reference here is one of the most emblematic texts from 1960s aesthetic discourse: ‘Paragraphs on Conceptual Art’, published by Sol LeWitt in 1967. Moreover, as the reader soon realizes, Eisenman (1971) is particularly eager here to converse with minimalism’s leading artists and theoreticians – namely, Donald Judd, Robert Morris, and Lucy Lippard.
But ‘Notes on Conceptual Architecture’ evidences much more than Eisenman’s willingness to dialogue with 1960s avant-garde art; the text makes clear how original, and in a sense marginal, Eisenman’s approach is. Two particular aspects are noteworthy in this respect. Firstly, it springs to attention how young Eisenman resists accepting the Conceptual/Mental versus Perceptual/Phenomenological antinomy. Eloquently, Eisenman warns that ‘[b]ecause the distinction between deep and surface, conceptual and perceptual, has not been clearly made, there remains a confusion between aesthetic and formal considerations’. Thus being, he concludes, ‘a problem remains as to what role these formal and essentially syntactic considerations must play if there is to be a conceptual aspect to architecture in built form’ (Eisenman, 1971, p.27).
The second aspect (directly tied with the first) concerns Eisenman’s reading of 1960s American art, especially of Minimalism. For Eisenman’s conception of minimalism is radically different from Foster’s; to his mind, minimalism operates a displacement from a ‘primary experience which is visual and sensual’ towards a ‘mental and intellectual and therefore presumed to be conceptual’ experience, and not the other way around (Eisenman, 1971, p.13). Which means to say that, just like Joseph Kosuth5, Eisenman interprets minimalism from an anti-phenomenological perspective6.
Eisenman’s particular interest in the work of Sol LeWitt (to the detriment of Donald Judd and Robert Morris, arguably the primary ideologues of minimalism and post-minimalism, respectively) seems, in this sense, at once logical and strategical. Why? Because more than in any of his minimalistic peers, in LeWitt’s work antinomies such as Conceptual versus Perceptual and Mental versus Phenomenological are always called into question. That is, in LeWitt’s work these domains come together in a way that defies categorical polarizations. That Eisenman sees LeWitt’s work this way becomes clear when, admonishingly, he states:
‘Rosalind Krauss says that the LeWitt boxes and grids are not meant as physical things but as intellectual integers whose real existence is mental. She says that his implied argument that meanings are mental entities which somehow attach themselves to real objects is philosophically naïve. If the argument is phrased that meanings are ‘only’ mental entities rather than ‘can be’ mental entities, then she seems to have a valid position’ (Eisenman, 1971, p.25).
The passage is rather telegraphic and certainly warrants quite diverse interpretations; its key point, however, seems unequivocal to me; it concerns the constitution of meaning, more specifically the connection between a mental entity or event (i.e. an artist/architect’s intention to produce something, in this case, an art object or a building) and the meaning this thing eventually acquires for its viewers. Ultimately, therefore, what is at play for Eisenman is the contemporary (i.e. neither classical nor modern) pertinence of artistic and architectural regimes of production eager to explore the connections between subjective intention, intellection processes, and phenomenological experience. Significantly, intentionality constitutes perhaps the primary theoretical problem of ‘Notes on Conceptual Architecture’. The text’s conclusion, in particular, makes this quite clear:
‘In summation, this paper has proposed a taxonomy that initially distinguishes between pragmatics, semantics, and syntactics. Further, a distinction has been made between the perceptual and conceptual aspects of each category. This distinction was defined in each case by determining first the primacy of intention, and second, the means used to articulate this intention. [...] In general, the conceptual aspect is defined by an intention to shift the primary focus from the sensual aspects of objects to the universal aspects of objects. This conceptual aspect to be primary must be made intentional, that is, the result of an a priori design intention, and further it must be accessible through the physical fact— whether the primary intention is semantic (concerned with meaning) or syntactic (concerned with formal universals). And, finally, a further distinction was made in the conceptual syntactic domain—between those aspects which relied on formal universals to provide the conceptual aspect, and those aspects which relied on a code or notational system’ (Eisenman, 1971, p. 23).
Now from the standpoint of the intention that underlies the artistic/projective action, Eisenman’s caveat to Krauss’ argumentation seems particularly relevant. For his interest in the connections between an a priori design intention and intellection/experience of the physical fact underscores a significant divergence vis-à-vis the foundations of one of the most influential interpretations of contemporary art – an interpretation whose foremost ideologue is Krauss, and one of the leading inheritors is Foster. Which presumptions are these? As per their most accomplished formulation (the essay ‘Sense and Sensibility. Reflection on Post ‘60s art’, published by Krauss in 1973), basically this: (1) that all intention originates from a subjective, inscrutable mental space – in Krauss’ words, ‘the artist inviolable self’; (2) that consequently, all art derived from the notion of intention will always be (i) solipsistic and self-referential (in the sense that it will never retain any tangible and therefore verifiable connection with what supposedly originated it, and that its meaning will never transcend an act of imagination confined ‘to the mind of each isolated spectator’); (ii) prearranged (in the sense that it will always be the re-presentation of something formulated beforehand in the subject’s conscience); (iii) conservative, in the sense that it will always reproduce a pre-defined and tendentiously conventional formal/spatial model of some sort.
It is noteworthy that it was based on these presumptions that Krauss based her argument that the avant-garde art that emerged in the USA in the early 1960s could be divided into two opposing fronts – viz: (A) the anti-intentional/progressive front constituted by both minimalist art – the art of Frank Stella and Donald Judd, Dan Flavin and Carl Andre, and also of the first Robert Morris – and the non-conceptual section of post-minimalism – i.e. the post-minimalism of Serra and Bruce Nauman, Mel Bochner and Dorothea Rockburn, Michael Heizer and Richard Tuttle; and (B) the intentional/conservative front constituted by Conceptual Art (the art of Joseph Kosuth, On Kawara, and Douglas Huebler, among others.)7
One understands why Krauss, like Foster, chose Serra as an avatar of her conception of the non-conservative section of contemporary art: more so than any of his post-minimalist peers, Serra had always rejected any sort of a priori design intention and committed himself entirely to the body. Not any body, to be sure, but a body entirely aloof to all forms of subjective intention; a body which, in practice, does not avail itself to doing anything else except testing the properties of matter, investigating the possibilities of its own gestures in interacting with matter under the effect of gravity, seeking to define ‘the topology of the place, and the assessment of the characteristics of the place, through locomotion’ (Serra, 1973, p.14).
III
But it can be misleading to emphasize the affinities between Foster’s and Krauss’ readings (in particular, the huge distrust both critics show for the Conceptual/Mental domain – a distrust always accompanied by a more or less unlimited faith in the virtues of the Phenomenological experience). For there is something in ‘The Art-Architecture Complex’ that sets it apart from the highly ingenious reading Krauss makes of the art of the 1960s and afterward – viz., an undisguisable unwillingness to develop, expose, and eventually test out the presumptions of his reading of the contemporary, especially the presumptions that underpin the imagistic/virtual versus real/phenomenological antinomy. In effect, notably when compared with Krauss’ highly elaborate theoretical constructs, Foster’s argumentation begins to resemble a short-circuit: instead of the complex articulation of conceptual-intencional-subjective-solipsistic-aprioristic-inscrutable-illusionistic-conventional-conservative, Foster bases his theses in the supposedly self-evident sequence: imagistic = virtual = illusory = acritical. It is a compromising shortcut; it suggests that, faced with the challenges and predicaments of such complex theoretical construction, Foster opted for a moral judgment – or, worse still, of moralist indictment. Personally, I believe this is what Foster effectively did when he implied that the path followed by Serra is evidently correct; that such a choice in fact constitutes a practically ineluctable option against all that is acritical/conservative in the contemporary world – especially that which he dubs (and quite infamously so) ‘the vicissitudes of the imaginary’ (Foster, 2015, p. 155). In doing so, Foster obliterates a significant number of questions – for instance, the problems and limitations that characterize the phenomenological path (which is actually presented here as being problem-free). One of the risks is that the incautious reader, and above all the neophyte, will end up believing that, as Foster implies, Serra simply solved the problem of intentional/projective action (in his own words,’[h]ow might one proceed differently, sculpturally’)8; and that, consequently, his work constitutes an uncontroversial model to be followed by artists (but also by architects) intent on acting/designing in a non-conservative way.
That Foster has chosen not to pay Peter Eisenman’s work the attention it deserves makes complete sense, on that account. After all from Eisenman’s perspective (more specifically, as per his reading of 60s art), none of Foster’s premises and contentions seem self-evident – quite the opposite. Which means to say that, if Foster deviated from Eisenman’s work, he probably did so with the intent of obfuscating a work that challenges not only his outline of contemporary architecture, but first and foremost the foundations of his conception of ‘the contemporary’ – namely: (1) the idea that contemporary art and architecture can be characterized in terms of the opposition between, on the one hand, an imagistic/virtual domain regarded as unrealistic and conservative, and on the other hand a phenomenological domain considered essentially real and progressive; (2) that therefore the progressive choice among these two (and only two) alternatives can only be the option for the mundane/phenomenological, i.e. for the materic, the corporeal, the situational. To my mind, much of what Eisenman has been doing since the 1960s are attempts to contradict these precepts.
Obviously, by saying this I do not mean to imply that Eisenman simply solved the numerous problems his work raises – in particular the problem of the connections between subjective intention, intellection processes, and phenomenological experience. As a matter of fact, one of the distinctive features of his work is precisely a high degree of hesitance – particularly regarding the efficacy of his ‘architecture machine’9, both from the perspective of intentional action (i.e. re the attempted neutralization of the subject that acts driven by subjective/projective intentions) and from the perspective of intellection/experience (i.e. of the eventual overcoming of what he sharply denominates the ‘metaphysics of presence’)10. And the first one to admit this hesitance is Eisenman himself, who, after nearly half a century of work, continues to wonder: ‘How do you install the experience of the body and keep the mechanism operating?’11
But hesitance does not mean going backwards, let alone nostalgia. Incidentally, Eisenman has always refused – even at moments of great difficulty (for example when Derrida, rather surreptitiously, turned his back on him)12 – to accept alternatives that suggested some sort of return to the pre-contemporary condition (which in his case means pre-deconstructivist). Eisenman made this much clear when he stated, with an uncommon dose of sarcasm:
‘Our only source of value today is a memory of value, a nostalgia; we live in a relativistic world, yet desire absolute substance, something that is incontrovertibly real. Through its being, architecture has become, in the unconscious of society, the promise of this something real’ (Eisenman, 2004, p.203).
It is unlikely that Eisenman had Foster in mind when making this taunt; and yet if fits Foster like a glove. For as far as I see it, Foster is clearly after this ‘unequivocal real’. And just like this quest led him to Serra (the most mundane of all mundane artists), it also led him to architecture. Not just any architecture, but an architecture which, by definition, is always literal and never virtual; which is construction, rather than mere representation; which, in opposition to the work of the architects that The Art-Architecture Complex concerns itself with, is made of literal transparencies, true phenomenological experiences, essential ties with specific places: in a word, an architecture that is always defined, and furthermore legitimized, by presence.
IV
And this is why, as I believe, Foster’s account of contemporary architecture is less concerned with the art-architecture complex than it is with the challenges and dilemmas of a certain conception of contemporary art, epitomized here by his own criticism. What challenges are these? Above all, those associated with the problem of how one positions oneself in the face of what Hans U. Gumbrecht (2010) refers to as the unresolved crisis of metaphysics. In The Return of the Real (a book published in the mid-1990, but which contains essential parts written over a decade earlier), Foster seemed to wallow in an epistemological limbo of sorts: on the one hand, he disclosed an unrestrained desire for ‘the rea’; on the other hand, he simply could not conceal his own ill-being in face of the very notion of reality – at least those notions of reality which, deliberately or not, might evoke a minimally stable referentiality (i.e. some sort of ontology). Hence, precisely his caveat about the limits of his own intellectual endeavor, destined to reclaim not just any real, only a subjective reconstruction of it (Foster, 2014, p. 46)13. Eloquently, in the final chapter of The Return of the Real, Foster (2014, p.199) inquired about the deconstructions carried out by Foucault and Derrida:
‘Do these poststructuralisms elaborate the events of the postcolonial and the postmodern critically? Or do they serve as ruses whereby these events are sublimated, displaced, or otherwise effused? Or do they somehow do both?’
Seemingly, what was presented as doubt in The Return of the Real was taken for granted in The Art-Architecture Complex: the sense of deconstruction became simply that of complicity, cynicism, the renouncing of critique. Likewise, the idea of a critical stance is now restricted to the option (presented as self-evident and self-justified) of returning to things themselves, to the presence of things themselves, to the grace that eventually arises in the presence of things themselves.
That Foster ends up attributing to the presence of some of Serra’s works the quality of ‘grace’14 (a word that has been banned from the avant-garde vocabulary since Michael Fried, in his infamous diatribe of 1967 against minimal art, pronounced the statement ‘presentness is grace’) seems highly symptomatic to me; it indicates the amount of conservativeness that underlies Foster’s supposedly progressive critical praxis.
This conservativeness is not new. In fact, it is intrinsic to the notions of ‘neo-avant-garde’ based on which Foster has built his alternative theory of contemporary15. With this The Art-Architecture Complex, however, it took on clearer – and much more radical – contours. For what this book ultimately reveals is in fact the high degree of nostalgia that underlies Foster’s reasoning.
Nostalgia of what? Now, nostalgia of the modern reality – i.e., of an aesthetical and existential condition which, as 1960s art makes clear (pace Foster), is not tenable anymore (Leonidio, n.d.).
More specifically, Foster seems overrun with nostalgia of an age in which the avant-garde was driven by concrete causes (the quest for the ‘world of life’, the paving of the ‘road to the future’) which were acted out against concrete enemies (‘idealism’, ‘illusionism’, ‘pictorialism’, etc., etc.). In one word, what Foster misses is the same thing Fried could never find in minimal mart: a ‘compelling conviction’16 without which the modern spirit becomes homeless.
The end of this condition is experienced by Foster in eschatological terms – i.e., as the end of the world; like Fried and Krauss before him, Foster (2003, p.117) wound up incarnating what he quite accurately dubbed ‘the frightening of art and criticism’ – i.e. the fear that the conditions on which for more than a century art and art criticism had been practiced and valued might come to an end.
What does one do in face of this terrifying scenario? One tries to demonstrate that, instead of the extinction of the modern condition, the contemporary world is actually a reconfiguration of it.
One evidence that this, in fact, is what drives Foster’s critique is the emphasis The Art-Architecture Complex places upon the notion of ‘virtual’. As aforementioned, this term is employed here as the opposite of the articulated notions of ‘concrete’, ‘real’, ‘mundane’, ‘’tectonic’, ‘materic’, etc. This antinomy is certainly not absurd; yet the way it is employed here is somewhat shrewd. For as per Foster’s critique, the notion becomes a contemporary, and natural, surrogate to anti-modern notions like ‘ideal’ and ‘illusionistic’. The shrewdness lies in making believe that while the terms of the old antinomy ideal/classical versus mundane/modern may change, the antinomy itself remains ever current. Significantly, Foster recurrently describes the contemporary condition in terms of the old (i.e. modern) opposition between the real world versus the idealist world – as if implying that, like in the good old days of the avant-garde, our current predicament is still to confront ’old idealist models’ (Foster, 2015, p.171). In doing so, Foster not only suggests the persistence of the modern condition (now reconfigured); he insinuates that today, like yesterday, the task of a neo-neo-avant-garde is to fight ‘these persistent idealisms’ (Foster, 2015, p.173), now incarnated into an endless array of virtualities.
The shortcomings of this updating of the modern condition into the space of ‘the contemporary’ are many. Let me highlight just one of them: how is one to account for practices that fit neither the original model (i.e., the modernist narratives), nor the reconfigured model (the neo-modernist ones) – as in the case, for example, of Robert Smithson’s work?
Once again, Foster’s solution brings Krauss to mind. For just like Krauss (1979) did repeatedly, Foster addresses the work of Smithson in eminently phenomenological terms – more specifically as per the purported emphasis his work gives to the notion of ‘place’.
To observers minimally familiar with the work of Smithson, the rationale sounds clumsy, for it conspicuously disregards the evidence that even when they take on a ‘site-specific’ aspect, Smithson’s works never cease to be the opposite of that, i.e. exemplars of an art that is anti-specific, anti-situational and anti-phenomenological’ (Leonidio, n.d.).
Since Foster, like Krauss, simply cannot afford to leave Smithson outside the boundaries of the contemporary, all that is left for him is to try to replicate what Krauss had already done, and reasonably successfully so: approaching Smithson’s work in essentially phenomenological terms, thus associating his ‘earthworks’ with the situational operations of Andre, Serra, and Heizer (Foster, 2015, p.165)17.
The gesture is unconvincing, but it serves as a lesson. For if it is still the time to look into the art of the 1960s, it is equally the time to question post-minimalist readings of this art – readings which, as Joseph Kosuth (1991) claimed was often moved by obscure agendas; readings which, as Foster’s critique make explicit, have a huge impact in the way we deal with contemporary architecture.
Once again, Eisenman’s legacy proves to be timely and strategic. For the fact that he is an utterly first-hand observer (and furthermore an original and independent observer) allowed him to impart a very special approach to 1960s art, notably regarding the – extremely sensitive – theme of intentionality. Significantly, instead of turning his back on the notion of intention (as Krauss18 vehemently advised in the early 1970s), Eisenman (1997, p.17) persisted in his quest for what he inspiringly called ‘meta-intentionality’.
A circumstantiated analysis of this notion would require another paper. For the time being I will simply point out that, as Eisenman stated, such a notion puts him (the author) in the precarious space that eventually lies between the human and the inhuman – a space where modern subjectivity in general and critical judgment in particular become (in a best-case scenario) dysfunctional. Once again, it is worthwhile to resort to the words of Eisenman:
‘my work is ultimately about conceptualizing other methods. That is why I started working with other methods because all we can do as humans is to draw axes and places. The computer conceptualizes and draws differently... I attempt to remain suspended between the mechanism and my own subjective responses so that I am not able to define critically what its mistakes are in terms of the total trajectory of the work’ (Eisenman, 1997, p.13).
To what extent does Eisenman’s meta-intentionality intersect with minimalism’s account of intention? This is the sort of question that remains unanswered – and which The Art-Architecture Complex has refrained from tackling. In any case, it is clear that while it is true that from Foster’s neo-modernist standpoint ‘there are no alternatives without critique’, it is also true that from an anti-modernist standpoint, ‘critique’ may not be the best of alternatives – perhaps just the opposite.
V
Much has been said over the past few decades about the emergence (since around the mid-1960s) of a ‘new agenda for architecture’ (Nesbitt, 2014). For the time being, this seems as encompassing as it is diffuse; it spans from semiotics to historicism, from environmentalism to feminism, from critical regionalism to deconstruction. Naturally, it also comprises the dialogue art and architecture. Not by chance, alongside more or less commonplace topics such as ‘local tradition’ and ‘sustainability’, the métier of architecture has come to deal more recently with notions such as ‘field condition’19 and ‘expanded field’20. What is specific and interesting about the use of these notions is this: as their own champions recognize, they emulate the critical vocabulary of contemporary visual arts.
Obviously, there is not anything reproachable about architects employing notions and concepts imported from the discourse of the visual arts. My personal impression, however, is that as a rule, whenever an architect utters an expression like ‘architecture’s expanded field’, s/he overlooks the fact (rather obvious, by the way) that this and other notions were originally coined in specific contexts, that is to say as a reply to specific (aesthetical, but also political) questions and dilemmas.
In embracing these notions at face value, these architects do more than simply showing a greater or lesser degree of epistemological naiveté – or worse still a greater or lesser degree of intellectual servility (which would imply that the current state of the art-architecture complex includes perhaps an inferiority complex from architecture vis-à-vis art); they also disregard the fact that the decontextualized import of these notions can prove not only awkward, but unproductive as well. That is, in this case too a minimum amount of deconstruction (that is to say, of anti-epistemology) is not only recommended, it is actually a precondition for a freer and more productive exchange between art and architecture.
The elucidation of the current art-architecture complex must begin with this realization21.
REFERENCES
Allen, Stan, 2014. Condições de campo. In: A. Krista Sykes, org. 2014. O campo ampliado da arquitetura: Antologia teórica (1993-2009). São Paulo: Cosac Naify, pp.91-103.
Arantes, Otilia, 1994. Minimalismo? Talvez um anacronismo. Projeto, 175, pp.81-83.
Eisenman, Peter, 1971. Notes on Conceptual Architecture: Toward a Definition. In: Peter Eisenman, 2004. Inside Out: Selected Writings, 1963-1988. New Haven; London: Yale University Press, pp.10-27.
Eisenman, Peter, 1987. Architecture and the Problem of the Retorical Figure. In: Peter Eisenman, 2004. Inside Out: Selected Writings, 1963-1988. New Haven; London: Yale University Press, pp.202-207.
Eisenman, Peter, 1990. Post/El Cards. A Reply to Jacques Derrida. In: Peter Eisenman, 2007. Written into the Void: Selected Writings. 1990-2004. New Haven; London: Yale University Press, pp.1-5.
Eisenman, Peter, 1995. Presentness and the Being-Only-Once of Architecture. In: Peter Eisenman, 2007. Written into the Void: Selected Writings. 1990-2004. New Haven; London: Yale University Press, pp.42-49.
Eisenman, Peter, 1997. A Conversation with Peter Eisenman. El Croquis 83 - Peter Eisenman: 1990-1997, Madrid.
Foster, Hal, 1994. What’s new about the neo-avant-garde? October, 70, pp.5-32.
Foster, Hal, 2003. Art critics in extremis. In: Hal Foster, 2003. Design and crime and other diatribes. London; New York: Verso.
Foster, Hal, 2014. O retorno do real. São Paulo: Cosac Naify.
Foster, Hal, 2015. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify.
Fried, Michael, 1967. Art and Objecthood. Artforum, 5 (10), pp.12-23.
Gumbrecht, Hans U., 2010. Produção de presença: O que o sentido não pode transmitir. São Paulo; Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio.
Kosuth, Joseph, 1988. History for. In: Joseph Kosuth, 1991. Art after philosophy and after: Collected Writing 1966-1990. Cambridge: The MIT Press, pp.239-243.
Krauss, Rosalind, 1973. Sense and Sensibility: Reflection on Post ‘60s Sculpture. Artforum, 12 (3), pp.43-53.
Krauss, Rosalind, 1979. Sculpture in the expanded field. October, 8, pp.30-44.
Leonidio, Otavio, n.d. Minimal History: Minimalism, Post-Minimalism and History. [Unpublished Manuscript].
Leonidio, Otavio, 2015. O real e a história. Novos Estudos CEBRAP, 101, pp.176-182.
Montaner, Josep Maria, 1994. Minimalismo: o essencial como norma. Projeto, São Paulo, 175, pp.36-44.
Nesbitt, Kate, org. 2014. Uma nova agenda para a arquitetura: Antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naify.
Owens, Craig, 1979. Earthwords. October, 10, pp.121-130.
Rowe, Colin & Slutzky, Robert, 1963. Transparency: Literal and Phenomenal. Perspecta, 8, pp.45-54.
Serra, Richard, 1973. Document: Spin Out ’72-‘73. In: Richard Serra, 1994. Writings Interviews. Chicago; London: The Univeristy of Chicago Press.
1 According to Foster (2015, p.209), ‘In phenomenology the world is bracketed in such a way that what is primary in our experience comes to the fore’.
2 As opposed to a ‘phenomenology [which] is shot through with pictures’ (Foster, 2015, p. 151).
3 Rowe and Slutzky, 1963.
4 I did that in Leonidio, 2015.
5 ‘… from my perspective, minimalism should ultimately be perceived as ‘pre-conceptualism’’ (Kosuth, 1988, p 240).
6 Eloquently, Eisenman (1971, p. 26) asserts that ‘It would seem that the idea of conceptual art would be to reveal something new in the mind, through the physical form, rather than to explicitly reveal the concept, not through the form, but ‘as’ the form. This idea would present a problem for the work of Judd and Morris which again does not try to distinguish between a surface and a deep structure within the object’..
7 In fact, according to Krauss (1973), the meaning of minimalist art does not differ in essence from the meaning of post-minimalist art, since both had purportedly relinquished all forms of intentionality.
8 Foster, 2015, p.183.
9 Eisenman, 1997, p.8.
10 See Eisenman, 1995.
11 Eisenman, 1997, p.14.
12 See Eisenman, 2007.
13 Repressed by various poststructuralisms, the real has returned, but as the traumatic real’ (Foster, 1996, p.239. In its original formulation, this caveat was even stricter: ‘Repressed by various poststructuralisms, the real has returned – but not just any real, only the traumatic real’ (Foster, 1994, p.29).
14 Foster, 2015, p.185.
15 See Leonidio, 2015.
16 Fried, 1967.
17 For an insightful Reading of Smithson’s work, see Owens, 1979.
18 Krauss, 1973.
19 Allen, 2014.
20 Vidler, 2014.
21 Many thanks to Francisco P. Lucena and Maria Palmeiro for their attentive reading and remarks.