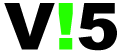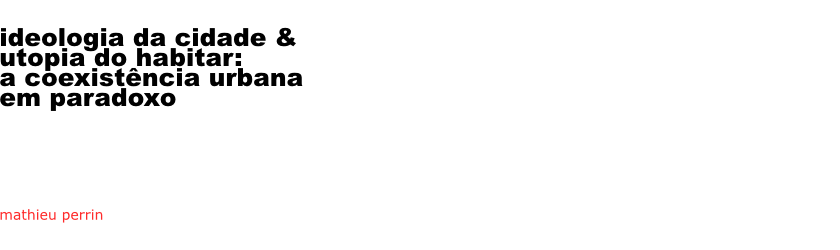
Ideologia da cidade & utopia do habitar: a coexistência urbana em paradoxo
Mathieu Perrin é Urbanista e Mestre em Ciências do Território, pesquisador do Institut d’Urbanisme de Grenoble, França, estuda as influências da democratização de sociedades ocidentais nas relações entre a cidade e o habitar, especialmente nos Estados Unidos, Brasil, África do Sul e França.
Como citar esse texto: PERRIN, M. Ideologia da cidade & utopia do habitar: a coexistência urbana em paradoxo. Traduzido do francês por Mathieu Perrin e Livia Ikemori. V!RUS, São Carlos, n. 5, jun. 2011. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=4&item=4&lang=pt>. Acesso em: 14 Jul. 2025.
Resumo
Esta publicação pretende retomar os conceitos de ideologia e utopia para explicar as tensões contemporâneas que possam existir entre a escala da cidade e do habitar. Uma leitura deste tipo nos leva a repensar na questão das relações de poder e na forma como estas influenciam na morfologia e nos padrões de segregação das cidades ocidentais.
Palavras-chave: ideologia/utopia, habitar/cidade, fechamento residencial, segregação, democratização.
Introdução
Multiplicam-se as constatações de uma fragmentação no âmago do urbano contemporâneo. A cidade luta para constituir uma sociedade (DONZELOT, 1999). Não existe mais esta ligação, que no passado fazia da cidade um conjunto de espaços relativamente interdependentes. Desde então, muitos territórios se emanciparam, resultando em uma diversificação das destinações. A geografia urbana relata então certa complexidade, principalmente na escala residencial. A moradia não pode mais ser considerada apenas como um contexto para a vida, pois tornou-se portadora de interesses setoriais. Em outras palavras, ela torna-se ela própria vetor de uma relação, extremamente política, com o resto da cidade. Essa evolução pode parecer surpreendente, ou mesmo anacrônica, porque a maioria das sociedades ocidentais tende atualmente a mostrar uma face mais democrática. Novas populações foram progressivamente integradas à prática cidadã. E pelo menos no status político um pouco mais de igualdade parece respeitada. Entretanto, esta dinâmica se reflete pouco no espaço. Seria inclusive o contrário. Pois o fenômeno de abertura nos campos político e social é compensado pelo fechamento dos espaços cada vez mais marcado no seio das cidades ocidentais. Restringe-se gradativamente a área de atuação do domínio público e se multiplicam as proibições de acesso a lugares que antes eram percorridos livremente.
A difusão do conjunto residencial fechado parece marcar uma radicalização no processo de fechamento dos espaços urbanos, porque ele confisca materialmente áreas da cidade aberta. No entanto, algumas configurações intermediárias, menos marcadas fisicamente, já tinham iniciado esta tendência. Por exemplo, os loteamentos têm, já há muito tempo, reduzido a área de influência da esfera pública, colocando o destino de vários espaços internos sob o controle de órgãos de administração privados e dedicados à interesses extremamente localizados. Assim a questão da segurança pode certamente explicar em parte a elevação desses muros, mas fronteiras geralmente mais imateriais já circunscreviam áreas de habitação das elites no final do século XIX. Ainda hoje, muitos moradores de conjuntos fechados afirmam terem sido tão ou mais atraídos pelo ambiente, qualidade dos serviços e equipamentos, sociabilidade de vizinhança ou pela eficiência da gestão interna oferecida nesses conjuntos, do que pelos dispositivos de segurança.
O objetivo principal então é duplo. Trata-se de entender a razão dessa valorização contemporânea do habitar, que começara antes mesmo do fechamento físico das áreas residenciais, mas também de apreender o mecanismo que permite explicar os intensos processos de segregação nas sociedades ocidentais, que, no entanto, democratizaram-se amplamente. Nesse texto, será proposta uma resposta a essa dupla interrogação, recorrendo aos conceitos de ideologia e utopia, que parecem especialmente adequados para entender as tensões contemporâneas que podem existir entre a cidade e o habitar, entre um universo mais aberto e um mundo mais privativo.
1. Urbanismos: ideologia e utopia
Inicialmente, os termos ideologia e utopia têm uma história distinta. É apenas no início do século XX que o sociólogo alemão K. Mannheim (1929) os associa para conceituar dois modos de pensar antagônicos. A utopia é o procedimento usado por quem sente falta de poder, por quem não tem a capacidade de agir sobre o real. Aliás, não é por acaso que a utopia surge primeiro como um estilo literário, porque geralmente o mundo ideal descrito pelo autor não fica livre de segundas intenções. Nas entrelinhas, frequentemente adivinha-se uma condenação da sociedade real, considerada falha e injusta. A crítica aparece mais ou menos encoberta, dependendo da liberdade de expressão do escritor, mas geralmente é expressa com certa prudência, porque o real é ameaçador. O autor distancia-se da sociedade na qual ele vive, descrevendo um mundo não localizável no tempo e no espaço. A etimologia presumida do termo «utopia» é reveladora . O inventor deste neologismo, Thomas More (1516), teria adicionado o prefixo "u" privativo a uma forma derivada do grego, topos, que significa lugar. A ilha idealizada pelo intelectual inglês estava efetivamente descrita sem nenhuma localização1.
Este afastamento causado pela abstração garante especialmente ao mundo criado não ser contaminado pelos vícios existentes no mundo real. Mas outra vez, é para o escritor um meio de fugir de um cotidiano repressivo. A utopia não é, portanto, apenas uma simples imagem, ou uma simples invenção do espírito, mas mais amplamente um modo de pensar que tende a se desenvolver pelos seres que sofrem por não poderem agir e transformar concretamente a sociedade. Este processo mental provavelmente tem origem no inconsciente (DADOUN, 2000). Inversamente, K. Mannheim (1929) utiliza o conceito de ideologia para descrever este modo de pensar que se inscreve diretamente no real e na história. Não se trata mais de evitar ou de se distanciar, já que o combate pode acontecer dentro da própria sociedade, como por exemplo, na arena política ou na esfera midiática. Existe lugar e às vezes até esperança de que as intervenções pesem sobre o porvir. O idealista desfruta de uma liberdade e de um poder que o utopista não conhece. O primeiro pode trabalhar na essência, expondo abertamente suas ideias no debate público, enquanto que o segundo limita-se à forma, desenhando na surdina um mundo do irreal.
Esta dialética, opondo ideologia e utopia, evidencia um potencial, suscetível de enriquecer a análise do urbano contemporâneo. Não existem modos de investimento na cidade mais integrados, trabalhando a essência do urbano? Não existem, inversamente, modos de investimento mais destacados, modelando formas particularmente localizadas? Então, sem dúvida, é preciso conceber dois urbanismos, um ideológico e outro utópico. Por exemplo, o espírito do gesto agenciador haussmanniana diverge amplamente, transformando radical e massivamente os tecidos centrais e a vida da cidade, do ato loteador, de quem é esperado oferecer uma qualidade de vida para um público específico. Certamente esses dois urbanismos se mostram às vezes complementares, mas revelam lógicas bem diferentes. Geralmente, as escalas de intervenção não são as mesmas e os atores envolvidos na planificação também variam. De um lado, existe um envolvimento do poder público, que se encarrega do desenho da cidade, e do outro lado um envolvimento dos investidores privados, que se focam na produção do habitar. Não se deve pensar que a questão residencial tenha sempre sido tratada de maneira utópica, entregue nas mãos de promotores privados que veem o interesse da comunidade residencial acima do interesse da coletividade da cidade. As áreas residenciais e as políticas de habitação desenvolvidas pelo poder público extremamente influente durante o período moderno mostram justamente o contrário. Frequentemente a habitação era inclusive monumentalizada (PINSON, 1997), e o lar estava integrado diretamente à vida da cidade, limitando as possibilidades de privacidade à escala da vizinhança.
A maneira com que as populações se inserem no espaço, e, por conseguinte na vida da cidade, nunca é neutra. Prova disso é o debate que se iniciou em relação ao fenômeno de fechamento residencial. A multiplicação dessas fronteiras e muros protegendo as áreas residenciais em muitas cidades é frequentemente considerada como uma violência, como uma ofensa à vida da cidade, pois as populações geralmente ricas se desolidarizam, pelo menos espacialmente, do restante do urbano, embora esse fenômeno tenha se difundido mais tarde entre habitantes mais modestos. Por isso, ao contrário da ideia corrente, esta evolução nos modos de morar das elites muito certamente reflete uma fraqueza, sobretudo sob a ótica da evolução histórica. Enquanto as elites tinham, no passado, especialmente no início do urbanismo, o poder de remodelar vastas áreas, a fim de organizar o espaço de acordo com sua conveniência e seus interesses próprios, elas parecem a partir de agora concentrar seus esforços em territórios restritos. A inserção das camadas dominantes na cidade se faria minimamente. Não se trata mais de priorizar a essência e, portanto, de definir a estrutura geral da cidade com certa autoridade, mas de direcionar o esforço sobre a forma, ou seja, mais particularmente o ambiente habitável sobre o qual ainda é possível manter o controle. Em outras palavras, por ser normal, e após uma perda da capacidade de agir em um espaço urbano democratizado, as elites teriam se dedicado a definir mais localmente o espaço suscetível a reunir seus próprios interesses. Não mais possuindo os meios de investimento ideológico, diante de uma cidade que não é mais sempre desenhada de forma a favorecê-las, estas populações teriam optado por uma forma de se retirar, qualificável como utópico.
2. Democratização e segregações
A segregação urbana evidencia claramente as relações de poder que existem na cidade, porém, não se deve estabelecer uma relação direta entre os dois. Os espaços mais discriminados não retratam necessariamente as sociedades mais desiguais. Por exemplo, pouca distância geográfica separava o mestre do escravo no ambiente urbano, embora uma relação de dominação extrema existisse entre os dois. Contudo, apesar desta proximidade, os espaços expressavam claramente a hierarquia. O simbolismo arquitetônico ou as condutas a serem adotadas em diferentes lugares da cidade sempre lembravam ao escravo sua posição de inferioridade. Então, por que o mestre teria preferido manter distância da força de trabalho servil que atendia a suas necessidades? Antes, é quando o dominador tende a perder a sua autoridade, quando ele tende a considerar a coexistência mais ameaçadora do que interessante, que uma reorganização drástica do espaço lhe parece necessária. Paradoxalmente, o recurso à violência muitas vezes é significativo de uma perda de autoridade (Arendt, 1969). Em outros termos, uma prática urbanística intencionalmente segregacionista é, geralmente, reflexo de uma certa fraqueza das elites. É evidente que elas ainda têm o poder de decidir, de trabalhar o espaço, mas sentem a necessidade de utilizar esta capacidade para imprimir no urbano uma hierarquia ao nível de um ponto de vista social.
Se a segregação espacial pode ser considerada uma consequência paradoxal da democratização das sociedades ocidentais, é indispensável refinar essa leitura, pois existem diferentes modelos segregacionistas que marcaram o urbano em diferentes períodos da história contemporânea. A democratização de uma sociedade sempre se faz em um tempo longo e compreende fases distintas. O espaço reflete isso, mostrando diferentes modos discriminatórios ao longo das etapas. Então, faz-se necessário distinguir pelo menos dois modelos de segregação, um excludente e se inscrevendo principalmente em uma prática urbanística ideológica, e o outro, exclusivo, e mais ligado a uma versão utópica do planejamento. Por exemplo, o primeiro é essencialmente baseado em dispositivos que trabalham a essência do urbano, ainda que isso signifique excluir dos centros históricos vastas populações consideradas indesejáveis, enquanto o segundo depende essencialmente de ações localizadas que garantem a certas formas, certos enclaves, a identidade populacional desejada. A fronteira entre estes dois modelos segregacionistas muitas vezes é sutil, porém a nuance é importante, pois os dispositivos excludentes supõem uma autoridade sobre a vida da cidade e sobre o poder público pelos atores envolvidos na execução desta política discriminatória de grande amplitude. Pelo contrário, a implementação de medidas exclusivas demandam apenas o controle de uma área geográfica restrita, frequentemente de natureza residencial e na qual a demografia local é homogênea. Em outros termos, é necessário diferenciar a empresa municipal que lançaria amplas obras hausmannianas, redefinindo assim a identidade social e/ou étnica sobre grandes áreas e o órgão de gestão de uma copropriedade tendo o poder de selecionar seus futuros moradores. A discriminação do espaço segue uma lógica descendente (top-down) no primeiro caso, e ascendente (bottom-up) no segundo. E, se ambas as formas segregacionistas, excludente e exclusiva, organizam o espaço urbano há muito tempo e com certa simultaneidade, deve-se, ainda, entender uma evolução histórica.
Quando nasceu a disciplina urbanística moderna, a partir da segunda metade do século XIX, a cidade parecia um objeto amplamente inadaptado ao seu tempo. A industrialização massiva e/ou o desmantelamento do sistema patriarcal, e mesmo escravista às vezes, provocaram migrações para o urbano em massa. As cidades foram confrontadas com um grande afluxo de novas populações, alterando intensamente as densidades e os contextos sociológicos locais. Consequentemente, o equilíbrio tradicional não existia mais. Diante da inadequação dos tecidos urbanos e das disfunções importantes encontradas, uma ação efetiva se tornou indispensável. Porém, o urbanismo desenvolvido neste período não se contentou em oferecer soluções técnicas aos problemas das cidades; ou, quando esse foi o caso, as escolhas realizadas mostravam uma orientação precisa. Portanto, o planejamento também provou ser um projeto de organização do espaço voltado para os interesses das camadas dominantes da sociedade, como se fosse necessário renovar a cidade depois de um processo de heterogeneização da demografia citadina. As ondas migratórias tinham, de fato, democratizado a cidade com uma nova miscigenação populacional. E as medidas urbanísticas adotadas, que ganharam legitimidade principalmente em uma emergência sanitária, ofereciam também um meio de rever as condições dessa coexistência. Assim, nas maiores cidades ocidentais, as autoridades municipais muitas vezes intervieram para que fosse instaurado um amplo aparelho segregacionista. Em nome de código sanitário, numa época em que muitos bairros apresentavam condições de vida realmente deploráveis, muitas moradias foram destruídas e seus moradores expulsos, não tendo outra escolha senão o deslocamento para subúrbios igualmente precários. As políticas de haussmannização que visavam modernizar os tecidos urbanos antigos também foram outro pretexto para que fossem desalojadas as populações mais pobres das áreas centrais.
Aliás, tais ações tinham uma conotação civilizadora: enquanto a cidade ganhava prestígio, o poder público escondia nos subúrbios a vida e as pessoas que não lhe convinha mostrar. Também, muitas vezes a difusão de regulamentos de zoneamento restringiu a ocupação das áreas centrais por populações étnica ou socialmente indesejáveis, proibindo certos tipos de moradia ou ainda atividades econômicas nas quais atuavam com sucesso algumas comunidades visadas. Enfim, as administrações de nível estatal participaram do desenvolvimento deste aparelho segregacionista institucional, conduzindo políticas de habitação altamente discriminatórias.
Após a Segunda Guerra Mundial, e em ritmos diferentes segundo os países ocidentais, este modelo segregacionista excludente e institucionalizado perdeu força. O comportamento do poder público em relação ao tema evoluiu positivamente. Mesmo ainda tendo muito a evoluir, os legisladores, as jurisdições supremas e as pressões populares têm vindo a limitar progressivamente as capacidades discriminatórias das administrações públicas. As reivindicações defendidas pelas minorias ou pelas sociedades civis e um melhor acesso aos jogos políticos locais e nacionais para populações, que anteriormente eram excluídas, modificaram o equilíbrio das forças. O urbanismo público não é mais subserviente apenas aos interesses das elites, no entanto, a segregação marca da mesma maneira o urbano atual. Mas alguma coisa mudou especialmente na distribuição do espaço. Geralmente, o modelo segregacionista de tipo excludente opunha de maneira clara e através de fronteiras nítidas grandes regiões. Muitas vezes, a identidade do núcleo se distinguia da dos subúrbios ou existia uma diferença de prestígio entre os bairros do oeste e do leste. Por inércia, este modelo geográfico mais dual continua a estruturar o espaço de várias cidades. No entanto, ele tende a desaparecer, dando lugar a um modelo de organização mais complexo, desenhado principalmente por atores privados que priorizam os territórios habitacionais. O espaço mostra, assim, com muita frequência uma face mais estilhaçada, mais fragmentada e mais dificilmente legível. Sem dúvida, isso é a morfologia de uma cidade cada vez mais amplamente elaborada segundo um modo ascendente (bottom-up)2. E provavelmente é necessário considerar essa transição, entre um primeiro modelo segregacionista excludente e um segundo de natureza exclusiva, ao menos em parte como significativa de uma evolução no equilíbrio das forças. Depois de ter perdido progressivamente sua capacidade de organizar o conjunto da cidade de acordo com os seus interesses, as elites teriam achado mais vantajoso concentrar os seus investimentos em um bairro residencial, menor e mais fácil de controlar. No final, embora não haja sempre uma vontade claramente segregacionista nas escolhas residenciais feitas por estas populações, o espaço se discrimina porque essas vão procurar o ambiente residencial que melhor corresponde a suas expectativas. Por sua vez, o mercado imobiliário de residências se segmenta, reduzindo as possibilidades de coexistência.
3. Fechamento residencial e utopia do habitar
Os conjuntos residenciais fechados mostram, finalmente, características muito próximas das cidades imaginadas pelos utopistas literários. R. Ruyer (1950) pôde justamente levantar alguns elementos constitutivos dos mundos utópicos. Tais cidades são, antes de tudo, entidades isoladas, insulares, autárquicas e frequentemente protegidas por vastas muralhas. Assim, o estrangeiro que por acaso encontrasse o caminho para acessar esse destino imaginário teria ainda que ultrapassar a muralha. Essa proteção oferecida à utopia é uma garantia contra o real, cujas derivas não poderão vir corromper a sociedade descrita, pois o mundo imaginado é geralmente uma antítese, opondo-se em diferentes pontos ao meio real. Em resposta a um caos ambiente, o autor propõe uma sociedade perfeitamente regulada, e muitas vezes este aspecto é visível no conjunto residencial fechado. Muitas são as famílias que optam por morar em um determinado lugar não somente pelo seu fechamento, mas também pela garantia de qualidade do ambiente, enquanto que o poder público nem sempre pode oferecer tais dispositivos. As cidades utópicas também são muitas vezes estritamente reguladas, revelando certo autoritarismo. O controle social é extremo, consentindo pouca liberdade à população. E mesmo que não seja assim em todos os conjuntos residenciais fechados, existe ao menos uma tendência. As condutas a adotar, os horários do cotidiano, as visitas de pessoas de fora, a posse de animais de estimação podem, por exemplo, ser submissos à regulamentação, normalmente muito menos flexíveis que nos espaços residenciais abertos. Faz-se também necessário assegurar a forma arquitetônica, paisagística e urbana iniciais, pois a degradação do aspecto original significaria a degradação do conjunto residencial e, consequentemente, a perda do status. Na utopia, a dimensão espacial é igualmente importante, pois uma falha nos cuidados faria com que a cidade perdesse a sua perfeição, levando-a uma degradação inevitável. A harmonia e a geometria do conjunto devem ser imperativamente preservadas, pois elas são símbolo do bom funcionamento da sociedade utópica. Portanto, tanto na cidade ideal quanto nos conjuntos residenciais fechados, reina o dogma da fixação. Nos dois mundos teme-se mais a desvalorização que as eventuais evoluções positivas. Na utopia, um universo ahistórico, o tempo geralmente não altera as instituições e as formas urbanas. O conjunto residencial fechado é tradicionalmente administrado por um órgão regulador que aceita mais facilmente mantê-lo no mesmo estado que modificá-lo. Para que haja mudanças, em diferentes aspectos, é necessária uma votação dos proprietários com maioria de votos, ou às vezes até com unanimidade de votos em casos mais importantes. Enfim, seja na utopia ou no conjunto residencial fechado, certa homogeneidade é em geral mantida, tanto no aspecto das edificações, pois autoriza apenas formas arquitetônicas similares, quanto, evidentemente, na população residente. O destino do conjunto é, portanto, mais fácil de prever, já que se espera satisfazer famílias e indivíduos com perfis semelhantes.
Provavelmente não é por acaso que os dois mundos, a cidade ideal e o conjunto residencial fechado, parecem formados por características similares. Nos dois casos a forma utópica se construiria em oposição à essência ideológica, e para se emancipar, a entidade criada deve responder a critérios de distinção, de integridade e de uniformidade. Sem isso, as formas desaparecem no fundo, não voltando mais a existir. Daí vem a necessidade de certo rigor na gestão, para que a identidade particular do lugar seja preservada. Aliás, outro ponto é particularmente interessante, seja na cidade ideal ou nos conjunto residencial fechado, uma ligação importante se estabelece entre as espacialidades e as instituições. Uma não pode existir sem o outro. É uma segurança para o morador saber que o seu contexto de vida é gerenciado por um órgão administrativo que defende os interesses do habitar, e não os interesses coletivos, este último podendo muitas vezes lhe ser desfavorável. E provavelmente se esclarece então uma das causas da fragmentação contemporânea do espaço urbano. A cidade passa a ser disputada por instituições que têm outras intenções, muito mais localizadas e setoriais. Sobretudo as elites, ainda que seguidas por outros extratos demográficos, foram as primeiras a perceber as vantagens em ligar seu destino, ao menos em parte, ao poder dos habitantes. A tensão entre o habitar e a cidade não existe, portanto, somente através dos muros, ou mesmo nas fronteiras geográficas que separam esses dois mundos menos fisicamente mas também no nível político. Pois os espaços dissociados dessa forma revelam órgãos administrativos diferentes.
A principal hipótese levantada neste texto convida a interpretar esta atenção nova das elites ocidentais sobre seus espaços de vida, principalmente como consequência de uma perda do poder. Tendo se democratizado, a cidade não é mais essa área que se modelava para responder a seus próprios interesses. Em revanche, muitas vezes pela proposição de investidores privados, essas populações encontraram nos produtos residenciais, fechados ou não, um suporte para a sua causa. Em outras palavras, por essa mudança estratégica pela qual elas estavam limitadas, as elites teriam passado de um modo residencial de natureza ideológica a um modo de habitar de natureza utópica.
Conclusão
A valorização contemporânea do habitar, visível principalmente no fechamento mais ou menos concreto das áreas residenciais, não é um fenômeno neutro. A definição territorial do habitat e do ambiente, e também a maneira como eles se conectam com o restante do espaço urbano, traduz uma relação complexa entre a família e a cidade. Muitas vezes foram utilizados fatores econômicos para explicar esse processo, que faz do habitar uma esfera de ação eficaz e permite defender os interesses setoriais. Neste texto, foi proposta uma outra leitura, mais baseada nas relações de força e retomando os conceitos de ideologia e de utopia, sem nenhuma pretensão de contestar a qualidade da primeira análise. As duas interpretações do fenômeno podem ser muito certamente complementares.
Os conceitos de ideologia e de utopia, deixados em segundo plano pela maioria dos pesquisadores contemporâneos, poderiam ajudar a desenvolver uma nova leitura do espaço e de sua evolução. Certamente o binômio tem o defeito de ser por demais binário, levando a uma análise às vezes um pouco caricatural, mas um potencial existe. Recentemente, a ciência deixou de lado esses dois objetos científicos por sua conotação modernista. F. Lyotard (1984) e J. Baudrillard (1994) definiram, cada um à sua maneira, a pós-modernidade como uma era em que não havia mais lugar para a ideologia e para a utopia. Mas talvez as nossas chaves de leitura do mundo que devam ser adaptadas. Frequentemente a utopia é pensada como modo forçosamente progressista, se portando contestadora de um real ou de uma essência ideológica dominados pelas elites. Com a democratização das sociedades ocidentais, é imprescindível rever essa relação, pois as relações entre dominantes e dominados mudaram muito. Por que as elites, que no passado se beneficiavam de uma capacidade de ação muito superior, não poderiam adotar modos mais utopistas em reação às decisões mais democráticas e que lhes eram simplesmente menos favoráveis?
1 A maioria dos escritores que tem se arriscado a produzir utopias literárias experimentaram vidas cheias de constrangimentos. Autores como More (1516), Campanella (1602), Bacon (1624), Harrington (1656) ou Cabet (1848) foram todos submetidos, em algum momento de seu percurso, a algum tipo de banimento/punição, que podia ser o exílio, o aprisionamento ou o isolamento forçado. Algumas vezes estes utopistas foram até mesmo condenados à morte.
2 Em certas cidades, como no Rio de Janeiro ou São Paulo, por exemplo, os empreendedores privados contribuíram muito cedo para a elaboração e expansão do espaço urbano. No fim do século XIX, esses atores muitas vezes propunham às elites um habitat que os poderes públicos, ainda pouco organizados, não tinham condições de oferecer. A cidade ainda não tinha sido construída pelas autoridades para torná-la adaptada às necessidades das camadas mais ricas. O dinamismo e a influência que os empreendedores privados progressivamente mostraram no espaço urbano desde o fim da Segunda Guerra Mundial não eram, no entanto, inexistentes nos contextos mais antigos. Algumas cidades, desde seus primórdios, têm um plano bastante estilhaçado, revelador de uma segregação mais exclusiva. É somente mais tarde, no início do século XX, que o espaço passa a ter um caráter mais excludente. É apenas de forma abrangente que se pode diferenciar modelos segregativos excludente e exclusivo, ou mesmo urbanismos ideológico e utópico.
Referências
ARENDT, H. On violence. Nova Iorque: Harcourt Brace, 1969.
BACON, F. Nova Atlantis. 1624.
BAUDRILLARD, J. The illusion of the end. Cambridge: Polity, 1994.
CABET, E. Voyage en Icarie. Paris: Bureau du Populaire, 1848.
CAMPANELLA, T. La città del sole. 1602.
DADOUN, R. L’Utopie, haut lieu d’inconscient, Zamiatine, Duchamp, Péguy. Paris: Sens & Tonka, 2000.
DONZELOT, J. La nouvelle question urbaine. Esprit, n° 11, 1999, pp.87-114.
HARRINGTON, J. The commonwealth of Oceana. London: D Pakemen, 1656.
LYOTARD, J. F. The postmodern condition: a report on knowledge. Minneapolis: University of Minnesota, 1984.
MANNHEIM, K. Ideologie und utopie. Bonn: Friedrich Cohen, 1929.
MORE, T. Utopia. 1516.
PINSON, D. La monumentalisation du logement : l’architecture des ZUP comme culture. Les Annales de la recherche architecturale, 1997, pp.51-62.
RUYER, R. L’Utopie et les utopies. Paris: Presses universitaires de France, 1950.
Ideology of the city & utopia of dwelling: the urban coexistence in paradox
Mathieu Perrin is Urban planner and Master in Town Planning, researcher at the Institut d’Urbanisme de Grenoble, France, he studies the influence of democratization of occidental societies over the relations between city and living, especially at the United States, Brazil, South Africa and France.
How to quote this text: Perrin, M., 2011. Ideology of the city & utopia of dwelling: the urban coexistence in paradox, Translated from French by Anja Pratschke, V!RUS, [online] June, 5. [online] Available at: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=4&item=4&lang=en>. [Accessed: 14 July 2025].
Abstract
It is hereby proposed to use the concepts of ideology and utopia to explain the contemporary tensions that may exist between the scale of the city and that of dwelling. Such a reading leads to rethink the issue of balance of power and the manner it influences the morphology or even the segregating patterns within Western cities.
Keywords: ideology/utopia, dwelling/city, residential enclosure, segregation, democratization.
Introduction
Ascertainments
of
a fragmentation at the heart of the contemporary urban environment
are increasingly numerous. The city struggles to constitute a society
(Donzelot, 1999). There is no longer this binder which once made of
the urban area a set of relatively interlinked spaces. Since then,
many areas have emancipated themselves, resulting in a
diversification of destinations. Urban geography then relates some
complexity, particularly in the residential scale. The home no longer
offers only a life situation. It became a target of sectoral
interests. In other words, it turns itself into a vector of a
relationship, highly political, with the rest of the city. Such a
development may seem surprising or even anachronistic since most
Western societies tend to show today a more democratic face. More and
more people are taking part in the practice of citizenship. And at
least in the political status a greater equality seems to be
respected. However, this dynamic is not much translated into the
space. It would even be rather the opposite. The phenomenon of
openness in political and social fields is offset by increasingly
strict closure of spaces in Western settlements. The extent of public
domain is gradually restricted and the prohibitions to access to
places multiply, where formerly citizens circulated freely.
The diffusion of gated communities seems to indicate a radicalization in this process of closure of urban space, as they confiscate surfaces of the open city. However, some intermediate settings, less visible, had already started this trend. For example, long ago, the allotments have been reducing the public sphere area of influence, directing the fate of internal spaces under the control of a private administration, dedicated to a highly localized cause. Thus, security concerns may certainly explain the raising of walls, but generally more immaterial borders surrounded already residential neighborhoods of the elite in the late 19th century. Even today, many residents of gated communities say they were especially attracted by the living environment, the services and equipment quality, the neighborhood sociability, or by the efficiency of the excellent internal management, rather than by the safety devices.
The main goal is then twofold. To identify the reason for this contemporary valorization of living, which had begun even before the physical closure of residential areas, and to grasp the mechanism which allows to explain the intense segregation processes in Western societies, which have been yet largely democratized. This text will propose an answer to these two questions based on the concepts of ideology and utopia. They seem well suited to understand the contemporary tensions that exist between the city and the living, between a more open universe and a more private world.
1. Urbanisms: ideology and utopia
Initially, the terms ideology and utopia had a distinct history. It was only in the early 20th century that the German sociologist K. Mannheim (1929) associated them to understand two antagonic ways of thinking. Utopia is the process used by those who are in lack of power, who have not the ability to act on the real. It is not by chance that utopia emerges first as a literary style, because usually the ideal world described by the authors is not free of ulterior motives. Between the lines, it is often perceived a condemnation of the real society, which is considered faulty and unfair. The criticism appears more or less covert, depending on the writer's freedom of expression, but is usually expressed with some caution, because the real is threatening1. Thus, the author distances him very early from the society in which he lives, describing a world without defined time and space. The presumed etymology of the term "utopia" would be revealing. The creator of the neologism, Thomas More (1516), would have added the prefix "u" to a form derived from the Greek topos, meaning place. Not geographically locate was indeed described the island idealized by the English intellectual. This distancing through abstraction guarantees the especially fabricated world not to be tainted by the misdeeds striking the real. But again, it's also a way for the writer to escape a repressive daily life. Utopia is thus not a simple image, or a simply invention of the mind, but more widely a way of thinking which tends to develop in people suffering from not being able to act and effectively transform the society. Probably, we should even find the origin of this mental process in the unconscious. (Dadoun, 2000) Conversely, K. Mannheim uses the concept of ideology to describe this mode of thinking that fits directly into the real and the history. There is no longer talking about avoidance or distancing, as the battle may be conducted within society, in politics or the media sphere, for example. It exists the place and even hope for those interventions having a weight on the future. The ideologue thus enjoys a freedom and power that no utopian knows. The former can work in the background, swarming his ideas openly in public debate, while the latter should be confined to the form, mutedly drawing a world of the unreal.
This dialectic opposing ideology and utopia has a definitive potential, susceptible to enrich the analysis of the contemporary urban. Are there not more integrated ways of investing in the city, working the urban substance? There does not exist, conversely, more detached modes of investment, modeling particularly localized forms? So no doubt we should design two urbanisms, one ideological and other utopian. For example, the spirit of the Haussmannian manager's gesture, which transformed radically and massively the central tissues and life of the city, differs widely from the developing act, intended to provide a framework for housing of quality for a specific clientele. Admittedly, these two urbanisms are sometimes complementary, but they reveal very different logics. Scales of intervention are generally not the same and the involved players in the planning work also vary. On one side there is a more general involvement of public authorities taking care to design the town, and on the other side an investment from private developers, focusing on the factory of the inhabited world. And we should not believe that the residential issue has always been treated in an utopian way, left to private developers seeking more interest in the neighborhood rather than the urban community. Residential areas and housing policies developed during the modern period, by a government extremely influential, show especially the opposite. Housing was even frequently monumentalized (Pinson, 1997). The home was therefore quite directly integrated into the life of the city, limiting opportunities for privacy throughout the neighborhood.
The way the population inscribes itself into space is absolutely not neutral, and consequently also into the life of the city. The proof is the debate that began with the phenomenon of residential enclosure. The multiplication of these barriers and walls, coming to protect residential areas in many cities, is fairly regularly considered as violence, as an offense done to the life of the city. The reason is that generally affluent populations distance themselves, at least spatially, from the rest of the city, although the phenomenon is then distributed to more modest residents. However, and contrary to the original idea, this evolution in the elite ways of living likely reflects a weakness, especially in the light of the historical evolution. While elites have historically been able to reshape large areas to organize space according to their convenience and their own interests at the beginning of urbanism in particular, here now they appear concentrating their efforts on restricted areas. The influence of the dominant strata on the city would be at minimum. There is no more question of working the urban fundaments, and thus to decide the overall structure of the city with a certain authority, but to increase the effort on the form, that is to say, especially on the living environment on which it is still possible to keep a grip. In other words, it is by default, and after a capability loss to act on a democratized urbanity, that the elites attach themselves to define more locally the space which is likely to wear their own interests. Lacking the means of ideological investment, and facing a city no longer always drawn to their advantage, these populations would have opted for a form of resident withdrawal, qualified as utopian.
2. Democratization and segregation
Urban segregation reveals largely the balances of power existing in the city. But it should not be established a direct relationship between the two of them. The most discriminated areas are not necessarily illustrative of the most unequal societies. For example, little geographic distance was separating the master from the slave in the urban environment, whereas an extreme dominant relationship existed between these two figures. However, despite this contiguity, spaces clearly expressed the hierarchy. The architectural symbolic or the conduct to be adopted in different places of the city reminded constantly the slave of his inferior status. Why then the master would want to hold off a labor force at distance, knowing his servility and meeting his needs? Rather, when the dominant tends to lose its authority, when he tends to regard the coexistence as threatening more then as interesting, a drastic reorganization of space seems necessary to him. Paradoxically, the use of violence is often significant for a loss of authority (Arendt, 1969). In other words, voluntarily segregated planning practice is generally indicative of some weakness among elites. They certainly have the power to decide yet, to explore the space, but they feel the need to use this capability to print a hierarchy on the city, challenged at the social level.
If the spatial segregation can be a paradoxical consequence of the democratization of Western societies, without doubt we should further refine the reading. Because different segregationist models exist, influencing the urban at rather different periods of history. The democratization of a society is done at a long period of time, and includes distinct phases. The space reflects this, not discriminating itself in the same manner according its stages. It is then necessary to distinguish at least two segregative models, one excluding and enrolling in a mainly ideological planning practice, and the other exclusive and more consistent with an utopian version of planning. The first one is essentially based on operating devices in the urban background, ready for example to exclude undesirable large populations from the historic centers, while the latter depends primarily on local actions taking place, guaranteeing to certain forms and certain enclaves a populational desired identity. The boundary between these two segregative models is sometimes subtle, but the nuance is important. Because the exclusionary devices assume an authority over the life of the city and the public power through the actors, who engage broadly in this discriminatory policy. Whereas the exclusive measures are only asking for control over a small area, often residential in nature, and in which its local demographic becomes homogeneous. In other words, it is necessary to differentiate the municipal enterprise, which would launch large Haussmannian interventions, and by this way redefining social and / or ethnic identity on a large scale, and the management office of a co-ownership being able to select its future residents. The discrimination of space is done following a downward logic (top-down) in the first case, and upward (bottom-up) in the second one. And if both segregative forms, exclusionary and exclusive, organize the urban space for a very long time and with some concurrency, we must nevertheless identify a historical evolution.
When the modern urbanistic discipline is born from the second half of the 19th century, the city appeared as an object largely unsuitable to its time. The massive industrialization and / or the disintegration of the patriarchal system, sometimes even enslaver, led to migration of large numbers to the city. Cities were being thus faced with a massive influx of new populations, changing broadly local densities and sociologies. The traditional balance was therefore no more. Faced with the inadequacy of urban patterns and major dysfunctions, a strong intervention was indispensable. But then developed urbanism was not satisfied to offer only technical solutions to the cities' problems. Or if that was the case, the realized choices nevertheless showed certain guidance. Planning therefore also proved to be a business of space organisation for the benefit of the society's dominant strata. As if it became necessary to redesign the city after the heterogenization of the urban demography. The waves of migration have actually democratized the city, as having entered into its heart a new populational diversity. The adopted urban measures, which found their legitimacy in particular in a sanitary emergency, also provided the means to review the conditions of such a coexistence. Thus, in the largest Western cities, municipal authorities have often worked to set up a huge segregative apparatus. On behalf of hygienist regulations, when many neighborhoods at that time had indeed deplorable living conditions, many homes were destroyed and their residents were expelled, these latter having no other choice but to join equally precarious suburbs. The haussmannisation policies, aiming at modernizing old urban tissues, also provided a pretext for dislodging the poorest population from central areas. Such actions were often conceived as civilizing enterprises: while the city grew in cachet, the public power was hiding in the peripheries this and those that should no longer be shown. Thus, the diffusion of zonal regulations has often restricted the occupation of the central areas by ethnically or socially undesirable population by prohibiting certain types of residential settlements or economic activities in which the targeted communities excelled. Finally, the state-level administrations have participated in the development of this segregative institutional apparatus by conducting highly discriminatory housing policies.
Only after the Second World War, and at different rates depending on the different western countries, this institutionalized, segregative excluding model lost force. The public power behavior in this domain has been moving rather positively. Certainly much would remain to be said, but legislators, supreme courts or simply popular pressures have gradually limited the discriminatory capacity of public administrations. The claims made by minorities, civil society and the opening of local and national political issues to previously excluded populations have changed the balance of power. The public urbanism is no longer subservient only to elitist interests. Nevertheless, segregation marks today's urban just as much. But something has changed, particularly in the distribution of space. Generally, the segregative excluding model clearly opposed major regions through sharp boundaries. The identity of the center often distinguished itself from that of the suburbs, or the standard between the west and east neighborhoods has varied. Through inertia, this geographical rather duel model continues to organize many cities. However, it tends to disappear, making way to a more complex organization model, designed largely by private actors, as the spotlight of the residents territories. The space then often shows a more exploded face, more fragmented and more difficult to read. Without doubt this is the morphology of a city being more and more widely developed on an ascending mode (bottom-up)2. And probably this transition should be considered between a first segregative excluding model and a second one, of an exclusive nature, at least in part significant of an evolution in the balance of power. After having gradually lost their ability to organize the whole agglomeration according to their interests, the elites would have found it advantageous to concentrate their investments in a residential setting over which they have a wider control. In the end, and although there is not always a directly segregative will in the residential choices made by these population, the space is discriminated, as they look for the residential setting simply best matching their expectations. The residential market is then segmented, reducing the possibilities of coexistence.
3. Residential closure and resident utopia
The gated communities show finally close characteristics to the cities imagined by utopian writers. R. Ruyer (1950) had been able to identify a number of elements constitutive of utopian worlds. Such cities are first of all isolated entities, island-like, autocratic, and often protected by large ramparts. Thus, a foreign who, by pure chance would encounter the path to access this imaginary destination would yet need to cross the walls. The protection offered to the utopia is a guarantee against the real. The drifts of this latter could not come to corrupt the described society, because the imagined world is very often an antithesis, opposing itself in many points to the real environment. In response to an ambient chaos, the author offers a perfectly regulated society. Quite often this aspect is also visible in the gated community. Many are the families choosing to live in such a place not only for its closure, but also for ensuring a good quality residential setting, whereas public authorities are not always able to provide such provisions. Also the utopian cities are very often strictly regulated, revealing a certain authoritarianism. Social control is extreme, leaving little freedom to the population. If this element is not necessarily true for all gated communities, however a trend does exist. The behavior to adopt, the living timetable, the outsiders visits, the possessions of pets may be examples subject to regulation. And that, generally, in a much more inflexible form than in open residential spaces. Also the initial architectural, landscaped and urban form has to be secured, because a degradation of its original appearance would indicate a certain decline of the residential complex and a loss of standing. In utopia, the spatial dimension is also important, as maintenance failure would cause the city's loss of perfection, resulting in an inevitable degeneration. The harmony and geometry of the whole must be preserved at all costs because they are symbolic of the good functioning of the utopian society. So, a dogma of fixity reigns in this ideal city as well as in the gated community. In these two worlds, degradations are more feared than potential beneficial changes are expected. In utopia, an ahistorical universe, time generally does not hold on institutions and on urban form. The gated community is traditionally managed by a regulatory body more inclined to maintenance of the current then to modification. At many points, to change things, the vote of a qualified majority of owners is required, or even unanimity is needed when the topic is crucial. Finally, whatsoever it is in the utopia or in the gated neighborhood, a certain homogeneity is usually maintained. This can be found for example in the architectural formal solutions, since sometimes only similar architectural forms are allowed, or of course in the resident population. The destiny of the whole is easier to contemplate as supposed to satisfy families and individuals with similar profiles.
It is probably no coincidence that these two worlds, the ideal city and the gated community, appear shaped by similar characteristics. In both cases, it is about a utopian form being constructed in opposition to an ideological background. And in order to emancipate itself, the created entity has to answer to criteria of distinction, of integrity and of consistency. Otherwise, any form disappears into the background, being no longer able to exist. Hence the need for a certain management accuracy, preserving the location particular identity. Moreover, another point is particularly interesting. Whether in the ideal city or in the gated neighborhood an important link between spatiality and institutions is established. One cannot exist without the other. This is a security for the residents to know that their surrounding is managed by an administrative body defending the inhabitant interest and not the collective one, since this latter may be often disadvantageous to him. It is guessed here one of the probable causes of the contemporary urban space fragmentation. The city finds itself in competition with institutions having a quite different sight, much more localized and sectorial. Especially the elites, although then followed by other demographic strata, were the first to have seized the advantage to relate their destiny at least partially to the inhabitants power. The tension between dwelling and the city exists not only through walls, or even in geographical borders separating these two less physically worlds, but also on a political level, because these spaces uncoupled that way reveal different administrative bodies.
The major assumption offered in these writings invites to interpret this new interest carried by Western elites in relation to their residential surroundings, in particular as the consequence of some loss of power. Having democratized itself, the city is no longer the field that once was modeled to meet their interests. In contrast, very often on a private developers' proposal, these populations have found in the residential products, closed or not, a support to their cause. In other words, by this strategic change to which they were forced, the elites have slipped from a residential mode of ideological nature to a living mode of utopian spirit.
Conclusion
The contemporary valorization of dwelling, which is visible especially in the more or less concrete closing of residential areas, is not a neutral phenomenon. The territorial definition of lodging and of the life environment, as well as the manner in which they cling to the rest of the city, reveal a complex relationship between the household and the city. Very broadly, the economic factors were used to explain the process of making the dwelling a sphere of effective action, allowing the defense of more sectorial interests. A different reading was proposed in this text, more focused on the balances of power and retaking the concepts of ideology and utopia. There is no intention of challenging the quality of early analysis. The two phenomenon interpretations can certainly be complementary.
The concepts of ideology and utopia, neglected by a large majority of contemporary scholars, could help for a new understanding of space and its evolutions. Certainly, the pair has the defect of being too binary, leading to an analysis sometimes rather caricatured, but a potential exists. Science probably did recently set aside these two scientific objects because of their modernist connotation. F. Lyotard (1984) and J. Baudrillard (1994), each in his own way, have respectively defined postmodernity as an era in which there was not anymore place for ideology and utopia. But maybe this is more of our grids for reading the world that need to be adapted. Very often, utopia is conceived as a necessarily progressive way, making itself a challenge of the real or of an ideological background, dominated by elites. Without doubt, with the democratization of Western societies, this relationship needs to be reviewed, because dominant and dominated relations have changed considerably. Why the elites, who once enjoyed a much greater capacity of action, could not adopt a more utopian attitude, in response to more democratic decisions that are less favorable to them?
1 The majority of writers having tried the litterary utopia had were extremely difficult lives. Authors, such as More, Harrington, Bacon, Campanella or Cabet, all experienced at one time or another an isolation during their journey. This could be exile, imprisonment or isolation, and sometimes even a sentence to death which haunted these utopians.
2 In some cities such as Rio de Janeiro or Sao Paulo for example, very early, private developers have contributed to the development and expansion of the urban. In the late 19th century, these actors often proposed to the elites a living environment that public authorities, then too poorly organized, were not able to offer. The city had not yet been shaped by the authorities to make it suitable to the needs of the more affluent strata. The dynamism and influence shown gradually by private developers in the city since the end of the Second World War, were thus not non-existent in earlier contexts. Some cities, since their beginning, show therefore a very fragmented occupation, indicative of a more exclusive segregation. Only in the early 20th century, space was worked with a more exclusory model. It is only in its outlines that excluding and exclusive segregated models, or even ideological and utopian urbanism can be differentiated.
References
Arendt, H., 1969. On violence. New York: Harcourt Brace.
Bacon, F., 1624. Nova Atlantis.
Baudrillard, J., 1994. The illusion of the end. Cambridge: Polity.
Cabet, E., 1848. Voyage en Icarie. Paris: Bureau du Populaire.
Campanella, T., 1602. La città del sole.
Dadoun, R., 2000. L’utopie, haut lieu d’inconscient, Zamiatine, Duchamp, Péguy. Paris: Sens & Tonka.
Donzelot, J., 1999. La nouvelle question urbaine, Esprit, n° 11, pp.87-114.
Harrington, J., 1656. The commonwealth of Oceana. London: D Pakemen.
Lyotard, J. F., 1984. The postmodern condition: a report on knowledge. Minneapolis: University of Minnesota.
Mannheim, K., 1929. Ideologie und utopie. Bonn: Friedrich Cohen.
More, T., 1516. Utopia.
Pinson, D., 1997. La monumentalisation du logement : l’architecture des ZUP comme culture, Les Annales de la recherche architecturale, pp.51-62.
Ruyer, R., 1950. L’utopie et les utopies. Paris: Presses universitaires de France.